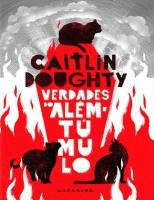Saudades Do Carnaval
249 106 8MB
Portuguese Pages [287] Year 1972
Polecaj historie
Citation preview
SAUDADES DO CARNAVAL JOSÉ GUILHERME MERQUIOR
FORENSE
FORENSE
JOSÉ GUILHERME MERQUIOR Nasceu em 1941, no Rio de Janeiro, onde se licenciou em Filosofia e se diplomou em Direito (Universidade do Estado da Guanabara), ingressando na carreira diplomática em 1963. Como crítico literário, assinou a seção de crítica de poesia do Suplemento Dominical do Jornal do Brasil (1960/62), colaborou assiduamente nas revistas Praxis, Senhor, fa d e m o s Brasileiros e Arquitetura e proferiu numerosas conferências sôbre estética e literatura na universidade, no rádio e na televisão, de 1962 a 1966. De 1966 a 1970, foi aluno titular do seminário interdisciplinar de antropologia do Collège de France e da École Pratique des Hautes Études, dirigido por Claude Léui-Strauss,
PU B LIC O U :
R A Z Ã O D O P O E IR A (ensaios de crítica e de estética), ed. Civilização Brasileira, Rio, 1965. A R T E E S O C IE D A D E E M M A R C U S E , A D O R N O E B E N J A M IN (ensaio crítico sôbre a escola neohegeliana de Frankfurt), ed. Tempo Brasileiro, Rio, 1969. A A S T Ú C IA D A M IM E S E (ensaios sôbre lírica), Livra ria José Olímpio Editora, Rio, 1972.
INTRODUÇÃO À CRISE DA CULTURA de JO SÉ G U I L H E R M E M E R Q U IO R
“Crise de civilização” nos tem pos modernos já é uma fórmula venerável; não é de hoje que os pensadores e intelectuais de cam pos e horizontes diversos a pro clamam e interpretam. O Brasil não escapou a essa onda de legí tima inquietação ante o destino da cultura e dos valores em conflito. Desde o movimento modernista, a inteligência nacional tem procura do responder à crise da civiliza ção; a obra de alguns dos nossos maiores ensaístas dos últimos de cénios, como Alceu Amoroso Li ma, está colocada sob o signo dêsse tema. Saudades do Carnaval, de José Guilherme Merquior, não preten de oferecer uma contribuição ori ginal a êsse debate decisivo: pre tende apenas atualizar a sua mol dura conceituai, introduzindo na discussão os resultados de algumas interpretações pioneiras em filo sofia e ciências humanas: as in terrogações já clássicas de Tocqueville, Nietzsche e Freud, de Max W eber, Ernst Troeltsch ou Hans Freyer, e as pesquisas, afir
SAUDADES DO CARNAVAL IN TR O D U Ç Ã O
Tis. 221-1784 - 221-1756
CARNAVAL
AíRaBraro. 185, U10-Cenío.fi, W.I211S3MM6
Livraria Editora
DO
madas nos anos 60, de Claude Lévi-Strauss e Michel Foucault, Júrgen Habermas ou Alexander Mitscherlich. O interêsse do livro, na sua qualidade de introdução à crise da cultura, reside em sub meter o problema da civilização e dos valores ao potencial iluminatório do conjunto dessas reflexões críticas. A maioria delas perma nece inexplorada pelo pensamento brasileiro no país do sonho. A mais bela flor dêsse lirismo evasionista seria a arte de Giorgione. Pensando nela, o décadent W alter Pater te cerá, 13 anos depois do livro de Burckhardt, um conceito hedonístico e esteticista da Renascença, verdadeira antítese da imagem fáustica de Michelet. Outra linha de problematização da imagem burckhardtiana da Renascença é a questão da originalidade desta últi ma. Quando se contempla — sem perder de vista a peculia ridade da posição italiana — o aspecto europeu do Renasci mento, logo ressaltam as origens medievais de algumas das suas características mais pronunciadas. O naturalismo indivi-
16
SAUDADES DO CARNAVAL
dualizante da arte renascentista é o apanágio da escultura gó tica; o convívio com as letras clássicas foi praticado intensa mente pela intelligentsia medieval — embora muito mais no Norte do que na Itália — desde a época de Carlos Magno. Em têrmos de expansão, mobilidade, ardor construtivo e racionalizante, a Europa conheceu mais de uma renascença an te litteram: a carolíngia, a “renascença do século X II” (Ch. H. Haskins), o renascimento do ducado da Borgonha... Legitimamente empenhados em destruir a calúnia de Petrarca, Vasari, Voltaire e Gibbon sôbre as “trevas” da Idade Média, os medievalistas desacreditaram com sucesso a noção de uma Renascença como aurora absoluta. Desde 1885, H. Thode atribuíra a maior parte das realizações renascimentais ao in fluxo do franciscanismo, ou seja, do gótico; e K. Burdach tentou reduzir o humanismo a um movimento místico - - às místicas, tanto individuais quanto nacionais, da “renascença da alma”. Em certo instante, completou-se a inversão do burckhardtianismo: chegou-se a ver no naturalismo (ou na sua expressão filosófica, o averroísmo) algo essencialmente me dieval; e no humanismo renascentista, uma ortodoxia cristã dedicada a combatê-lo. Tal foi a interpretação de G. Toffanin. Atualmente, ninguém mais se aventura a apresentar uma Renascença miraculosamente autogerada, sem nenhum antecedente medieval. Contudo, a demolição do mito “mila gre renascentista" terminou pondo em perigo a própria iden tidade histórica da Renascença; o bebê quase foi jogado fo ra com a água do b an h o .. . Diante de tantos renascimen tos, pràticamente se passou a duvidar da ocorrência do Re nascimento. Semelhantes excessos não podiam deixar de pro vocar uma reação crítica. Daí a tendência moderna a mati zar e qualificar as concepções extremistas do gênero das de Thode ou Toffanin. As retificações mais convincentes foca lizaram o próprio conceito-chave dêste último autor: o de humanismo. P. O. Kristeller mostrou que o humanismo re nascentista, pelo menos na sua origem italiana, não era um movimento “religioso” ou "filosófico” dotado de qualquer doutrina específica além da crença no valor do homem, do estudo do homem, e da cultura clássica »—• e sim um movi
FORMAÇÃO DA PAIDÉIA HUMANISTA
17
mento retórico-literário, um nôvo programa pedagógico, nem oposto, nem idêntico ao ensino curricular da universidade me dieval. Os primeiros humanistas foram liteiati que, valen do-se dos modelos clássicos, ensinavam a arte de bem falar e bem escrever na escola secundária (que não tardaram a mo nopolizar) e no que seria hoje o departamento de letras da universidade; e na sua condição de secretários das chan celarias principescas ou republicanas, empregavam essa mes ma retórica na oratória, na correspondência e na historio grafia de teor civico, político ou diplomático. O têrmo “humanismo” foi cunhado em 1808, pelo peda gogo alemão F. J. Niethammer, para defender a ênfase dada aos clássicos grego-romanos na educação secundária dos ata ques dos partidários de ginásios científico-pragmáticos; mas “humanismo” foi criado a partir de “humanista”, palavra largamente usada entre os séculos X V I e X V III para de signar o mestre ou aluno de “humanidades”, — dos studia humanitatis de Cícero e Aulo Gélio, que consistiam no câ non clássico da educação “liberal” ou literária, dominada pela retórica. Logo, a didática humanista estava longe de abran ger todos os ramos da educação ministrada durante a Renas cença — o que já nos adverte contra a inclinação a confun dir o saber da época, em tôda a sua extensão, com um su posto “humanismo” enciclopédico. A única disciplina filosó fica incluída no currículo humanista era a moral. O C O N C E IT O D E H U M A N IS M O Kristeller é o mais ilustre dos "renascimentólogos” que, rompendo com as identificações apressadas da Renascença com o humanismo, e dêste com determinados filões ideológi cos, realizaram, por assim dizer, uma volta à concepção “filo lógica” do humanismo, reaproximando-se da visão que os próprios humanistas tinham de si e da sua atividade. Apro veitando as contribuições positivas dos medievalistas sôbre as fontes pré-renascimentais de numerosos elementos da vida in telectual da Renascença, suas pesquisas visam a restabelecer ‘— sem recair na ingénua apologia do “milagre do Renasci mento” ■ — o caráter sui generis do humanismo europeu (ori— j. g . m . —
2
18
SAUDADES DO CARNAVAL
ginàriamente italiano), entre 1350 e 1520: do tempo de Petrarca ao de Erasmo. Encarado como uma renovação dos estudos retóricos e filológicos inspirada nas letras clássicas, o humanismo deixa transparecer muito melhor suas relações com o pensamento filosófico da Renasença. Durante muitos anos se perorou so bre o “antiescolasticismo” dos humanistas e sôbre as diatri bes de Petrarca, Valia, Erasmo, Vives etc., contra a escolás tica; mas a verdade é que, na maioria, as criticas humanistas ao saber medieval não passam de acusações profundamente literárias: condenações do mau latim dos escolásticos e da sua ignorância da literatura antiga. Não sendo filósofos e sim re tóricos, os humanistas não atacavam o conteúdo do ensino es colástico .—• para o qual não ofereciam nenhuma alternativa; êsse tipo de rejeição só ocorreu bem mais tarde, quando, no limiar da Idade Moderna, Galileu repudiou a filosofia aristotélica da natureza em nome da fisicomatemática. Às vêzes, in clusive, as críticas dirigidas contra a tradição escolástica eram simples episódios da tradicional disputa delle arti, isto é, do ruidoso prélio das faculdades em que se deleitava o magisté rio medieval. È claro, porém, que a convivência da retórica humanista com a filosofia não se limitou a essa indiferença, ou a êsse atrito secundário. O humanismo possuía pelo menos uma preocupação genuinamente filosófica, continuamente avivada pelas cátedras de moral: a discussão do propósito da vida humana e do lugar do homem no universo. Como os seus que ridos antigos, os humanistas acreditavam que as "humanida des” eram o equipamento intelectual digno do homem bem formado, do ser humano capaz de auto-realização; e êsse pressuposto já indica que o cultivo das humanidades era na turalmente acompanhado pelo culto do homem. A exemplo do luminoso conceito de humanitas, que flo rescera em Roma no círculo de Cipião Emiliano, o nôvo culto do homem enaltecia, a um só tempo, a posição central do bí pede sem plumas no cosmos e um ideal cosmopolita de soli dariedade e comunhão. Contudo — e muito significativamen te ■— o tema humanista da dignitas hominis só recebeu um tratamento filosófico superior nas mãos dos que — como Fi-
FORMAÇÃO DA PAIDÉIA HUMANISTA
19
cino e Pico — haviam adquirido uma formação escolástica e, portanto, reuniam as vantagens da educação humanística à musculatura dialética dada pela universidade tradicional. Pi co, o discípulo de Ficino, o “príncipe dos humanistas florentinos", que levaria o panegírico do homem ao seu ápice, des ligando o anthropos de tôda a hierarquia do cosmos, e conferindo-lhe o controle absoluto sôbre a sua própria natureza; Pico, em cuja Oratio de dignitate hominis se cristaliza o mo tivo da transcendência do homem em relação ao mundo, leitmotiv da antropolatria humanística, chegou a defender os es colásticos das censuras de Ermolao Barbaro, alegando — de maneira bem pouco humanística -— que o conteúdo filosófico é mais importante do que a elegância da forma literária. A antropolatria humanista inspirou decisivamente a obra de filósofos doublés de humanistas (ex.: Ficino), ou até mes mo de formação puramente escolástica (ex.: Pomponazzi). Às vezes, a ponto de forçá-los a modificar substancialmente suas posições doutrinárias: assim o neoplatônico Ficino al terou sua metafísica plotiniana com a posição central que re servou à alma humana, enquanto o “averroísta” Pomponazzi torceu a ética aristotélica, entronização da vida contemplativa, para exaltar a dignidade do homem na prática da virtude, cujo prémio reside em si mesma. A fé humanística instigou a renovação das velhas “religiões” filosóficas. Mas, inversâmente, o humanismo só alcançou articulação filosófica mais elevada quando o aparato conceituai e dialético da especula ção escolástica foi colocado à sua disposição. A maior esta tura filosófica dos humanistas do século XVI é ela própria, em parte, o resultado dêsse cruzamento de técnicas e inspi rações intelectuais. Em si, porém, o humanismo não tinha especificações ideológicas. Mesmo na filosofia moral, a indefinição — res salvado o elogio do homem -— foi a norma; o que explica a sua compatibilidade com visões-do-mundo distintas e até an tagónicas. Por isso é que os adeptos de um humanismo dou trinário não deixam de ter razão, desde os “neoburckhardtianos” (E. Garin, H. Baron), valorizadores do humanismo cí vico de Bruni, aos que (como A. Chastel) preferem destacar a orientação mística da Theologia Platónica de Ficino ou.
20
SAUDADES DO CARNAVAL
ainda, o irenismo utopista de Morus e Erasmo: pois cada uma dessas interpretações do humanismo corresponde, efetivamen te, a uma fase, ou a uma ramificação, da grande aliança en tre o culto do humano e a paixão pelos clássicos com as vá rias “seitas” filosóficas da tradição grego-romana e medieval: a platónica, a aristotélica, a epicurista, a estoica, a cética, a neoplatônica etc. De Lorenzo Valia a Montaigne e Justus Lipsius, filologia humanística e filosofia clássica produziram numerosas sínteses; algumas, de rara densidade especulativa e de ampla influência cultural. P E N S A M E N T O H U M A N IS T A E P E N S A M E N T O MODERNO Dessa forma, o humanismo, sem ser prática disciplinar mente filosófica, acabou suscitando uma nova química da re flexão ética e metafísica. A rigor, porém, não deveríamos dizer “química” que é uma ciência exata ■ — e sim "alquimia”. O que existe de comum entre o humanismo em seu conjunto e a fi losofia do Renascimento é, essencialmente, menos um credo ideológico do que uma episteme .— um substrato epistemológico, um habitus cognitivo simultâneamente atuante em todos os campos do saber. Dilthey afirmou certa vez que a Renas cença “pensava naturalmente por imagens”; mas essa consubstancialidade entre pensamento e imagem é uma modali dade de conhecimento, um tipo de “visualização" cognitiva, bàsicamente estranha ao modêlo epistemológico instaurado pelo pensamento moderno, filho de Galileu e de Descartes, e que se apóia no ideal de uma denotação exata e pura, isenta de tôda aura imagée, de todo apêlo, no desdobramento do conhecer, a essas imprecisas conotações que são as “imagens”. Usando a classificação das epistemes esboçadas por Heidegger e elaborada por M. Foucault, poderíamos afirmar que, em contraste com o paradigma galileu-cartesiano da repre sentação exata, o substrato cognitivo da Renascença é regido pelo princípio, bem mais flutuante e maleável, da semelhan ça. O pensamento renascentista exercitava o faro para o ana lógico: a razão idealista buscará a certeza do exato; um se
FORMAÇÃO DA PAIDÉIA HUMANISTA
21
valia da fantasia (mesmo “exata", como em Leonardo) onde a outra recorrerá à circunspecção sem falhas do método cons trutivo. Ora, a episteme da representação, o império do método, expulsam a retórica do terreno do conhecimento. Para Des cartes, a base do verdadeiro conhecer é a representação cla ra, distinta e evidente. O provável não é evidente; logo, não pode aspirar à qualidade de conhecimento. Com êsse modêlo, entretanto, o Descartes das Regulae e do Discours de la Méthode arquivara outra concepção do conhecer: a aristotélica. Assim como seu "parceiro” na fundação inteletual da Idade Moderna, Galileu, suprimira a física peripatética, Des cartes consagrou o cancelamento de uma modalidade cogni tiva teorizada por Aristóteles — a tópica, ou “razão dialéti ca". Nos Tópica e nos Analytica Posteriora, Aristóteles dis tinguira o raciocinio demonstrativo do dialético. Segundo êlè, o primeiro parte de verdades conhecidas por intuição, e suas conclusões são necessàriamente verdadeiras. O raciocínio dia lético, ao contrário, se desenvolve a partir de premissas pro váveis, e só chega a conclusões igualmente prováveis. À razão demonstrativa opera na matemática; a razão dialética, na ad vocacia, no debate político, no diálogo filosófico e na exegese de textos. N a Idade Média, ela foi também o instrumento da forma predileta da disquisição filosófica: a quaestio escolás tica. A razão dialética requer um engenho particular: a arte de achar argumentos, ou tópica, por alusão aos lugares (fopoi) onde os argumentos devem ser encontrados. Essa des coberta (inventio) de argumentos segundo “a matéria pró pria de cada ciência” (Bacon) nada tem a ver com as virtu des do método cartesiano. A tópica se move na esfera do provável; não é — à diferença do método —< homogêneamentc aplicável; e, finalmente, é um raciocínio socialmente condi cionado, ou seja, despido da evidência constritiva da ratio demonstrativa, e logo, dependente, a cada passo, do consen so mínimo dos interlocutores sôbre o contexto das suas afir mações, ao contrário das proposições do saber cartesiano, cuja evidência universalizante prescinde, a rigor, de qualquer placet do espírito. Enquanto a retórica, utilizadora da tópica,
22
SAUDADES DO CARNAVAL
sempre foi concebida como arte de persuadir |ÉÍ e, portanto, admite que os destinatários dos seus argumentos dispõem de uma margem de decisão para render-se ou não ao que lhes é proposto, a ciência cartesiana, domínio da certeza imediata e imperativa, é incompatível com qualquer processo de aceita ção “negociada” do raciocínio (essa inerência do "diálogo” à razão sociológica é precisamente o que vêm sublinhando — contra o neopositivismo sociológico -ás os estudos de J. Habermas sôbre a lógica das ciências sociais). Aristóteles tratou da tópica tanto nos supracitados livros do Órganon quanto na Retórica; desde então, ficou selada a solidariedade — que, sob o regime da razão cartesiana, somente Vico tentou, em vão, reabilitar — da retórica e a socio-lógica do provável com o discurso das “humanidades”, de que a filosofia e as ciências humanas não submetidas ao cânon positivista são os descendentes atuais. A explícita revogação do estatuto científico da tópica e da episteme “analógica” na Idade Moderna ilumina melhor do que tudo o parentesco espiritual da Renascença com o bloco Antiguidade-Idade Média, e alarga a distância que existe entre o Renascimento — por mais que se pondere o seu aspecto de época de transição (W . Ferguson) — e os tempos modernos. Uma das maiores provas dessa distância é a au sência, no pensamento renascentista, de qualquer antecipação sistemática dos métodos analíticos da ciência moderna. Já vi mos que a filosofia idealista nascida no Seiscentos procurou legitimar um modêlo de conhecimento incompatível com a fluidez do gôsto analógico e da arte da tópica afeiçoados pela maior parte das ciências medievais e renascentistas. Pois bem: se se admite que a filosofia moderna é, em seu intimo, uma reorientação da tradição metafísica realizada em profunda consonância com os pressupostos especulativos da ciência mo derna, galileana, se compreenderá porque o humanismo não contribuiu em quase nada para o triunfo das ciências exatas. Historiadores da ciência como G. Sarton e L. Thorndike registraram a alergia foram menos negati vas. A idéia de uma Renascença essencialmente “pagã” é tão extravagante, que a historiografia contemporânea consi dera fútil reabrir a sua discussão. É certo que, na Renascen ça, o crescimento dos interêsses culturais leigos, já acelerado no período anterior, provocou como que um equilíbrio entre a cultura secular e a religiosa (Kristeller); mas nada auto riza a pensar que a religiosidade européia dos séculos XV e XVI, conquanto sensivelmente transformada, tenha deixado de ser cristã. Ferguson lembra oportunamente que o cristia nismo não é, afinal de contas, uma invenção medieval... Quanto ao humanismo, em que, de resto, não se resume a Renascença, citemos somente a circuntância de que um dos melhores antiquários do "Quattrocento", Aeneas Sylvius Piccolomini, foi um papa (Pio II), e papa nada pagão, embora, como prova sua amizade por Nicolau de Cusa, aberto à nova filosofia. Será necessário lembrar que o humanismo filoso ficamente mais denso o senso da transcendência do Criador-juiz ■ — forçou o cristianismo a superar sem demora o antropoteísmo gnóstico. Incapaz de aceitar a concepção sa crílega de uma natureza humana não apenas filialmente vinculada a Deus, não apenas por êle feita “à sua imagem e semelhança”, mas pura e simplesmente consubstanciai a Deus, o cristianismo foi obrigado a superar e combater a gnose. A superação se realizou desde a sua primeira funda ção sistemática: desde a doutrina de São Paulo. Em seu clássico estudo sobre a cristandade primitiva em suas relações com as demais religiões da época, R. Bultmann interpreta o pensamento paulino como uma forte eticização de temas gnósticos. De acôrdo com o ensinamento da gnose, o pneuma é uma centelha luminosa reavivada pela Revelação \—| idéia correspondente à noção cristã de um espírito divino conferido ao batizado, ao qual a fé ingénua dos primeiros cris tãos atribuía com frequência vários atos milagrosos, a come• çar pelo êxtase sobrenatural. Ora, Paulo, em quem os coríntios, de tendência gnóstica, deploravam justamente não ver sinais de pneuma, moralizou a significação da “centelha di vina” : para êle, o pneuma não atua no crente como uma fôrça mágica, e sim como norma para o seu comportamento. A verdadeira ação pneumática, a verdadeira energia es piritual, reside na prática diária da caridade e na vitória cotidiana sôbre as paixões; o pneuma é, como para os gnósticos, um dom celeste; mas o conteúdo dêsse dom não é senão a pos sibilidade de uma nova existência, revelada pela graça de Deus. A recepção do pneuma no batismo, longe de significar a aquisição definitiva de uma “perfeição”, inaugura o exercí cio da responsabilidade moral. "Trabalhai para vossa salva
64
SAUDADES DO CARNAVAL
ção com temor e tremor” •—>com êsse imperativo, Paulo sa lienta que o caminho da redenção passa não pelo fim da an gústia, mas pela sua elevação a esforço permanente de justifi cação ética. Para a gnose, a Revelação nos transmite o conhecimento (gnosis) de uma certeza: a de que nossa existência neste mundo é um mau destino, uma fatalidade nociva: libertando-nos do mundo-prisão, exílio para a alma, reencontramos nos sa natureza nobre, não-terrena. Mas a crença cristã não é co nhecimento, e sim fé (pístis); e por isso não alude à certeza de uma perfeição natural, anterior ao viver no mundo, mas à esperança de um aperfeiçoamento histórico, a ser conquista do, dia a dia, em nossa vida terrena. A gnose voltava as cos tas ao mundo e às suas exigências: Paulo exortava apenas a estar no mundo sem ser dêle. isto é, a agir responsável mente sem se deixar prender pelas tentações da carne e do século. Paulo converteu a posse do pneuma na sempre aberta, interminável tarefa de justificação da alma perante um Deus-juiz. Êle transformou a doutrina gnóstica sôbre a origem da existência nos escrúpulos hebraicos sôbre a qualidade da existência. Mas a gnose, embora superada e corrigida pelo autên tico cristianismo, nem por isso deixaria de acompanhar, como “desvio” inscrito na natureza mesma da fé cristã, o seu de senvolvimento histórico. Tanto mais que a divinização do honem era uma potencialidade herética facilmente incentivada por uma dimensão central do cristianismo: a crença escatológica na chegada (parousia) do Messias, no descobrir-se (apocalypsis) do Senhor, no fim dos tempos, em suma: no advento do Reino de Deus. O sentimento da iminência dessa ordem regeneradora, dêsse mundo perfeito, persegue o cris tianismo desde as suas origens, e desde então se manifesta num tipo especial de conformação social da idéia cristã — a seita. Num livro fundamental, Die Soziállehren der christlichen Kirchen un Gruppen (As Doutrinas Sociais das Igrejas e dos Grupos Cristãos), Ernst Troeltsch realizou penetrante aná lise dos grandes gêneros de conformação da congregação re ligiosa no cristianismo. A religiosidade propriamente evan gélica, a fé de Jesus, havia sido livremente personalística,
O ANTIGO ETOS CRISTÃO
65
despida de qualquer tendência à organização cultural e à es truturação de uma comunidade confessional; mas a necessi dade de uma organização nesse sentido surgiu com a fé em Jesus, isto é, com a conversão do Ressuscitado em centro de uma nova comunidade. Foi aí que apareceram os três tipos principais de “conformação social autónoma da idéia cristã” (Troeltsch): a Igreja, a seita, a mística. A Igreja é o instituto de salvação e de graça, apto a acolher massas e a adaptar-se ao mundo, "porque pode, até certo ponto, prescindir da san tidade subjetiva e compensá-la com o tesouro objetivo da graça e da redenção” obtidas pelos sacramentos de que o clero é guardião. A seita é a "livre reunião de cristãos rígidos e conscientes”, que se congregam como pessoas regeneradas e se mantêm separados do mundo em pequenos grupos, na preparação e na espera da iminência do reino de Deus. En fim, a mística é redução à interioridade e à imediatez das idéias consolidadas no culto e na doutrina, redução que, transformando a vida religiosa em processo íntimo e pessoal, leva apenas à formação de grupos sociais caracteristfcamente fluidos. Historicamente, a grande encarnação do tipo Igreja foi o catolicismo romano; do tipo mística, o luteranismo radi cal (o pietismo); do tipo seita, o calvinismo, com o qual a intransigência puritana da seita “separada do mundo” encon trou uma inserção eficaz no universo social, e utilizou o senso apocalíptico para converter-se em grupo coeso e agressivo, animado pelo vocação de renovar enèrgicamente a ordem mundana. Embora as três grandes formas de conformação social do cristianismo se tenham instaurado com a fé apostólica, depois da pregação pessoal do Cristo, Troeltsch admite que esta última, por seu repúdio do mundano e por sua vibração messiânica, continha o germe da comunidade-seita. A “boa nova” de Jesus olhava essencialmente para a frente, para o Reino que se aproximava — e na tensão dessa expectativa escatológica, propendia à formação sectária; mas a crença apostólica olhava essencialmente para trás, para o milagre da intervenção divina na pessoa e na vida de Jesus — e com essa consciência da posse objetiva da salvação, tendia à or ganização eclesiástica da dispensa dos sacramentos, veículos dêsse tesouro soteriológico -— inclusive no grau de acomo dação que ela supunha com o mundo social existente. — J. G. M. —
5
66
SAUDADES DO CARNAVAL
O leitor já terá percebido que empregamos aqui as ex pressões “seita”, “sectário”, “sectarismo” como conceitos de sociologia da religião (elaborados por Troeltsch a partir de sugestões do seu amigo W eber), libertos, portanto, como é de esperar em matéria de categorias científicas, de tôda co notação pejorativa. O que é importante vincar, neste ponto da nossa investigação, é que o sectarismo messiânico foi, des de o início, uma virtualidade inerente ao cristianismo *— um desdobramento permanentemente possível da sua atuação. A S U P E R A Ç Ã O D O M IL E N A R IS M O Ao longo da história da cristandade, e a exemplo do que já vinha acontecendo no judaísmo, a disposição sectária e sua propensão messiânica receberam o estímulo de um com plexo religioso de raízes não-hebraicas: o milenarismo ou quiliasmo. O milenarismo é a crença na próxima chegada do "milénio” (de que a palavra “chiliasmos” é a tradução gre ga); e o millennium não é mais do que a designação superla tiva do império sem fim do bem e da justiça na terra, cuja implantação foi periodicamente anunciada pelo profetismo an tigo e moderno. Mas o quiliasmo apresentava sempre a vinda do millennium como o resultado final de uma luta terrível entre os podêres do Mal e as forças de um Salvador-guerrei ro, capaz de esmagar bèlicamente as hostes da opressão. Como a gnose, o milenarismo era eminentemente dualista. Sua fonte era o masdeísmo iraniano, com a sua confiança na derrota do arquidemônio Arimã, princípio do Mal, no glorioso Fim dos Tempos, assim como o mito babilónico da batalha de cisiva entre o deus supremo e o Dragão do Caos. O primeiro enxerto do milenarismo no bloco formativo da religiosidade ocidental se inseriu no judaísmo, mais de três séculos depois de cessado o exílio dos hebreus em Babilónia. No século II a. C., quando a nação vivia sob a dinastia greco-síria dos Selêucidas, as elites judaicas se helenizaram for temente mas um theatrum mundi que passara pela crise das certezas cristãs e das uto pias renascentistas. T .S . Eliot afirmou certa vez que Sha kespeare estava “andando em direção ao caos”; seria mais exato dizer que sua obra nasceu no interregno entre a vitali dade do etos cristão, liquidador da visão trágica, e as ulte riores escatologias racionalizadas (no sentido de W eb er).' Ao contrário de Calderón, Shakespeare não aceita o salvacionismo barroco, a ultrapassagem confiante do hic et nunc es pectral — la vida es sueno — rumo à solidez compensatória de um Além. O mágico Próspero, o demiurgo, o praticante de experiências pedagógicas na ilha espelho da Terra, termina por desistir de tôda solução sobrenatural para o problema da existência; e não o faz sem amargura. Próspero quebra sua varinha de condão e abandona a sua bare island pelo inescapável reencontro com a complexidade ambivalente do mundo: N ow m y charms are all o’erthrown. .......................... N ow I waní Spirits to enforce, ar# to enchant; And my ending is despair. (The Tempest, V, 1)
Repudiando as escatologias da Idade Moderna, conscien te da desintegração da ordem tradicional (Hamlet: “Time is out of joints’’) , Shakespeare redescobre a nudez da situa ção trágica; porém, conforme repara Kott, o seu personagem trágico já é muito grotesco •— grotesco como Lear-bufão, pre lúdio patético aos clochards de Beckett. Isto porque, se os homens não são nobres, muito mais ignóbil é o fatum que os esmaga: a arena dos apetites soltos, de cupidez e traição que governa, sob a lei amoral do Príncipe e do dinheiro (common — j. G. m . —
12
178
SAUDADES DO CARNAVAL
whoce of mankind), essa selvagem transição que é a era elisabetana. Quando o Destino não é mais uma augusta — em bora inclemente •-* moira; quando as suas vítimas nêle co meçam a reconhecer o produto sem mistério, e, no entanto, ir resistível, da insânia do homem e da iniquidade da ordem social, então não é mais possível planger sôbre a despropor ção entre a lei do cosmos e os anseios do justo; o herói trá gico vira um déchu patético, e a sacralidade do Destino se torna abjeção do Absurdo. Quando o recuo da moral cristã devolveu ao Ocidente algo da consciência trágica da vida, o “desencantamento do mundo" operado pela racionalização da cultura transformou a tragicidade em sabor grotesco. O dra ma shakespereano foi a primeira, insuplantada apreensão des sa metamorfose. E L IT ISM O E M ÍS T IC A M O D E R N A (D E S P IN O Z A A G O E T H E ) Assim, a esta altura da nossa indagação, o horizonte éti co do cristianismo tradicional, com cujo abandono verifica mos que coincidiam quase tôdas as linhas de fôrça configu radas do etos moderno (produto e sustentáculo da racionali zação da cultura), parece ter passado por uma daquelas sur preendentes “descaracterizações” hitchcockianas: de vítima dos tempos modernos, o cristianismo, enquanto desvaloriza ção ontológica do indivíduo e enquanto antielitismo, vira, de súbito, um fautor da solidão e do desamparo do homem con temporâneo, forma terminal da cultura construída entre os escombros das éticas religiosas; a vítima se revela criminosa... Na realidade, porém, é claro que o cristianismo foi mais flexível do que êsse quadro sugere. Já lembramos de que ma neira a fé cristã, apesar de introduzir orientações e atitudes fundamentalmente estranhas à civilização greco-romana, se fêz depositária do acervo espiritual da Antiguidade. Em seu célebre ensaio sôbre a era de Constantino, J. Burckhardt en carece o fato de que o cristianismo, muito embora represen tasse o fim do mundo antigo, a êle soube assimilar suficiente mente os bárbaros germânicos para que êstes se unissem aos romanos na desesperada resistência ao perigo huno. No que concerne ao problema do elitismo e da autovalorização do in-
SAUDADES DO CARNAVAL
179
divíduo, a posição cristã não foi menos plástica. Em primeiro lugar •— como veremos a seguir ■ — o cristianismo soube con viver com tradições lúdico-religiosas que atenuavam substan cialmente o sentimento da desimportância do indivíduo. Em segundo lugar, o etos cristão se conjugou, em certas fases his tóricas, com filões ideológicos de inspiração carismático-eli tista. N a medida em que, conforme assinalamos, o ideal heroi co da Alta Renascença foi uma síntese sui generis do indivi dualismo da virtú com o modelo da consciência cristã, o hu manismo cristão deve ser considerado uma inflexão carismáti co-elitista do espírito católico. Isso se torna imediatamente visível numa comparação com a ética antiindividualista do cristianismo gótico. A moral gradualista da Segunda Idade Média pressupunha a existência de uma classe de virtuoses éticos — os religiosos; mas absolutamente não encarava êsses especialistas da virtude como membros de uma “elite natu ral", carismàticamente subtraídos à desvalorização do mundo criatural. Já o paradigma da megalopsiquia renascentista reú ne a têmpera ética do altruísmo cristão ao senso da excep'cionalidade do indivíduo superior. Neste sentido, do humanismo renascentista definiu um elitismo cristão. Com a mística barroca, essa metamorfose carismático-eli tista da religiosidade ocidental se acentua. Os exercícios es pirituais de Santo Inácio são uma gramática do misticismo de mocrático, e a auto-suficiência dos saints puritanos era uma maquilagem estratégica de um profundo sentimento de des valia individual; mas a mística noturna de São João da Cruz, de Santa Teresa e dos barrocos alemãs está cheia de êstases elitistas, de arroubos carismáticos da alma espôsa eleita de Deus. Não foi a essa religiosidade carismatizante que coube conformar a experiência religiosa do “Seiscentos” ao processo de racionalização; esta encontrou um homólogo e veículo mais adequado na ascese intramundana emoldurada por direções gnósticas, e, posteriormente, na mística democrática dos conventiculos pietistas. No entanto, sabemos que, na idade bar roca, a racionalização infiltradora foi obrigada a compor-se com, ou justapor-se a, vários ingredientes culturais heterogé neos. Com a persistência do impulso de transfiguração na arte do período, ilustramos (Capítulo V ) êsse fenômeno. O
180
SAUDADES DO CARNAVAL
barroco a um só tempo minou e sustentou o estilo heroico her dado da Renascença. Interpretar a cultura do Seiscentos como exclusivamente movida pelos impulsos da racionalização é Vê-la com os óculos do iluminismo. A verdade é que o século XVII simultâneamente prepara e nega seu sucessor; em mui tos aspectos, êle foi esforço de síntese da racionalização com seus contrários — e os seus “anacronismos” são tão signifi cativos quanto a sua modernidade. Dito istO;í não é de admirar que a exprèssão mais pura da cosmovisão especulativa da era barroca, a filosofia de Spinozáyrfâssócie elementos vigorosamente racionalizados a uma teorização banhada no mais autêntico carismatismo místico. As ãfinidádeS dá metafísica spinozista com a visão do mundo râcionalizadà São óbvias. Spinoza é um panteísta que conver teu-a imagem'renascentista de uma physis animada (a que êle próprio' aderira em -seus primeiros trabalhos) num naturalis mo cartesiano, em que natma naturans e natura naturata 'CqUívalém à ordem matemática do universo. Sua diferença bá sica em relação à ontologia de Descartes corresponde perfeitaínénte, no terreno artístico, à passagem do barroco inicial ao altò'barroco :' Spinozà substitui o Ser ainda estático de Des cartes por uma substância definida pela produtividade e pelo dinamismo; 'Rubens ou Bernini introduzem uma plástica do movimento no lugar dó espaço rélativamente inerte de pinto res como Aníbal CàrráCCi Ou de escultores como Mochi. : Gom essa:'tíránsformação dâ metafísica racionalista, Spi noza cartesianiza o imanentismo da mística judia. Da Cabala, êle* rècdlhe a' idêia neóplàtÓnica da divindade do mundo, do mundo que è èmanação da natureZa divina; porém, em vez de cònservá-la no âmbito de uina teoria soteriológica, de uma metafísica da salvação, Spinoza, talmudista herético, a reinsere num contexto exemplarmente racionalizado. O panteís mo da Ética é uma ontologia radicalmente afastada de qual quer teodicéia: Spinoza delineia o mapa do real sem qualquer intuito de harmonizá-lo com as exigências da nossa sêde de alívio, consolo e felicidade. Georges Friedmann (Leibiniz et Spinoza) fala com acêrto de filosofia desantropocentrizada: de estruturas ontológicas descritas sem a preocupação de jus tificar os anseios humanos respondidos pela fé. Assim como a arte barroca1é (em comparação com o bloco Renascença-maneirismo) arte-dó-homem, sucessora da arte-do-homem, a
SAUDADES DO CARNAVAL
181
metafísica- spinozista troca a ótica humanista pela audaciosa perspectiva cosmocêntrica. O Deus sive natma spinoziano tem, em sua unidade, mo dos infinitos. Arquitrave da geometria do universo, êle ultra passa •—■enquanto virtualidade És tôda determinação lógica. O panteismo da Ética inscreve a transcendência na substância imanente ao mundo; e é nesse paradoxo fulgurante que Spi noza dá a medida da sua identificação com o sintetismo seis centista, com a concidentia oppositorum perseguida pela alma barroca. À sua maneira, o Deus sive natura é o Deus ábsconditus calvinista ou jansenista, desantropocentrizado. Spinoza, o imanentista, o precursor da leitura liberal dos Evangelhos, preserva em sua metafísica o sentido básico do mistério divi no, da inaferrabilidade do sagrado. Curiosamente, é com Leibniz, defensor tenaz dos dogmas da crença (providência divina, liberdade do homem), que o princípio da transcendên cia soçobrará. Em têrmos de uma sociologia do conhecimento (Friedmann), a heresia do Tractatus theologico-politicus e a soberba indiferença da Ética em relação à praxe de ajustar a filosofia ao credo tradicional são fruto do círculo éclairé em que se movia Spinoza, amigo da alta burguesia republicana dos irmãos de W itt; ao passo que o empenho conciliador de Leibniz, sempre respeitoso do cânon cristão, espelha o tradicionalismo timorato das elites alemãs do Seiscentos. Contra a indeterminação anti-antropocêntrica dos modos infinitos, Leibniz desenvolve a doutrina da harmonia cósmica no “melhor dos mundos possíveis”; contra o determinismo spi noziano, a tese da liberdade das mônadas. Restaurador ge nial de motivos metafísicos aristotélicos e escolásticos, Leibniz ressuscita a teoria da scientia media dos Molina e Suárez: Deus previu e ordenou todo o curso do universo, inclusive a li berdade humana. Contudo, livres ou não, as mônadas huma nas só existem na medida em que participam do concêrto uni versal querido por Deus, e com que êste, em útima análise, se confunde. As argúcias escolásticas de Leibniz não conse guem livrar seu sistema das duas pechas que, por apêgo à vi são religiosa, êle não cessa de condenar: determinismo e imanentismo. O conciliador diplomático do racionalismo com a tradição canónica termina muito perto do seu espantalho he rético, Spinoza. Afinal, a monadologia é apenas uma teoria da multiplicidade da substância produtiva da Ética. Desem-
182
SAUDADES DO CARNAVAL
baraçando-se dos modos infinitos, o imanentismo leibniziano será até mesmo mais moderno do que o de Spinoza. Leibniz é, como Bach, um tardo barroco carregado de elementos pré-iluministas. A publicação póstuma (1765) dos seus influentissimos Nouveaux Essais simboliza a essência transicional e "progressista” do seu pensamento. O metafísico tradiconalista foi simultâneamente um protagonista da revolução científi ca (para a qual Spinoza em nada contribuiu) e um refutador do dedutivismo metafísico: um Kant avant la lettre. Coloquemos agora, nesse pontilhado de convergências e diferenças entre essas duas grandes metafísicas seiscentistas, o nosso tema oficial: o fundo elitista da reflexão de Spinoza. A Ética não tem êsse título por acaso; a metafísica spinoziana culmina numa teoria da beatitude. E a felicidade está, para o neo-estóico Spinoza, no júbilo que proporciona a inteligência do real. Sócrates acreditara que o compreender leva ao agir bem; Spinoza crê que êle deságua no sentir~se bem. Ora, essa capacidade intelectual em que repousa a feli cidade, sòmente alguns espíritos a possuem. Conhecimento verdadeiro e prazer supremo são privilégios de uma elite embo ra, por certo, inidentificável com qualquer classe social. A in tuição mística ,a visão panteística, é apanágio das almas fortes; só têm essa aptidão os que se situam no tôpo da escala hie rárquica dos caracteres e das paixões. A mistica spinoziana é um elitismo declarado; nela ressoa o eco do carismatismo da vivtu. A doutrina da beatitude da Ética é o autógrafo do eli tismo na Weltanschauung barroca: na filosofia cosmocêntrica e no panteísmo da transcendência. Leibniz criticou desde cedo o neo-estoicismo de Spinoza. Como pretende Friedmann, sua ética é a do tradicionalismo cristão, para o qual não basta compreender a realidade: deve-se também aceitá-la de bom coração, como obra de Deus que é. O “melhor dos mundos possíveis" não pede só com preensão: pede afeto. Em consequência, a mônada volitiva de Leibniz abandona o contemplativismo da moral de Spinoza. M as as mônadas ativas não são entidades de elite; são demo cráticos pontos de vista sôbre o cosmos, partes igualitárias na partitura da polifonia universal. Leibniz não só reantropocentriza a metafísica — reconvertendo-a em teodicéia ao mesmo tempo a serviço da religiosidade tradicional e do otimismo se tecentista — como deselitiza a moral barroca; êle aproxima a
SAUDADES DO CARNAVAL
183
ética filosófica, com o mesmo gesto, do anti-elitismo cristão e do igualitarismo moderno. Foi o cortesão Leibniz, e não o re publicano Spinoza, que prefigurou o democratismo ético da modernidade. Pois, para além da síntese barroca, o progresso da racionalização reviveria vários temas da religiosidade tra dicional — mas não o elitismo da Renascença. O destino do elitismo carismático no reino do etos bur guês, na cultura industrial é conhecido. A enorme, .conquanto dúbia repercussão do grito de Nietzsche, conjurador da ética de elite, atesta e atestou a carência qualitativa da individuali dade contemorânea. Porém, antes da agressividade crispa da do super-homem, o elitismo natural floresceu na figura de Goethe. O “renascentista” Goethe, que tomava Spinoza por Giordano Bruno, fundiu a monadologia de Leibniz com o imanentismo da Ética: seu ego cósmico é uma ativa mônada panteísta. Mas o ego fáustico de W eim ar é, também, a versão classicizada e apurada do Kraftmensch pré-romântico »—• da personalidade superior e selvagem, que a racionalização iluminista sentira às vêzes (no Neveu de Rameau, na dramatur gia do Sturm und Drang, etc.) irromper sob o seu abstrato igualitarismo. No culto mumificante do “favorito dos deuses”, o espírito vitoriano tentou conter e aprisionar a lembrança fatal do sentimento da individualidade carismática, fonte de liberdade e de cultura. O camafeu emasculado da “bela alma” do “sábio de W eimar” obscureceu a mensagem profunda de Goethe, “último renascentista” que, como a própria Renascen ça, fôra capaz de aprimorar sua concepção dos instintos vitais pelo metro da Bildung que educa sem hipocrisia e civiliza sem supérflua repressão. R E S S E N T IM E N T O E C A R N A V A L No Capítulo IV, utilizáramos a sociologia do conhecimen to para definir o status sociológico de paidéia como o etos cris tão e sua transfiguração renascentista, o ideal heroico. Exa minando, com Landsberg e Bastide, a tipologia das epistemologias civilizacionais, a mesma sociologia do conhecimento acaba de iluminar um atributo capital do cristianismo antigo: sua propensão a alijar a atitude de valorização ontológica da individualidade. Neste atributo, descobrimos uma convergên-
184
SAUDADES DO CARNAVAL
cia importante entre o velho substrato cristão do etos ociden tal e o sentimento agudo da desvalia do indivíduo, característico da moderna sociedade de massa. O homem contemporâneo é alguém que se sente — ainda que inconscientemente j— sem valor próprio. A exposição fei ta por Nietzsche de uma vivência niilista, mola e raiz de uma “moral de escravos”, constitui um dos maiores insights na na tureza da cultura moderna. Especialmente quando se leva em conta que o espirito das “virtudes” niilistas é o ressentimento •—• o secreto rancor distilado contra os valores qualitativos pela impotência dos fracos, dos incapazes de amar e de en frentar a vida. Ressentimento é “o ódio que cria ideais e trans forma valores”, engendrando ânimos e atitudes exteriormente inspirados pelo amor e pelo humanitarismo, porém de fato movidos pela vingativa raiva dos inferiores contra indivíduos e grupos melhores e mais fortes. Como é sabido, Nietzsche, que partiu da distinção de Heine entre os “helenos” e os “na zarenos” — entre os amantes da vida e os que a renegam — considerava o ressentimento um produto típico da moral ju deu-cristã. Porém Max Scheler — “Nietzsche católico”, segundo Troeltsch — reformulou a análise nietzscheana, atribuindo à moral burguesa o que o autor de Genealogia da Moral verbe rara no cristianismo. Scheler pensava sobretudo no comporta mento da classe média alemã, devorada de inveja ante a no breza prussiana, que conservara, no Reich guilhermino, o mo nopólio do poder político e do prestígio social. Mas ressenti mento é uma denominação adequada para um fenômeno mais geral dos li vros kardecistas ou umbandistas; êsses best-sellers indicam que as massas urbanas do Brasil pós-1930 estão impregna das de crenças mediúnicas. N a realidade, o complexo espirita, que soma milhões de adeptos, é a religião de maior cresci mento no país. O sociológo paulista C . P . Ferreira de Camargo, a quem se deve a mais ampla análise do espiritismo no Brasil meri dional, considera o continuum mediúnico (kardecismo e Um banda) uma religião interiorizada (não tradicional). Como o cristianismo e as seitas protestantes, em seus começos, a fi liação ao credo espirita se faz menos sob a influência automá tica do grupo de parentesco do que na órbita do grupo pro fissional ou etarial. Além disso, a conversão do espirita — como a ascese cristã — desencadeia tôda uma reorientação do caráter e da conduta; a fé mediúnica leva a uma reconstru ção interna, àquilo que W eber chamou de disciplinamento sistemático da personalidade; numa palavra, a uma ética soteriológica. Essa racionalização da vida se desdobra, de resto -— especialmente no kardecismo — acarretou, desde o séc. XIX, o abandono de numerosos e significativos traços “orientais”, em geral ligados à natureza tropical e patriarcal da cultura brasileira.
238
SAUDADES DO CARNAVAL
cana. E a coincidência dessas duas mutações é, por sua vez, problematizada pela circunstância de que, até hoje, a conver são da sociedade tradicional em sociedade moderna —- obri gatória para um continente de tão explosivo incremento de mográfico í—i obedeceu, predominantemente, aos valores ascé ticos e prometéicos, ou seja, precisamente àquelas orienta ções axiológicas a um só tempo alheias ao etos das elites la tino-americano e ao etos contestacionãrio do presente. N a medida em que associemos o reconhecimento da ne cessidade do crescimento socioeconômico à convicção de que o desenvolvimento da produção e da técnica não contém, por si só, valores finais suscetíveis de assegurar o equilíbrio da sociedade e da cultura, temos o direito de avaliar o teor cul tural das grandes fórmulas desenvolvimentistas em competi ção, em aplicação ou não, no poder ou fora dêle, com o único objetivo de determinar seu grau de sensibilidade em relação à carência axiológica da civilização contemporânea. Do ponto de vista histórico, a passagem da comunidade tradicional à etapa industrial e à sociedade modernizada co nheceu três caminhos básicos, admiràvelmente confrontados por Barrington Moore em Social Origins of Dictatorship and Democracy (Nova Iorque, 1967). Tais caminhos foram: a re volução liberal, conduzida em benefício das camadas burgue sas; a revolução camponesa; e a modernização socioeconômica dirigida por elites conservadoras (— a chamada “revolução pelo alto”, para usarmos a expressão cunhada por von Hardenberg. Os exemplos clássicos de revolução burguesa se verifica ram na Inglaterra seiscentista, na Revolução Francesa, e na vitória do Norte sôbre o Sul dos Estados Unidos no século XIX: a revolução camponesa ocorreu (infringindo o modêlo proletário concebido por M arx), na Rússia e na China; à “re volução pelo alto”, enfim, se deveu, há cem anos, a industria lização da Alemanha guilhermina e do Japão Meiji. Esquemàticamente, a característica óbvia da revolução pelo alto é a conquista do desenvolvimento com preservação da estrutura social vigente. É lógico que, com a implantação do desenvolvimento, a penúria das classes inferiores se vai reduzindo, ao mesmo tempo em que a modernização da so ciedade faculta a ascensão social de grande número de egres
SITUAÇÃO DO BRASIL NA CRISE DA CULTURA
239
sos dessas mesmas classes. No entanto, no momento do salto para o desenvolvimento, os traços gerais da estrutura de clas ses são mantidos; nenhuma classe dominante é expropriada pelo processo modemizador; quando muito, acontecem rea justes internos no bloco dominante — como a volta ao poder, no Japão Meiji, da nobreza samurai, longamente margina lizada. A rigor, a orientação imprimida pelas atuais camadas di rigentes brasileiras ou argentinas ao processo socioeconômico de seus países pode ser assimilada às metas essenciais de uma revolução pelo alto. O projeto do regimes fortes, de ascen dência militar, de Brasília ou Buenos Aires visa a uma ace leração decisiva do desenvolvimento económico, eliminando a distância entre essas nações e o mundo desenvolvido. Os aplicadores do projeto estão cientes de que essas transformações da fisionomia económica acarretam e requerem mudanças substanciais no edificio social existente, mas desejam garantir a essas mudanças o caráter de reformas parciais e graduais, bem distintas da ruptura revolucionária. Não compete a êste ensaio pronunciar-se sôbre a viabili dade ou não dêsse projeto político-social. O exemplo da Ale manha bismarckiana ou do Japão da mesma época prova, po rém, que "revoluções” no sentido sociológico (no sentido em que falamos, por exemplo, de Revolução Industrial) podem efetuar-se sem prévia ou simultânea ocorrência de uma revo lução (stasis) no sentido aristotélico, isto é, político, da pa lavra — revolução política essa que promova a brusca trans ferência do poder de uma para outra classe. Os dois casos históricos de revolução conservadora são igualmente probantes no terreno da modernização social. Em 1970, a situação do operário alemão é, tanto do ponto de vista da sua partici pação no bôlo da renda nacional quanto dos seus direitos frente à emprêsa e ao Estado e da fôrça das organizações sindicais, mais confortável e mais sólida do que a do seu co lega francês; no ano 2000, no Japão, o acesso popular à ins trução universitária deverá alcançar índices bem superiores aos da Grã-Bretanha ou da União Soviética. Decididamente, a revolução conservadora não faz má figura em matéria de democratização social. O hábito de considerar todos os regi mes conservadores como zeladores imobilistas de um simples
240
SAUDADES DO CARNAVAL
congelamento da sociedade não resiste ao confronto da expe riência. A idade contemporânea já registra o êxito da pare lha conservação da ordem social/promoção efetiva do desen volvimento económico e da modernização da sociedade. Contudo, em vez de profetizar, a partir daí, incientificamente, o sucesso do desenvolvimentismo conservador em paí ses com o Brasil, mais vale notar as diferenças que o modêlo brasileiro de revolução pelo alto apresenta em relação aos "prestigiosos” antecedentes alemão e japonês. Quatro pontos de divergência são imediatamente visíveis. O primeiro é a elevada taxa de expansão demográfica, desconhecida no século XIX e apontada pelos melhores advogados do projeto brasileiro oficial de desenvolvimento (Roberto Campos, M á rio Simonsen) como gravíssimo obstáculo à sua vitória. O se gundo é a argamassa ideológica nacionalista: tanto a Prússia e o Reich guilherminos quanto o Japão imperial moderno fo ram resolutamente nacionalistas: o Brasil pós-1964 ainda não assumiu plenamente essa atitude ideológica (embora não se exclua que venha a fazê-lo). O terceiro é o pêso que exerceu, nos dois países que lo graram modernizar-se por meio de revoluções pelo alto, o substrato sociocultural pré-burguês. N a industrialização do Japão e da Alemanha, a emprêsa "feudal” e o Estado previdencial parecem ter subtraído ao conflito de classes muitas das suas arestas típicas. A inibição, política da burguesia em presarial concorreu para o prolongamento do poder das “no brezas de serviço”, e as violências culturais geradas pelo ca pitalismo “selvagem” foram parcialmente amenizadas pelo paternalismo do patrão e do Estado (v. Ralf Dahrendorf, Society and Democracy in Germany). Até que ponto o pa ternalismo do Estado populista, instaurador da legislação tra balhista no Brasil, subsistirá no presente surto de desenvolvi mento? Até que ponto a emprêsa contemporânea saberá tem perar o conflito de classes com “pontes” culturais entre pa trões e assalariados? O quarto, finalmente •— e aqui topamos com a diferença mais importante para o nosso ângulo de análise —- é que o processo brasileiro de revolução pelo alto não vem sendo con duzido por camadas dirigentes recrutadas em oligarquias tra dicionais (como os junkers prussianos ou os samurais nipô-
SITUAÇÃO DO BRASIL NA CRISE DA CULTURA
241
nicos), mas sim por uma nova classe política — oficiais das Fôrças Armadas e tecnocratas — oriundos, em sua maior parte, dos estratos intermediários e inferiores da classe média. A grande maioria dos "militares disciplinados e tecnocratas bem informados” que, segundo Roberto Campos, governam o Brasil de hoje provêm da média e pequena burguesia. A “revolução pelo alto” animada e liderada por estratos médios não consta da tipologia das formas de passagem ao 'díptico economia desenvolvida/sociedade moderna traçado por Barrington Moore, sem dúvida porque êste se cinge aó estudo das passagens bàsicamente já efetuadas (com a exceção qua lificada do caso chinês). Por outro lado, a hegemonia, na camada dirigente na cional, de equipes de origem classe-média é nova na história das nossas elites político-administrativas. A despeito do pau latino crescimento do contingente médio e pequeno-burguês na alta administração, na diplomacia e nos postos eletivos, e não obstante a sua intensificação no Brasil pós-1930, boa par te dos cargos do alto funcionalismo federal permaneceu longo tempo adjudicada aos bacharéis saídos dos vários segmentos da classe senhorial. Até mesmo os setores economicamente declinantes da aristocracia rural continuavam a fornecer di rigentes políticos e burocráticos; o pattern imperial, caracterizado pela presença destacada de elites políticas nordestinas na órbita nacional em plena decadência da lavoura canavieira, se reproduziria na República Nova. Êste é, de resto, um dos aspectos que explicam a influência política, desproporcional mente ampla no que concerne ao seu lugar na industrialização e urbanização do país, de Estados como Minas ou Rio Gran de do Sul. O fato de que a classe governante se tenha aburguesado mais plenamente, reduzindo sua procedência senhorial, não significa que a classe média (por oposição à alta burguesia) se tenha tornado propriamente hegemónica no campo soei» económico. Foi a classe dirigente, não a classe dominante que se “classemedianizou”. Culturalmente, porém — num país em que pràticamente nada se faz sem o concurso do Es tado 5— essa circulação de elites no plano político-administra tivo é de enorme importância. E para nós, que estamos foca— j. g . M. —
16
242
SAUDADES DO CARNAVAL
lizando o processo social no exclusivo interêsse de configurar suas tonalidades culturais, o que importa é justamente pres sentir a influência dessa substituição de elites no etos bra sileiro. Já vimos que a índole narcisística das elites senhoriais preservara a cultura brasileira de um ajustamento estrito aos padrões caracterológicos da sociedade moderna. Ora, até cer to ponto, os ideais de conduta da classe média no poder e dos grupos radicais seus adversários estão mais próximos da moral conformista e repressiva das massas burguesas do pe ríodo vitoriano do que do individualismo inconstrutivo, mas aberto e generoso, da personalidade tradicional brasileira. Tanto o moralismo agressivo de certa classe média conserva dora quanto a austeridade propugnada por alguns programas de esquerda abrigam legitimações comportamentais muito pouco tolerantes em relação ao espírito anárquico, libertino e libertário do nosso etos clássico. Será mesmo que as duas estratégias antagónicas que, com o eclipse do liberalismo político e o naufrágio do popuíismo, se disputam o amanhã brasileiro: a revolução pelo alto, e a re volução maoísta — confluiriam numa afinidade fundamental com a moral repressiva da velha cultura industrial? Em Soviet Marxism, H. Marcuse denunciou o reacionarismo cultural do leninismo; Lênin revelou à burocracia vermelha o valor do corpete vitoriano como instrumento da canalização compul sória da energia das massas para os mutirões do desenvol vimento extensivo. Que o Brasil, a partir de um nível bem mais sofisticado de industrialização, numa fase bem mais avançada da tecnologia, descambasse numa dessas lúgubres morais produtivistas só serviria para confirmar que a verdadeira maldi ção do subdesenvolvimento é a indigência do espírito. . . Na realidade, porém, o perigo que se nos depara é bem menor p? e mais sutil. É apenas o risco de que a estreiteza de vistas de certa classe média, atiçada por um ufanismo ta canho, viesse a jogar a cultura brasileira num sensível des compasso em relação aos impulsos da renovação cultural do Ocidente, votados, conforme constatamos, à superação das vastas insuficiências axiológicas da sociedade prometéica. Em seu cosmopolitismo alienado, nossas antigas elites souberam ao menos conservar-se permeáveis à evolução cultural oci
SITUAÇÃO DO BRASIL NA CRISE DA CULTURA
243
dental. Seria triste que o Brasil, sendo, por sua formação, de positário de paradigmas culturais que mal ou bem resistiram a algumas das mutilações humanas provocadas pela raciona lização da vida, abdicasse dêsse passado no exato instante em que o futuro lhe confere tanto sentido. Triste e irónico — porque a guinada que sufocasse em nós o espírito do carna val, o espírito lucidamente “amoral” de Macunaíma, em provei to de não sei que forçada compostura, conseguiria tão-sòmente nos colocar na órbita sombria do atraso cultural. E então, só restaria rezar para que o gênio da avacalhação -—• êsse saci verde-amarelo ■ — nos restituísse a nós mesmos, à nossa au têntica “inautenticidade” ética.
CAPITULO IX
SOCIOLOGIA E CRÍTICA DOS VALORES Nossa caracterização da crise da cultura ocidental pro curou sempre alicerçar-se no resultado de investigações his tórico-sociológicas. W eber, Eisenstadt, Freyer, Tocqueville, Gehlen, Habermas nos forneceram o essencial do nosso pai nel histórico, do mesmo modo que o estudo sociológico do cristianismo (Troeltsch) ou do pensamento renascentista (Kristeller, W eise) e vários exemplos de sociologia do co nhecimento (Landsberg, Bastide, etc.). No entanto, apesar de recorrer tão sistemàticamente à objetividade da análise so ciológica, em nenhum momento nos privamos de emitir um julgamento crítico sôbre a orientação axiológica da cultura moderna. Não será, porém, arbitrário empregar a indagação sociológica numa discussão de valores? Não é êste proce dimento incompatível com a imparcialidade da ciência? Ou será que a objetividade sociológica, sem perder o título de saber científico, pode legitimamente desdobrar-se em preludio analítico à controvérsia dos valores? A questão é das mais espinhosas, e seu exame solicita uma bibliográfia tão vasta quanto ilustre, num raio muitas vêzes superior às di mensões dêste ensaio ou à competência de seu autor; mas a dupla circunstância de situar-se na base da nossa argumenta ção acêrca da cultura ocidental e no centro de algumas das mais sérias “autocríticas” sociológicas dos últimos anos obriga-nos a esquematizar aqui uma resposta. * Para tanto, utili* Vá de si que êste capítulo, dedicado a justificar o método da exposição precedente, dela não faz parte; do ponto de vista da estrita inteligibilidade de nossa apresentação da cultura moderna, sua leitura é supérflua.
246
SAUDADES DO CARNAVAL
zaremos principalmente elementos provenientes de duas fon tes: a "lógica das ciências sociais” de J. Habermas, e a pes quisa estruturalista em antropologia e história da ciência. O problema da compatibilidade entre sociologia e críti ca axiológica só ganhou tôda a sua verdadeira agudeza de pois que o pensamento sociológico passou pela higiene antievolucionista; pois a sociologia evolucionista dos grandes fun dadores, Comte, Spencer ou Marx, exibia, na própria idéia de progresso histórico, um afirmativismo axiológico dos mais in génuos. Hoje, porém, a reflexão sociológica deixou de ser filosofia da história, para constituir-se em teoria da ação so cial. Em consequência, é nesta que devemos buscar os pri meiros dados da nossa problemática. Max W eber considerava a ação social um comportamento subjetivamente significativo, ou seja, intencional — orienta do e motivado por uma compreensão subjetiva, e necessàriamente interpretado com referência aos fins e valores pelos quais se pauta o sujeito agente. A sociologia “psicológica" norte-americana acolheu desde cedo essa concepção; W . I. Thomas enunciou o “princípio da interpretação subjetiva dos fatos sociais”, e Talcott Parsons resumiu admiràvelmente a sua relevância ao lembrar que seria extremamente desejável, para o nosso conhecimento da sociedade romana, a possibili dade de entrevistarmos Bruto após a morte de C é sa r... Há, contudo um caso limite do agir intencional, caso em que êste parece dispensar a hermenêutica da intersubjetivida de: é a ação instrumental, o agir pragmático predominante nas atividades económicas ou políticas — a velha “ação ló gica” de Pareto. Conforme vimos no Capítulo II, êsse agir instrumental é regido por regras técnicas como que axiomá ticas, que prescindem de uma interiorização complexa e de uma interpretação elaborada, e gozam, por assim dizer, da adesão unânime dos socii. O significado da ação instrumental é “acessível sem esforço hermenêutico” (Habermas). Mas o agir instrumento, caso limite, não dá conta da ação social como um todo. Esta é, ordinariamente, um agir comunicativo, isto é, orientado por um sentido não-axiomáti co, e sim apoiado em diferentes tradições culturais, que tomam a forma concreta de inúmeras expectativas sociais a serem atendidas pelo indivíduo em determinadas situações especí
SOCIOLOGIA E CRITICA DOS VALORES
247
ficas. Essas expectativas de comportamento (v. Capítulo VI, 2.a seção) constituem as normas sociais. Aqui se articula o projeto de uma sociologia behaviorista, capaz de eliminar a incómoda .—■ porque sempre proble mática tarefa de interpretação do sentido subjetivo. Se as normas sociais são, de fato, expectativas de comportamento, então por que não tomá-las por variáveis meramente obser váveis do exterior? A plataforma mais prestigiosa dessa so ciologia behaviorista é o ensaio The Operation called Verstehen, de Theodore Abel. Abel reduz a estratégia de com preensão (Verstehen) do sentido subjetivo da ação social a duas particularidades: a interiorização dos motivos orienta dores, e a aplicação de uma máxima de conduta, de uma ge neralização fundada na experiência pessoal do observador. Nossa experiência pessoal nos ensina, por exemplo que se procura o calor quando se tem frio, ou que nos tornamos pru dentes quanto atemorizados, etc. Relacionando as motivações do agente observado com essas máximas universais eviden tes, explicaremos o seu comportamento. Tudo se complica, entretanto, quanto entram em jôgo regras menos banais. O próprio Abel dá o exemplo da relação, numa comunidade rural, entre êxito ou insucesso na colheita e frequência dos matrimónios. A máxima universal evidente, segundo a qual a ansiedade (no caso, trazida pela penúria) desencoraje os homens a contrair novas responsabilidades exlicaria a queda dos casamentos em periodos de más colhei tas: mas nada impede que o camponês aspire a consolar-se da dfsette no refúgio afetivo da familia. Muito provàvelmente, a preferência por uma ou outra resposta ao estímulo da escassez dependerá da natureza e da fôrça social de deter minadas representações culturais