O Trivium [Dark_Mode] 9788588062603, 8588062607
Versão Dark_Mode, com páginas de fundo preto e letras brancas. O Trivium, da Irmã Miriam Joseph, resgata a abordagem in
479 40 72MB
Portuguese Pages 319 [322] Year 2002
Polecaj historie
![O Trivium [Dark_Mode]
9788588062603, 8588062607](https://dokumen.pub/img/200x200/o-trivium-darkmode-9788588062603-8588062607.jpg)
- Author / Uploaded
- Miriam Joseph
- Commentary
- Tradução de: Henrique Paul Dmyterko. Edição: Marguerite McGlinn
Citation preview
ffi I K I 2 I 0 M zAszArtes Liberais da Lógica, Çriwiática e L{etórica
mmsjm iA s i^lrtes Liberais da Lógica, Cjramaíica e 1{cJtórica d E n te n d e n d o e a fu n ç ã o
a Ig a tu r e z a
d a L in g u a g e m
Irmã Miriam Joseph, C.S.C., Ph.D. Editado por Marcjuerite M cC Iiiui
Traduçao e adaptação de Henncjue Paul D m yterko
Impresso no Brasil, o u tu b ro de 2(1(18 C o p yrig h t (Ü 2(1(12 by Paul l)ry Books, Inc
Publicado originalmente nos Pstados Unidos, em 2(1(12, pela Paul Dry Books, Inc., Philadelphia, Pennsylvania, sob o título í hc Tiwittin, í hc Liberal Arls of Poi/ic Cramimii; iinA libctarn
O s direitos desta edição p erten cem a E Realizações Editora, Livraria e Distribuidora Ltda. Caixa Postal, 45321
(14(11(1 c)7(l - São Paulo SP
Telefax (551 l) 5572 536.3 e(u erealizacoes.com,br - www.erealizacoes.com.br
Edson Manoel de Oliveira Pilho
L.iliana C ru z
Maurício Nisi Oonçalves / Estúdio E
HRosa C.ráfica e Editora
C ortesia dos arquivos do Saint M a r y s College
Reservados tod o s os direitos desta obra. Proibida toda e qualquer rep ro d u ção desta edição por qualquer meio ou forma, seja ela eletrônica ou mecânica, lotocopia, gravação ou qualquer o u tro meio de reprodução, sem permissão expressa do editor
Sumário \ o t a do I mtlutor
7
Fura hntender () Tri\ium (Jose Monir Xasser) Introdução à Lcliçúo \mericana cie 2002 I/ 1 AS ARTES LIBERAIS
II
21
2
NATUREZA E FUNÇÃO DA LINGUAGEM
3
GRAMÁTICA GERAL
3I
69
4 TERMOS E SEUS EQUIVALENTES GRAMATICAIS: DEFINIÇÃO E DIVISÃO
97
5 PROPOSIÇÕES E SUA EXPRESSÃO GRAMATICAL I I 7 6
RELAÇÕES DE PROPOSIÇÕES SIMPLES
7
O SILOGISMO SIMPLES
8
RELAÇÕES DE PROPOSIÇÕES HIPOTÉTICAS E DISJUNTIVAS 195
9
FALÁCIAS
15 9
2 17
10 UM BREVE SUMÁRIO DE INDUÇÃO l l COMPOSIÇÃO E LEITURA Irmã Míriam Joseph (1090-1902) índice
Remissivo 3 I 4
13 7
259 307
241
Nota do tradutor
Há quem diga que a melhor paga de um tradutor é não ser percebido. Outros, que tradutor é traidor. Em face disso, lanço-me à temerária, mas breve, tarefa de descrever algo do processo de tradução e adaptação de O Trivium , de autoria da irmã Miriam Joseph. Mas antes me permitam algumas palavras sobre os motivos da tradução: desde a adolescência - e já se vão trinta anos - lia referências e menções às sete artes liberais, ao trivium e ao quadrivium, nas saudosas páginas do Suplemento Cultural de O Estado de S. Paulo. A curiosidade ficou aguçada, mas, à época, outros interesses e obrigações me desviaram daquilo que eu ainda não sabia ser a verdadeira educação. Em junho de 2005, via Internet, deparei-me com oferta da última edição americana do livro T h e T rivium . Comprei-o e, ato contínuo, passei a elaborar um resumo traduzido para meu estudo e, quiçá, para benefício de amigos e colegas. Todavia, logo percebi que o livro original já era um resumo magistral, riquíssimo e sucinto ao mesmo tempo. Restaram-me duas opções: a tudo abandonar ou traduzir o livro por inteiro. Traduzi. O trabalho iniciado em 2005 foi concluído somente em maio de 2007, dadas as dificuldades intrínsecas à adaptação de obra tão clara, mas tão minuciosa e cheia de sutilezas, e também em função das inúmeras vicissitudes da vida. Vale dizer que a empreitada não me foi encomendada, mas foi fruto de uma dessas teimosias prazerosas, próprias de apreciadores de livros. Fiz porque quis, por assim dizer, sem qualquer perspectiva de publicação. Mais tarde, porém, tive a imensa sorte e o privilégio de ser apresentado a um editor corajoso, Edson Filho, que de pronto percebeu a importância da obra no contexto da educação liberal. Também é necessário lembrar aqueles que, na medida de suas possibilida des e nos intervalos dos seus muitos afazeres, prestaram-me, de bom grado e com dedicação tocante, ajuda quanto à leitura dos três capítulos iniciais, além de orientações técnicas sobre notas e referências: Luciane Amato, Fernando de Morais e Simone Caldas. Imprescindível também é agradecer o denodo e extremo profissionalismo da revisora, Liliana Cruz, com quem finalmente me senti seguro de que o resultado final da tradução seria o melhor possível, ao menos diante do que ela tinha em mãos. Agradeço também a especial gentileza de José Monir Nasser, quando este aceitou, com grande entusiasmo, o convite para prefaciar esta primeira edição brasileira de O Trivium, demonstrando seu habitual brilhantismo e erudição na apresentação do histórico das artes liberais e na introdução do conceito de uma educação que ainda estamos a esperar. ‘\olu cio 'Tradutor - 7
Mas tenho outras dívidas a reconhecer. Além dos inúmeros dicionários es pecializados, tal como o D id o m ín o ik Filosofiti de José Ferrater Mora, das obras completas de Aristóteles, Platão, Shakespeare e de tantos outros, sou devedor das obras de dois grandes brasileiros: Napoleão Mendes de Almeida e Massaud Moisés. Estes últimos tornaram mais segura a adaptação dos Capítulos 3 e 11, respectivamente. Se neles há falhas, são minhas. Sobre o Capítulo 3 há algumas observações importantes para o leitor: a Cramática Geral, teoricamente, é aplicável a toda e qualquer língua indo-européia. Repetindo a autora: "A gramática geral é mais filosófica que as gramáticas es peciais porque está mais diretamente relacionada à lógica e à metafísica —ou ontologia. Consequentemente, ela difere um pouco das gramáticas especiais no que diz respeito ao ponto de vista e à classificação resultante, tanto na análise morfológica quanto na análise sintática." No caso do livro original, obedece-se à gramática da língua inglesa para expressar conceitos da gramática geral, esta com terminologia própria e algo diferente daquela da gramática inglesa. (3 desa fio foi transpor esses conceitos e terminologia para a língua portuguesa. Pois o fato é que a gramática geral fala de algo que nos parece familiar: por vezes é, por outras não é. Do ponto de vista da estrutura do livro, é o capítulo-chave, o elo que permitirá a melhor compreensão dos capítulos da lógica (proposições, silogismos, falácias, etc.) e retórica. Esse era o objetivo da irmã Miriam Joseph nesse Capítulo 3, e se consegui manter esse elo, me dou por satisfeito. Os puristas podem torcer o nariz e algum pode até querer, equivo cadamente, transformar o referido capítulo num compêndio de gramática da língua portuguesa. Creio que é útil lembrar ao leitor que o exemplar de O Trivium que ele ora tem em mãos não é mera tradução, mas é também uma adaptação que levou em conta aquilo que julguei ser necessário aos leitores brasileiros, pois se trata de um livro-texto de um curso ministrado durante dois semestres em instituições americanas de ensino superior (os Colletjcs), com cinco aulas semanais. Alguns exemplos criados pela autora, irmã Miriam Joseph, se traduzidos simplesmente, perderiam totalmente o efeito pretendido. Nesses casos, fui obrigado a "criar", a adaptar e a acrescentar. Outro detalhe importante a ressaltar é que esse livro teve quatro edições nos Estados Unidos: em 1937, 1940, 1948 e em 2002. Nas três primeiras edições, a autora apenas indicava os trechos de More, Shake speare, Milton, Dante, Platão, etc., mas não os reproduzia, cabendo aos estu dantes a tarefa de pesquisa em bibliotecas. Somente a edição de 2002, a que eu traduzi e que o leitor terá como guia e companheiro de estudos, contém a reprodução dos trechos citados. Por um lado, isso enriqueceu o livro e, por outro, dificultou a adaptação, a depender do caso em que o trecho foi inserido: se como exemplo de uma regra gramatical, de regra lógica, de uma seqúência rítmica, etc. Em alguns casos, consegui apresentar a tradução do essencial para o
/dr llVks 0) Siiint Thonuis Alorr, Louis A. Schuster, Richard C. Vlorris, James P Lusardi e Richard J. Shoeck (eds ), New Haven, Yale University Press, 1973. William Tyndale era um seguidor da filosofia d e j o h n Wychffe e traduziu parte das escrituras para o inglês, e More, numa carta a Erasmo de Roterdã (14 de junho de I 532), atacou a tradução de Tyndale, pois essa "contém traduções incorretas e, pior, interpretações incorretas das Escrituras". Elizabeth Francês Rogers (ed ), Sirí»/ TFojjms Aiorr Sclcclcil Lcltcrs. New Haven, Yale University Press, 1961, p. 176. Natureza e Função da Linguagem - 43
correspondentes exatos nas dez categorias ou praedicam enta'* da lógica, as quais classificam nossos conceitos, o nosso conheci mento do ser. Todo ser existe em si mesmo ou em outro. Se existe em si mes mo, é uma substância. Se existe em outro, é um acidente. Distinguimos nove categorias de acidente,- estas, com a substância, cons tituem as dez categorias do ser. 1. Substância é o que existe em si mesmo, p. ex., homem. 2 . Quantidade é uma determinação da matéria da substância, atribuindo-lhe partes distintas de outras partes, p. ex., alto. 3. Qualidade é a determinação da natureza ou forma de uma subs tância, p. ex., escuro, bonito, inteligente, atlético, cavalheiresco. 4. Relação é a referência que uma substância, ou um acidente, estabelece com outra, p. ex., amigo, próximo. 5. Ação é o exercício das faculdades ou do poder de uma subs tância de modo a produzir um efeito em alguma outra coisa ou nela mesma, p. ex., apertar o botão de uma câmera, levantar, sorrir. 6. Paixão é a recepção | sofridaJ, por uma substância, de um efei to produzido por algum agente, p. ex., ser convidado a retornar, ser convocado. 7. Q uando é posição em relação ao curso de eventos extrínsecos e que mede a duração de uma substância, p. ex., tarde de domingo. 8. O nde é posição em relação aos corpos que circundam uma substância,- mede e determina seu lugar, p. ex., num banco, às mar gens do lago. 9. Postura é a posição relativa que as partes de uma substância têm quanto às outras e vice-versa, p. ex., sentado, inclinado à frente. 10. Estado é a situação ou condição que distingue um indivíduo ou grupo de outros indivíduos e grupos,- compreende roupas, or namentos ou armas com os quais os seres humanos, por suas ar tes e hábito, complementam suas naturezas de modo a conservar e distinguir a si mesmos ou a sua comunidade (o outro ente). Por exemplo, o indivíduo pode estar calçado, de terno e gravata, de uniforme, etc. As categorias podem ser organizadas em três subcategorias pelo que predicam14 sobre o sujeito. 11 Pnicdiuwientii é termo que significa aquelas características que podem ser afirmadas acer ca do sujeito. O termo foi usado pela primeira vez por um discípulo de Plotino, Porfírio (232-304), em sua obra liitroductio in Prunliuiniciilii, que por sua vez foi traduzida (e com en tada) para o latim por Boécio (475">-524), sob o título hiitjotjc. 14 Predicar significa declarar algo que é característico de um sujeito.
gq - O iriviuiu
1. O predicado é o sujeito mesmo. Se o predicado é aquilo que o próprio sujeito é, e não o que existe no sujeito, o predicado é uma substância (Maria é um ser humano). 2 . O predicado existe no sujeito. Se o predicado que existe no sujeito flui absolutamente da matéria, o predicado é uma quantida de (Maria é alta). Se o predicado que existe no sujeito Hui absoluta mente da forma, o predicado é uma qualidade (Maria é inteligente). Se o predicado existe no sujeito como relação com respeito a outro, o predicado está na categoria de relação (Maria é filha de Ana). 3. O predicado existe em algo extrínseco ao sujeito. Se o pre dicado existe em alguma coisa extrínseca ao sujeito e é parcialmente extrínseco como princípio de ação no sujeito, o predicado é então uma ação (Maria analisou os dados). Se o predicado existe em algo extrínseco ao sujeito e é o término de uma ação sobre o sujeito, então o predicado é uma paixão (Maria foi ferida). Se o predicado existe em algo extrínseco no sujeito e é totalmente extrínseco como medida do sujeito relativamente no tempo, então o predicado está na cate goria do quando (Maria estava atrasada). Se o predicado existe em algo extrínseco ao sujeito e é totalmente extrínseco como medida do sujeito relativamente ao lugar, o predicado está na categoria do onde (Maria está aqui). Se o predicado existe em algo extrínseco ao sujeito e é totalmente extrínseco como medida do sujeito relativa mente à ordem dns partes, o predicado está na categoria postura (Maria está de pé). Se o predicado existe em algo extrínseco ao sujeito e é meramente adjacente ao sujeito, o predicado está na categoria estado = indumentária, traje, aparato (condição, situação, ter, de posse de, equipado, munido, coberto, habilitado a fazer) (Maria veste roupa de gala). L IN G U A G E M E REALIDADE
Sete importantes definições emergem de uma consideração acerca da linguagem e realidade:1 1. A essência é aquilo que faz um ser ser o que é, e sem o que não seria o que é. 2 . Natureza é essência vista como fonte de atividade. 3. O indivíduo é constituído de essência existente em maté ria quantificada mais outros acidentes. Essência é o que torna o indivíduo semelhante aos outros membros de sua classe. Maté ria quantificada é aquilo que faz o indivíduo diferente dos outros membros de sua classe, porque a matéria, extensa em razão de
Natureza e Função da Linguagem - 45
sua quantidade, precisa ser esta ou ncjuela matéria, que, ao limi tar sua forma, o individua (princípio material da individuação, cf. Santo Tomás de Aquino).1" Acidentes são aquelas notas ou tra ços (formatos, cor, peso, tamanho, etc.) pelos quais percebemos as diferenças entre os indivíduos de uma classe. Os indivíduos pertencentes a uma espécie são essencialmente iguais. Mas eles não são diferentes por mero acidente,- eles são individualmente diferentes. Mesmo se indivíduos fossem tão parecidos quanto o são os fósforos de uma mesma caixa, seriam ainda, e não obstante, individualmente diferentes, porque a matéria em um deles não é a mesma que está em outro, além de haver quase imperceptível diferença de quantidade ou de parte, ainda que a matéria seja do mesmo tipo e em montante muito semelhante. 4. Um percepto (percepção) é a apreensão sensível de uma rea lidade individual (na presença desta). 5. Um fantasma é a imagem mental de uma realidade individual (na sua ausência). 6. Um conceito geral é a apreensão intelectual da essência. 7. Um conceito empírico é a apreensão intelectual indireta de um indivíduo. O intelecto pode conhecer objetos individuais apenas indiretamente nos fantasmas, porque indivíduos são materiais, com uma exceção: o intelecto mesmo,- por ser um indivíduo espiritual, o intelecto pode conhecer a si mesmo direta e reflexivamente.1'’ Num objeto natural, o que segue é tanto similar quanto distin to: substância, essência, natureza, forma, espécie. O conhecimento destes é o conceito, que é expresso por completo na definição e é simbolizado pelo nome comum. Uma vez que o homem não pode criar substância e pode apenas amoldar/talhar substâncias fornecidas pela natureza, um objeto artifin "(...) Talvez uma solução melhor seja supor que a noção de indivíduo pode possuir dife rentes graus. O próprio Aristóteles insinua uma solução parecida quando parece conceber a alma do homem como uma forma individual. Nesse caso o princípio de individuação seria mais ‘material' na classe dos seres que possuísse menos individualidades que outras, e mais ‘formal’ no caso inverso. R ex., enquanto a distinção entre a pedra x e a pedra y seria quase imperceptível no que diz respeito ã individualidade, a diferença entre João e Pedro seria muito acusada. (...)" (José Ferrater Mora, Dínoi/íír/o Fílosofíu. São Paulo, Loyola, 2001, t. 2 , p. 1484) (N T.) I!>Ver Santo Tomás de Aquino, Snimua Thcolotficii, Parte I, Questão 86 , Artigos 1 e 3. Tomás de Aquino ( I 2242 -1274) foi um dos fundadores, junto com seu mestre e depois seu maior divulgador, Santo Alberto Magno, do movimento intelectual conhecido como escolasticismo. Monge dominicano, Tomás de Aquino reconciliou a perspectiva cristã com as obras de Aristóteles. A Sumim? Thcoloifiat apresenta uma visão geral, ou um "sumário", da teologia cristã. |D e fato, a extensa obra de Santo Tomás de Aquino trata da filosofia e da teologia como absolutamente distintas em alguns aspectos, mas complementares em outros. O tomismo c uma doutrina escolástica. (N. T.)|
46 - O Tn vinw
ciai, tal como uma cadeira, tem duas essências: a essência da sua matéria (madeira, ferro, mármore, etc.) e a essência da sua forma (cadeira). A essência da forma é expressa na definição (de cadeira). Freqüentemente, um nome comum simboliza um conceito que não é simples nem equivalente à essência da espécie natural, como é o caso do ser humano, mas é então um composto, como advogado ou atleta, incluindo em sua definição certos acidentes que determinam não a espécie natural, mas classes que diferem apenas acidentalmen te. Um conceito composto pode ser chamado de constructo. Advogado e atleta são constructos, pois sua definição adiciona ao conceito simples de ser humano certos acidentes, tais como o conhecimento das leis ou a agilidade física, que são essenciais à de finição de advogado ou de atleta, mas não são essenciais à definição de um constructo. Por exemplo, um advogado em particular pode ser alto, loiro, irritável, generoso, etc., mas esses acidentes não são tão essenciais para que ele seja um advogado quanto para que seja um ser humano. Um constructo pode ser analisado (decomposto) em seus com ponentes, revelando em que categorias seus significados essenciais residem. ILUSTRAÇÃO: Análise de constructos Carpinteiro Substância - ser humano Qualidade - habilidade em construir com madeira Legislador Substância - ser humano Ação - fazer leis Relação - com um eleitorado Nevasca (Blizzard) Substância - água Qualidade - gelada Paixão - vaporizada, congelada em neve seca, soprada por ventos fortes
Na língua inglesa, um constructo é usualmente simbolizado por uma única palavra, o que não torna explícito o caráter composto do constructo. Numa língua aglutinada como a alemã, um constructo é mais comumente simbolizado por uma palavra composta, o que torna explícito o seu caráter composto, p. ex., Abw ehrjlam m enw erjer (lança-chamas defensivo). A palavra taucjue (em inglês, ta n k), em ,\(iturczi! c hiuição da Linviiaveiii
-
47
alemão é Raupaisoblepperpemzerkampfwíiíjeu (veículo de uso bélico se melhante a uma lagarta, autopropulsado e blindado). Isto tudo foi encurtado para panzer, um termo comum em filmes e livros.
Dimensões Lógica e Psicológica da Linguagem A linguagem tem aspectos lógicos e psicológicos, que podem ser ilustrados através de um olhar mais detido sobre as palavras bouse (casa) e bome (lar). Se bouse for representada por a b, então bome poderá ser repre sentada por a b x. Objetivamente, as definições (a dimensão lógica) de bouse e bome são similares e podem ser representadas pelas linhas ab; mas, subjetivamente, bome é uma palavra muito mais rica, pois ao seu conteúdo lógico soma-se um conteúdo emocional (a dimensão psicológica) associado à palavra e representado pela linha bx. O fato de que bouse praticamente não tem dimensão psicológica, en quanto bome tem muita, dá conta da diferença de efeitos produzidos pelas linhas que vêm a seguir, e que são equivalentes nas dimensões lógicas. ILUSTRAÇÃO: Dimensão psicológica da linguagem House, house, loved, loved house1 Theres no place like my house1Theres no place líke my house1 "Home, Home, sweet, sweet Home1 Theres no place like Home1Theres no place like Home1” - John Howard Payne, "Clari, the Maid of Milan”
D IM E N S Ã O L Ó G IC A DA L IN G U A G E M
A dimensão lógica ou intelectual de uma palavra é o seu conteúdo de pensamento, que pode ser expresso em sua definição conforme o dicionário. Em retórica isso se chama denotação da palavra. ANALOGIA: Dimensões lógica e psicológica da linguagem A dimensão lógica da linguagem pode ser comparada a um fio elétrico incandescente numa lâmpada transparente; o filamento mesmo é visível e seus limites estão claramente definidos. A dimensão psicológica pode ser comparada a uma lâmpada fosca, na qual toda a luz, é verdade, também vem do fila mento incandescente em seu interior, masa luz é suavizada e difusa pelo bulbo fosco, o que lhe dá um brilho mais bonito e "aconchegante"
A linguagem com uma dimensão puramente lógica é desejável em documentos legais e em tratados científicos e filosóficos, onde a
4 8- 0
T r iv iu m
clareza, precisão e unicidade de sentido são requisitos. Conseqüentemente, os sinônimos, que usualmente variam em nuances de sig nificado, devem ser evitados, e a mesma palavra deve ser utilizada em todo o texto para transmitir sempre o mesmo sentido,- se usada em outro sentido, tal fato deve ser deixado absolutamente claro. Palavras abstratas são normalmente mais claras e mais precisas que palavras concretas, pois o conhecimento abstrato é mais claro que o conhecimento sensível, ainda que menos vivido. Todavia, ao comu nicar conhecimento abstrato, o emissor deve empregar ilustrações concretas, das quais o ouvinte ou leitor poderá fazer a abstração por si mesmo, visto que assim ele compreenderá e tomará posse das idéias abstratas com muito mais proficiência do que se o emissor lhe entregasse tudo pronto. D IM E N S Ã O P S IC O L Ó G I C A DA LIN G U A G E M
A dimensão psicológica da linguagem está em seu conteúdo emo cional - as imagens relacionadas, as nuances e a emoção esponta neamente associada às palavras. Em retórica isso recebe o nome de conotação da palavra. Propagandistas de todos os tipos freqüentemente abusam do valor conotativo das palavras. Uma linguagem com rica dimensão psicológica é desejável na poe sia e na literatura em geral, onde o humor, o patbos (o que causa alguma empatia), a grandeza, a dignidade e a sublimidade são comunicados. Numa composição literária, devem ser usadas palavras que sejam mais concretas que abstratas, que sejam, pois, vernáculas e ricas em imagens. Sinônimos devem ser usados para se evitar a monotonia de sons e para transmitir as sutis nuances de significado, tanto na dimensão lógica quanto na psicológica. Uma atenção sensível quanto às sutilezas da linguagem, particu larmente na sua dimensão psicológica, permite que se reconheça o bom estilo da fala ou escrita de outros, além de cultivar o bom estilo em nossas próprias composições, quer orais ou escritas. Na dimensão lógica, a substância de uma dada composição pode ser traduzida quase que perfeitamente de uma língua para outra. Na dimensão psicológica, porém, a tradução é raramente satisfató ria. E por isso que poesia traduzida, usualmente, é menos agradável que na língua original. O som c a dimensão psicológica Várias características das palavras afetam a dimensão psicológica da linguagem.
'\iit u r e ia e 'Imuçilo chi Linguagem - 49
O mero som de uma palavra pode produzir um efeito agradável, ausente em outra palavra de mesmo sentido. Em "Silver", de Walter de la Mare, a substituição que o poeta faz das palavras shoes por sboon e W indows por casements é exemplo do uso que o poeta faz do som para criar um efeito psicológico. ILUSTRAÇÃO: 0 valor psicológico do som S il v e r
Slowly, silently, now the moon Walks the night in her silver shoon; This way, and that, she peers, and sees Silver fruit upon silver trees; One by one the casements catch Her beams beneath the silvery thatch; Couched in his kennel, like a log, With paws of silver sleeps the dog; From their shadowy cote the white breasts peep Of doves in a silver-feathered sleep, A harvest mouse goes scampering by, With silver claws and a silver eye; And moveless fish in the water gleam, By silver reeds in a silver stream. - Walter de la Mare
Estilo pedante
Um estilo pedante ou pomposo é psicologicamente desagradável. Compare os pares de frases, idênticas em seu significado lógico. ILUSTRAÇÃO: Estilo pedante Atentai1Todos os habitantes se retiraram para seus domicílios. Vejam1As pessoas foram todas para as suas casas. O domo abobadado do céu é cerúleo. O céu é azul.
Expressões idiomáticas (caráter específico de uma dada línejua) e efeito emocional
O efeito emocional de uma palavra, freqüentemente um sub produto de sua evolução histórica, diz respeito a esse caráter par ticular e específico de uma língua em determinado lugar e tempo, embutido nas expressões idiomáticas, que, não raro, se perde nas traduções. Os exemplos a seguir mostram que frases semelhantes quanto à dimensão lógica podem ser muito diferentes na dimensão psicológica. 90 - O Trivium
ILUSTRAÇÃO: Expressões idiomáticas Um jovem diz a uma jovem: "O tempo pára quando olho em seus olhos". Um outro diz "Seu rosto faz o relógio parar”. Durante uma reunião na ONU, um americano causou espanto e confusão entre os tradutores ao referir-se a uma proposta como sendo “pork barrei floatmg on a pink cloud". Já um seu compatriota podería facilmente entender essa intervenção como algo equivalente a "um plano impraticável financiado com fundos públicos e projetado somente para auferir ganhos políticos locais de caráter clientelista". [Aqui, uma possível tradução literal da expressão idiomática referida seria "um barril de carne de porco flutuando numa nuvem corde-rosa". Evidentemente, o resultado da tradução não tem sentido real algum.] As sras. Smith e Baker jantaram juntas. O sr. Schofield perguntou a elas: "Que tipo de carne vocês comeram1" Ps sra. Smith respondeu: "Eu comí porco assado". A sra. Baker disse: "Eu comí suíno assado".
Nós achamos a resposta da sra. Baker revoltante, porque "suíno" tem sido considerada palavra inadequada para o discurso polido em inglês e certamente inadequada para designar um tipo de carne. Isso é assim desde a conquista normanda em 1066. Depois disso, os anglo-saxões, conquistados e depostos, passaram a cuidar do ani mal vivo e o chamavam de suíno. Mas os aristocráticos normandos, a quem era servida a carne às mesas de banquete, chamavam-na de porco (pork), uma palavra derivada do latim via francês. Nestas lín guas, a mesma palavra é utilizada para designar o animal vivo e sua carne. As associações que ao longo dos séculos se desenvolveram em torno da palavra sw im são sentidas por pessoas falantes do inglês moderno, mas que muitas vezes sequer imaginam a resposta emo cional a que, não obstante, dão ensejo. A lusão Uma alusão é uma passagem no texto que faz referência a frases ou a outras passagens mais longas, e que o escritor dá como certo serem familiares ao leitor. As vezes o escritor muda um pouco as frases, mas, tanto iguais quanto modificadas, as alusões dependem do seu efeito de lembrança no leitor,- p. ex., W itb M a lice Toward Some é um título que deliberadamente pretende lembrar o leitor da frase de Lincoln em seu discurso de posse do segundo mandato, "with malice toward none". Para muito do seu efeito, uma alusão depende da dimensão psi cológica da linguagem, pois ela enriquece a passagem onde ocorre com nuances emocionais e idéias associadas ao contexto em que originalmente surgiu.
i\ Litiuviii e Função cht Linguagem - 5/
ILUSTRAÇÃO: Alusão Most of the paper is as blank [em branco, sem ser atingido] as Modreds shieldd - Rudyard Kipling, "The Man W ho Would Be King" E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias; foi assim que me encaminhei para o undtscovered country de Hamlet sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. - Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas Friend, on this scaffold Thomas More lies dead W ho would not cut the Body from the Head. [Amigo, neste cadafalso jaz Thomas More, ele que não queria separar o Corpo da Cabeça]1,1 - J. V. Cunnmgham, "Friends, on this scaffold
Para aqueles cuja experiência literária seja inadequada e que, por tanto, desconhecem a fonte da alusão, obras tais como as concordân cias da Bíblia ou de Shakespeare, ambos fontes freqüentes de alusões, serão muito úteis. Um dicionário de pessoas e lugares mencionados nas literaturas grega e latina explicará as alusões clássicas. Obviamente, a expectativa dos escritores que fazem alusões é a de que os leitores tenham tido contato direto com a literatura a que se referem. Uma das recompensas do estudo de literatura é a posse de uma herança de poesia e narrativa que faz com que muitos nomes e frases ecoem em ricas reverberações através dos séculos. A linguagem da alusão muitas vezes provê uma espécie de atalho verbal, que conecta e comunica em poucas palavras experiências partilhadas por pessoas em face de situações similares em todos os períodos da história humana. Combinação de palavras
A dimensão psicológica das palavras é especialmente afetada por suas combinações. Algumas combinações, particularmente de adjetivos e substan tivos e de substantivos e verbos, são "exatamente aquelas", p. ex.,17
17 Modred, personagem da mitologia anglo-saxã, enfrenta o mago Merlin e tem seu escu do atingido ferozmente por este último. Assim, o texto de Rudyard Kipling faz alusão a outro, muito mais antigo e tido como de conhecimento geral. (N T.)
'"Talvez a mais rica alusão citada pela irmã Miriam Joseph. Thomas More, católico devoto e conselheiro do rei Henrique VIII, foi decapitado por se recusar a obedecer ao rei numa disputa político-religiosa com o papa; More acreditava na unidade do Corpo Místico (Igreja) com a sua Cabeça (Cristo), representada pelo papa. Henrique VIII cria a Igreja Anglicana, cuja cabeça é ele mesmo, ressacralizando assim o estado (criação do Estado moderno). Por não poder servir a duas cabeças, Thomas More perdeu a dele. (N T.)
52 -
Ü
Trivittm
as seguintes combinações em Milton:''' "dappled dawn" [alvorecer rajado],- "checkered shade" [matiz axadrezado]; "leaden-stepping hours" [marcha plúmbea das horas]; "disproportioned sin jarred against nature s chinte" [um pecado desproporcional em clamorosa desarmonia com o ritmo da natureza]. Cai bem falar em azure light [luz azul-celeste], ou azure sky [céu de anil], ou num vestido de noite azul-celeste, mas não é adequado falar em avental azul-celeste, pois avental e azul-celeste se chocam na dimensão psicológica. Algumas combinações de palavras e pensamentos produzem uma concentração vivida de significado rico na dimensão psicológica. ILUSTRAÇÃO: Combinação de palavras ! have stained the image of God in my soul. [Eu manchei a imagem de Deus em minha alma.] - Catarina de Siena, Diálogo The flesh-smell hatred. [O ódio cheirando a carne humana.] - Eavan Boland, "The Death of Reason"
Entendimento lócjico e poe'tico
O que é falso quando tomado literalmente na dimensão pura mente lógica pode ser verdadeiro quando entendido imaginativa ou poeticamente na dimensão psicológica. ILUSTRAÇÃO: Uso poético da linguagem SONG
Go and catch a falling star, Get with child a mandrake root, Tell me where all past years are, Or who cleft the devils foot, Teach me to hear mermaids singing, Or to keep off envys stinging, And find W hat wind Serves to advance an honest mind. If thou be borne to strange sights, Things invisible to see Ride ten thousand days and nights, Ti11 age snow white hairs on thee,1
11John Milton (1608-1674), poeta, dramaturgo e político inglês, autor de O Paraíso Perdido. (N. T.)
F[atureia c Função da Linguagem - 5^
Thou, when thou returnst wilt tell me All strange wonders that befell thee, And swear Nowhere Lives a woman true, and fair. If thou findst one, let me know, Such a pilgrimage were sweet Yet do not, I would not go, Though at next door we might meet; Though she were true, when you met her, And last, till you write your letter, Yet she Will be False, ere I come, to two, or three - John Donne [Vai e agarra uma estrela cadente, (idéia de algo impossível, mas associada ao tempo passado, real e vivido, que não volta mais, mas por isso mesmo imutável) Emprenha uma raiz de mandrágora, (a mandrágora é uma planta usada em rituais de magia, com grande apelo ao imaginário, visto que a forma de suas raízes se assemelha ao corpo humano) Diz-me onde estão os anos que se foram, Ou quem fendeu os cascos do diabo, (nova alusão aos tempos imemoriais, quando tudo era bom e puro; os cascos fendidos do diabo são o símbolo bíblico que remete à bifurcação da vontade - ao pecadooriginal -, também simbolizada pela língua bifurcada da serpente no paraíso) Ensina-me a ouvir o canto das sereias, Ou então a manter-me longe das ferroadas do ciúme e da cobiça, Descobre que vento serve bem à alma honesta Se tu estás acostumado a estranhas visões, Às coisas invisíveis, Cavalga por dez mil noites e dias, (trinta anos - aqui a exatidão não importa -, dando idéia do transcurso de uma vida, do envelhecimento) Até que a idade os teus cabelos cubra de branca neve, Tu, quando retornares, tu me contarás Todas as estranhas maravilhas que a ti sobrevieram, E darás testemunho Que em lugar algum Vive uma mulher fiel, e formosa. Se tu achares uma, faz-me saber, Fosse doce tal peregrinação Mas não me contes, eu não iria, Pois ainda que na porta ao lado a pudéssemos encontrar; Ainda que ela fosse fiel quando a conheceste, Até que escrevas tua carta, Já terá ela sido infiel a dois ou três ]
Entendido literalmente em sua dimensão lógica, este poema é falso e até mesmo ridículo. Mas se entendido imaginativamente, como tem a intenção de sê-lo, uma vez que é metafórico, o poema
54 - O Trivimn
contém verdade emocional. O som mesmo e o movimento das pa lavras, além da simetria - o paralelismo das estruturas gramatical e lógica - das três estrofes, contribuem para o efeito agradável.
A Ambigüidade da Linguagem Uma vez que uma palavra é um símbolo, um signo arbitrário sobre o qual é imposto um significado, não pela natureza nem pela semelhan ça, mas por convenção, é por sua natureza mesma sujeita à ambigüi dade; porque, obviamente, mais de um significado pode ser imposto a um dado símbolo. Numa língua viva, de tempos em tempos e sob situações cambiantes, as pessoas comuns impõem novos sentidos a uma mesma palavra. Assim, as palavras estão mais sujeitas à ambi güidade do que estão os símbolos da matemática, da química ou da música, cujos significados são a eles impostos por especialistas. A ambigüidade de uma palavra pode surgir a partir; (1) dos vá rios significados a ela impostos no curso do tempo, constituindo a história da palavra,- (2) da natureza de um símbolo, de onde brotam as três imposições de uma palavra e as duas intenções de um termo,(3) da natureza do fantasma do qual a palavra é originalmente um substituto (ver Cap. 2, "Geração de um Conceito"). A M B IG Ü ID A D E Q U E BRO TA DA H IS T Ó R IA DAS PALAVRAS
O símbolo ou palavra adquire vários significados no decurso do tempo. O fato de um som ou palavra poder ter vários sentidos pode gerar ambigüidade porque o significado que está sendo simboliza do pode não ser conhecido. Tais palavras são homônimos, ambí guos ao ouvido, e que podem ou não se diferenciar na ortografia quando escritos. O som ambíguo pode ocorrer na mesma língua ou em línguas diferentes. ILUSTRAÇÃO: Ambigüidade quanto ao som Na mesma língua: road, rode; right, wright, rite, write; sound ("som, aquilo que se ouve"); sound (uma massa dãgua, canal, estreito); sound (sólido, confiável) Em línguas diferentes: pax (latim, "paz") e pox (inglês, "erupção cutânea") hell (alemão, "brilhante, vivo"; inglês, "inferno") mx (latim, "neve"; gíria inglesa, "nada") bright (inglês, "brilhante, lustroso") e breit (alemão, "amplo, largo")
Natureza e Função da Linguagem - 55
Uma dada notação é ambígua quando simboliza diferentes signifi cados, quer na mesma língua quer em línguas diferentes. Alguns homô nimos perdem sua ambigüidade quando escritos, p. ex., road, rode, brigbt, breit. Alguns a retém, p. ex., sound, bell.Já algumas palavras, não ambíguas quando faladas (sons diferentes), tornam-se ambíguas quando escritas, p. ex. tear (aqui se pronuncia ler —rasgar, romper) e tear (lágrima). Um dicionário registra os significados que foram impostos so bre uma dada notação ao longo da história daquela língua. Uma obra como A Dictionaryof Modem Englisb Usage, de Fowler, concentrase particularmente nos usos atuais. Já o Oxford Englisb Dictionary se dá ao trabalho de, se possível, fornecer as datas de quando novos sentidos foram impostos sobre uma palavra, citando passagens que ilustram aquele uso particular Um exemplo de uma nova imposição é aquele sobre suástica, tanto sobre a palavra quanto sobre o símbolo gráfico. Depois da revolução de 1918 na Alemanha, a suástica, que era um antigo sím bolo de boa sorte, foi adotada pelo Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (Partido Nazista). Ainda um outro exemplo é a imposição do sentido de "grupo de traidores, trabalhando desde dentro" sobre quinta coluna. Em 1936, durante a Guerra Civil Espanhola, o general Emilio Mola declarou que capturaria Madri porque, além das quatro colunas de tropas de que dispunha cercando a cidade, tinha também uma quinta coluna de simpatizantes dentro da cidade. A relação entre os vários sentidos que foram sendo impostos so bre uma dada notação pode ser ecjuívoca, nada tendo em comum - p. ex., sound, "estreito, canal", e sound, "som" -, ou analógica, tendo algo em comum —p. ex., marcb, "um passo medido e regular", e marcb, "uma composição musical para acompanhar o marchar". AM BIGUIDADE SURGIDA DA IM P O S IÇ Ã O E DA IN T E N Ç Ã O
A ambigüidade é causada pela própria natureza de um símbolo, da qual surgem as três imposições de uma palavra e as duas intenções de um termo. O propósito último das palavras e dos termos é o de transmitir a outrem idéias acerca da realidade. Mas entre a realidade tal como ela existe e como alguém a apreende e a expressa há uma quanti dade de passos intermediários: a criação de um fantasma, a criação de um percepto e a criação de um conceito. Se alguém usa uma palavra, ou um termo, para que esta se refira dire tamente a uma realidade que não ela mesma, a aquilo que conhecemos, 6 - O 'írivium
então é usada predicativamente (i. e.( dita sobre outra palavra, referida à outra, referida à realidade que simboliza). Este é o uso comum de uma palavra ou um termo: é então usada na primeira imposição e na primeira intenção. Se, contudo, alguém usar uma palavra, ou um termo, para que esta se refira a si mesma, como um instrumento em qualquer dos passos intermediários pelos quais sabemos ou simbolizamos o que sabemos, então é usada reflexivamente (i. e., referindo-se a si mesma, como um conceito, um som, um sinal, um substantivo, etc.). Este é o uso peculiar de uma palavra ou um termo numa imposição ou intenção diferentes do uso comum, como pode ser visto nos exemplos a seguir. ILUSTRAÇÃO. Imposição e intenção Joana amava um homem. (Aqui, homem refere-se a um outro, a um homem real que existe; portanto, homem é aqui usado na primeira imposição e na primeira intenção). Homem é um dissílabo. (Aqui, a palavra homem refere-se a si mesma como um mero som; pode-se saber que homem é um dissílabo sem sequer saber o significado; portanto, homem é aqui usado na imposição zero. É falso dizer "Um homem é um dissílabo", poiso artigo indefinido "um" refere-se a um homem real e não a um mero som. Joana não amava um dissílabo). Homem tem cinco letras. (Aqui, homem refere-se a si mesmo como uma mera notação; pode-se ver que homem, quando escrito ou impresso, tem cinco letras sem saber o significado; portanto, homem é aqui usado na imposição zero. É falso dizer "Um homem tem cinco letras", pois o artigo indefinido "um” refere-se a um homem real e não a uma mera notação. Joana não amava cinco letras). Homem é um substantivo. Homem é o objeto direto de amava. (Aqui, homem - e também amava refere-se a si mesmo como uma palavra, um signo com significado. Não é possível classificar gramatical mente uma palavra, quer como parte de um discurso quer como sujeito ou algo semelhante, sem saber o seu significado; homem aqui é usado precisamente como uma palavra, como um signo com significado, e é dito para ser usado na segunda imposição. É falso dizer "Um homem é um substantivo" ou "Um homem é o objeto direto de amava", pois com o artigo, homem refere-se a um homem real, e não à palavra. Joana não amava um substantivo nem um objeto direto). Homem é um conceito. Homem é um termo. Homem é uma espécie. (Aqui o termo homem refere-sea si mesmo como uma idéia na mente, ou como uma idéia comunicada, ou como uma natureza de classe - todos eles [termos] abstrações lógicas; aqui o termo homem é usado na segunda intenção ao referirse a si mesmo como termo e não como homem real. É falso dizer "Um homem é um conceito" - ou um termo ou uma espécie - porque, com o artigo, homem refere-sea um homem real, a uma entidade física, e não a uma entidade lógica. Joana não amava um conceito, ou um termo, ou uma espécie). Homem é uma substância. (Aqui, a palavra ou o termo homem refere-se a um outro, a um homem real, que é uma substância. As categorias são, principal e fundamentalmente, classificações metafísicas do ser real; homem é aqui usado na primeira imposição e primeira intenção. É verdadeiro dizer "Um homem é uma substância" Joana amava uma substância).
Uma vez que uma palavra é um símbolo, i.e., um signo sensível com significado, pode ser usada em qualquer uma das três imposições.
i\íilurezci e Futiçáoihi Linguagem
-
57
A primeira imposição é o uso predicativo habitual de uma palavra com referência apenas ao seu significado e à realidade que sim boliza (sua refe rência a outro, p. ex., a uma criança real, um cachorro, uma árvore), sem chamar a atenção para a palavra em si como um signo sensível. A palavra é então usada como uma janela ou como óculos através dos quais vemos objetos dos quais não estávamos cônscios. A imposição zero é o uso reflexivo de uma palavra com refe rência apenas a si mesma, enquanto signo sensível (um som ou uma notação), sem chamar a atenção para o seu significado, o qual não precisa sequer ser conhecido. Quando uma palavra é usada na im posição zero, é como se olhássemos para a janela ou para os óculos como objetos finais, e não através deles. A propósito, esse não é o uso habitual das palavras janela e óculos. A fonética preocupa-se com a palavra enquanto som, pois lida com sua pronúncia correta, com a similitude dos sons finais em palavras que rimam, etc. A orto grafia, por sua vez, preocupa-se com a palavra enquanto notação. ILUSTRAÇÃO: Imposição zero Rubrica é comumente pronunciada incorretamente. Árvore é uma proparoxítona. Mulher tem duas sílabas. Apague menina e escreva moça. Humilde tem sete letras.
A imposição zero é também a base de um tipo de enigma ou charada. ILUSTRAÇÃO: Imposição zero em charadas Nabucodonosor, Rei dos judeus' Soletre isso com seis letras e eu lhe conto as novidades. Resposta:J- U- D- £- U- S (quatro para Jews). Que palavra em inglês é pronunciada mais freqüentemente incorretamente7 [Aqui é também uma questão de ordem na frase e a resposta óbvia é "incorretamente". Que outra palavra, além de "incorretamente", podería ser pronunciada corretamente como signo de incorretamente além de "incorretamente" mesmo7]
A segunda imposição é o uso reflexivo de uma palavra,- refere-se a si mesma precisamente como palavra, com referência tanto ao sig no sensível quanto ao significado. Este uso da palavra é confinado à gramática,- uma palavra não pode ser classificada pela gramática sem
5 8 - 0 Trivium
que seu significado seja conhecido. A gramática é, assim, a ciência das segundas imposições. ILUSTRAÇÃO: Segunda imposição Pular é um verbo. Sobre o morro é uma sentença. Bolo é o objeto direto de está comendo.
Cada palavra, frase ou oração, não importando que classificação morfológica tenha no uso habitual, torna-se um substantivo quando na segunda imposição ou na imposição zero, pois então nomeia a si mesma. Palavras na imposição zero ou na segunda imposição devem ser apresentadas graficamente em itálico. Palavras da ciência da gramática e palavras das ciências da foné tica e da ortografia, como todas as palavras, podem ser usadas em cada uma das três imposições. ILUSTRAÇÃO: Palavras da gramática, fonética e ortografia, usadas em variadas imposições Frtamente é um advérbio. (Friamente está na segunda imposição; advérbio está na primeira imposição, pois se refere a uma outra palavra, a fnamente, e não a si mesma). [A palavra] Advérbio é um substantivo. (Advérbio está na segunda imposição.) Um advérbio não é um substantivo. (Advérbio está na primeira imposição e substantivo está na primeira imposição porque ambas se referem a outras palavras, e não a si mesmas.) Advérbio tem três sílabas. (Advérbio está na imposição zero; sílabas está na primeira imposição porque se refere a outra palavra, a advérbio, e não a si mesma.) Sílabas é um substantivo plural. (Sílabas está na segunda imposição; substantivo está na primeira imposição.) Escreva sílabas no quadro-negro. (Sílabas está na imposição zero, referindo-se a si mesma como mera notação.)
Primeira imposição: uma palavra usada para fazer referência direta à realidade. Imposição zero: uma palavra usada reflexivamente com referência a si mesma enquanto signo sensível. Fonética (pronúncia) Ortografia (soletração) Segunda imposição: uma palavra usada reflexivamente com referência ao signo sensível e ao significado. A gramática é a ciência da segunda imposição. 2.S Imposição
das palavras
iSiiturezii c Função cia LhigMigem
-
59
Uma vez que um termo é uma palavra ou símbolo que transmite um significado particular, pode ser usado em qualquer das duas inten ções. A primeira intenção é o uso predicativo usual do termo para se referir à realidade. Esta é a sua referência ao outro, à realidade (a um indivíduo ou a uma essência). Um termo usado na primeira intenção corresponde exatamente a uma palavra usada na primeira imposição. O termo é então usado como óculos através dos quais vemos objetos de que não tínhamos ciência. A segunda intenção é o uso reflexivo de um termo para referir-se a si mesmo como um termo ou conceito, aquele pelo qual conhecemos, e não o que conhecemos.20 ILUSTRAÇÃO: Segunda intenção Cadeira é um conceito. Cadeira é um termo. Cadeira é uma espécie de móvel. (Não podemos nos sentar num conceito, ou num termo, ou numa espécie, ou em qualquer ente meramente lógico. Podemos nos sentar numa cadeira real, que é um ente físico). Aqui, o termo é usado como óculos para os quais olhamos, em vez de através deles para ver alguma outra coisa.
O uso de um termo na segunda intenção é restrito à lógica,- por tanto, a lógica é a ciência das segundas intenções, tanto quanto a gramática é a ciência das segundas imposições. Os termos pecu liares à ciência da lógica, assim como outros termos, podem ser usados em qualquer das duas intenções. ILUSTRAÇÃO: Termos lógicos usados na primeira e segunda intenções Quadrado é um conceito. (Quadrado está na segunda intenção porque se refere a si mesmo como conceito; conceito está na primeira intenção porque se refere ao quadrado e não a sí mesmo). Um quadrado é um conceito. (Quadrado está na primeira intenção; conceito está na primeira intenção. Nenhum se refere a si mesmo e a afirmação é falsa). Um conceito deveria ser claro. (Conceito é um termo usado na primeira intenção, porque predicativamente se refere a outros conceitos e não refiexivamente a sí mesmo) Um cavalo não pode formar um conceito. (Conceito está na primeira intenção). Conceito é um termo. (Conceito está na segunda intenção, referindo-se a si mesmo como um termo).
Primeira intenção; uma palavra é usada para se referir à realidade. Segunda intenção: uma palavra é usada refiexivamente para referir-se a si mesma como termo ou como conceito. A lógica é a ciência das segundas intenções. 2.6 Intenção das palavras
Palavras na segunda intenção nao sao grafadas em itálico.
6o - O rrir/iuv
AM BIGUIDADE Q U E SU RGE DA NA TU REZ A D O FANTASMA
O fantasma é uma imagem mental de um objeto ou objetos fora da mente (a designação ou extensão21 do termo); desta imagem o intelecto abstrai o conceito (o significado ou intenção do termo) na mente. Por causa desse caráter triplo do fantasma, do qual a palavra é originalmente um substituto, a palavra é sujeita a três tipos de ambigtiidade: 1. A ambigtiidade pode surgir da imagem que a palavra evoca. A palavra cachorro espontaneamente evoca imagens diferentes num montanhês suíço, num caçador inglês ou num explorador do Ár tico. Assim, o poder das palavras afeta a dimensão psicológica da linguagem e é especialmente importante na composição literária. A ambigtiidade pode emergir da extensão ou designação de uma palavra - o objeto ou objetos aos quais o termo pode ser aplicado, sua referência externa. O propósito fundamental de um nome pró prio é designar um indivíduo em particular ou um agregado,- ainda assim, um nome próprio é por vezes ambíguo na designação porque o mesmo nome foi dado a mais de um indivíduo ou agregado dentro da mesma espécie, p. ex., William Shakespeare, poeta dramático, 1564-1616, e William Shakespeare, um carpinteiro. Fazer com que nomes próprios sejam claros e sem ambigtiidade é um problema especial na confecção de documentos legais tais como testamentos, escrituras e contratos. Se um homem deixasse metade de seus bens a João da Silva, muitos requerentes aparece ríam, a menos que o herdeiro fosse designado menos ambiguamen te a ponto de excluir qualquer outra pessoa exceto o João da Silva que o doador realmente tinha em mente. Listas telefônicas adicionam endereços e outras descrições em píricas aos nomes próprios num esforço de evitar a ambigtiidade em suas referências. As fichas de identificação de criminosos são tentativas de tornar nomes próprios não-ambíguos, adicionando a eles uma descrição empírica, uma fotografia e impressões digitais, que são consideradas únicas, no mais verdadeiro sentido do termo, pois não há duas exatamente iguais. Uma descrição empírica é menos ambígua na designação do que um nome próprio, p. ex., o primeiro presidente deste país. 2. A ambigtiidade pode surgir porque um nome comum, tal como homem, navio, casa, morro, pretende ser aplicado a qual-1
1A extensão reíere-se a todos os itens que uma palavra denota. Por exemplo, na frase "Ar vores decíduas perdem suas folhas no outono", a sentença árvores decíduas |que trocam/perdem folhas periodicamente| inclui todas as árvores decíduas que existiram ou existirão.
Natureza e Função da Linguagem - 61
quer objeto da classe nomeada e, portanto, pretende ser geral, ou universal, em sua designação. Por exemplo: as designações ou a extensão plena de oceano são cinco ,-22 de amigo, referindo-se a você, é o número de seus amigos,- de montanha, árvore, livro, é o número total de objetos passados, presentes ou futuros a que o termo pode ser aplicado. 3. A ambigüidade pode surgir porque tanto nomes comuns quan to próprios podem adquirir muitos significados,- em outras palavras, a intensão,2^ ou intensidade, ou significado, ou conceito podem ser muitos. O propósito primeiro de um nome comum é ser preciso quanto ao significado, ou intensão,- não obstante, um nome comum freqüentemente é ambíguo na intensão porque uma variedade de significados foram sobre ele impostos. Por exemplo, sound pode significar "algo que se ouve" ou "uma massa d água". Cada uma dessas descrições de sound é dita uma descrição geral, ou universal. A descrição geral é menos ambígua no sentido/significado do que o nome comum. Uma definição é uma descrição geral perfeita. O dicionário lista os vários significados que constituem a ambigüidade intensional das palavras. As palavras definidas são nomes comuns,- as definições são descrições gerais ou universais. Um nome comum é usado primei ramente em intensão (apesar de ter extensão) em contraste com um nome próprio, que, por sua vez, é usado primeiramente em exten são (apesar de ter intensão). Um nome próprio, como George Washington, p. ex., apesar de usado primordialmente para designar um indivíduo, deve designar um indivíduo de alguma espécie em particular: um homem, uma ponte, um hotel, uma cidade, porque cada indivíduo é membro de alguma classe. Uma vez que o indivíduo designado pode ser um de várias es pécies diferentes, um nome próprio pode ser ambíguo na intensão. Por exemplo, Bryn Mawr pode designar uma famosa escola superior ou uma pequena cidade na Pensilvânia. Madeira pode designar um grupo de ilhas no Oceano Atlântico próximas ao Marrocos, um rio no Brasil ou um tipo de vinho forte.
22Conforme alguns dicionários: Oceanos Antártico, Ártico, Atlântico,
Indico e Pacífico. (N T.)
2! A palavra mfensáo (intensidade) significa a soma de atributos contidos numa palavra, lulaiçcío significa a maneira na qual a palavra é usada. Na (rase "Rosas margeando o caminho que leva ao chalé do jardim", rostis é usada na primeira intenção porque simboliza a realidade da flor. Sua intensão (ou significado) é uma flor com caule espinhoso, lolhas arranjadas de forma pinulada e pétalas coloridas variegadas.
62 - O iriviiuu
AM BIGUIDADE DELIBERADA
Apesar de a ambigiiidade ser, nas comunicações intelectuais, uma falha contra a qual todos os cuidados devem ser tomados, ela é, por vezes, buscada deliberadamente na comunicação esté tica ou literária. A ironia é o uso das palavras com o fito de transmitir um sig nificado exatamente oposto àquele normalmente transmitido por elas. (E uma forma de ambigiiidade deliberada na intensão [soma de atributos contidos na palavral). Um trocadilho ou jogo de palavras é o uso de uma palavra simul taneamente em dois ou mais sentidos. (Também é uma forma de ambigiiidade deliberada na intensão). Em nossa época, o trocadilho é comumente considerado uma forma trivial de humor. Todavia, já foi tido em alta estima por Aristóteles, Cícero e pelos mestres da retórica24 da Renascença (que classificavam o trocadilho entre as quatro figuras de linguagem). Foi usado por Platão, pelos dramatur gos gregos e pelos pregadores e escritores da Renascença, freqiientemente de uma maneira séria. ILUSTRAÇÃO: Ambigiiidade deliberada If he do bleed, III gild" the faces of the groom withal, For it must seem rheir guilc. - Macbeth 2.2.52-54 Now is it Rome indeed, and room’1' enough When there is in it but one only man1 -Julius Caesar 1.2.156-7 William Somer, o bobo da corte de Henrique VIII, vendo que ao rei faltava dinheiro, disse: "Vós tendes tantos Fraudadores, tantos Contraventores e tantos Receptadores para obter-vos dinheiro que eles o obtêm todo para eles mesmos" [Fazendo jogo de palavras com auditores, supervisores e recebedores ou coletores], - Thomas Wilson, The Arte of Rhetonque (1553)
Talvez seja útil lazer a distinção entre rclor e retórico: o primeiro, o praticante da técnica, o segundo, o estudioso da técnica. Cícero, p. ex., exerceu as duas atividades. (N. T.) Cobrir com ouro, folhear a ouro. Aqui, o sentido de ijilii é smear witb hlood, lambuzar com sangue. Golii era, com frequência, também chamado mi (vermelho). A referência inicial a bleed (sangrar) e a rima de ifild com i)uilt (culpa) e a aparência desta dão conta da ambigüidade pretendida (N T.) Shakespeare, o mestre do />n», joga com os sons de Home e room. Na intensão, room é quarto e é também espaço. Para o homem que tomara o poder de toda Roma, não haveria mais quem ocupasse o seu espaço de único senhor. (N. T.)
Natureza e Função da Linguagem - 63
Metáfora é o uso de uma palavra ou sentença para evocar duas imagens simultaneamente, uma literal e outra figurada. (E a ambigüidade deliberada de imagens). A metáfora é de grande valor na poesia e em toda a produção literária imaginativa, incluindo os melhores escritos científicos e filosóficos. Aristóteles considerava a metáfora como uma propor ção comprimida, uma afirmação de igualdade entre duas razões. A proporção pode ser representada por extenso assim: u.-ír c-.d (a/b = c/d). A proporção comprimida é a é c. ILUSTRAÇÃO: M etáfora como uma proporção comprimida O Wild West Wind, thou breath of Autumns being. (a é c) - Percy Bysshe Shelley, "Ode to the West Wind" West Wind [vento] (a) está para Autumn [outono] (b) assim como breath [o sopro de vida] (c) está para o ser humano (d). (a:b::c:d) The moon is a boat. [A Lua é um barco] (a é c) lhe moon [a lua] (a) move-se pelo céu (b) como um boat [barco] (c) navega sobre o mar (d). (a:b:c:d).
Uma metáfora morta é aquela que por certo tempo evocou duas imagens, mas que agora falha em fazê-lo e normalmente porque aquilo que uma vez foi apenas o sentido figurado suplantou completamente o que fora o sentido literal. Na citação "Teus pesares [dores, sofrimentos] são as tribulações da tua alma", tributações é uma metáfora morta. Tnbulum já significou debulhadeira [para separar o milho da casca,- para deixar o melhor], Esta metáfora, usada pela primeira vez por um escritor cristão dos primeiros tempos, era tão boa que tributação veio a significar sofri mento e pesar e perdeu seu significado original, debulhação. Seu uso metafórico tornou-se o próprio uso habitual. Nós não mais reconhece mos a metáfora. Tributação agora evoca apenas uma imagem, e não duas,portanto, a frase é uma metáfora morta. Mau-of-war é uma metáfora morta. Originalmente, tinha a força da seguinte proporção: um navio está para uma batalha naval assim como um guerreiro está para uma batalha em terra (u b .c.d). Portan to, um navio de guerra é um mau of war (a é c ). O sentido figurado transformou-se em sentido literal, pois mau-of-war significa hoje ape nas um navio de guerra. Candidato "vestido de branco" e arranha-céu são outras metáforas que perderam seu sentido original.27 2' A metáfora Li Uuiitiale "clothcíí tu ipbttc" (Candidato "vestido de branco"! perdeu o sentido original na língua inglesa (metáfora originária do latim; CíimMiiíHS, passando pelo francês qiiitíuíat, até chegará língua inglesa como GJndidíi/r). Lcuu lid significa cândido, franco, honesto,
64 - O
Jriviwu
Na série de significados atribuídos a uma palavra como sprint), p. ex., é possível observar como significados novos, derivados do fundamental por uso figurado, mais tarde se tornaram significados usuais, perdendo assim sua qualidade figurada. O dicionário lista os seguintes significados para sprint): (1) Saltar, pular, saltitar,- (2) O brotar de uma planta a partir de uma semente, o brotar de uma corrente a partir de sua fonte, etc.,- (3) Uma saída, fluxo de água a partir da terra,- (4) Um dispositivo elástico que recupera sua forma original quando liberado após ter sido distorcido [mola],- (5) Uma estação em que as plantas começam a crescer,- (6) Tempo de cresci mento e progresso. (Apesar de o dicionário listar este último como um sentido habitual de sprint), a frase "A juventude é a primavera (sprint)) da vida" ainda é tida, mesmo que suavemente, como uma metáfora). Ironia: o uso das palavras para transmitir o sentido exatamente contrário àquele normalmente transmitido pelas palavras. Trocadilho (jogo de palavras): o uso de uma palavra em dois ou mais sentidos, simultaneamente. Metáfora: o uso de uma palavra ou sentença para evocar duas imagens simultaneamente. 2-7 Am biguidade
deliberada
O TRIVIUM Após as considerações precedentes, o leitor pode agora entender melhor o escopo e o alcance comparativo das três artes do trivium: lógica, gramática e retórica, já discutidas no capítulo anterior. Ao observador é possível distinguir as faculdades da mente: cognição, apetição e emoção. A cognição inclui a cognição inferior ou sensória, que produz perceptos, e a cognição superior ou racional, que produz conceitos. A apetição inclui os apetites inferiores ou sensíveis, que basicamente buscam comida, vestuário e abrigo, e o apetite superior ou racional, a vontade, que busca o bem e a unida de da verdade e beleza como aspectos do bem.
isto é, alvo e imaculado. A metáfora original fazia descrição das togas brancas dos candi datos ao senado da antiga república romana. Por sua vez, o branco das togas simbolizava a ausência de nódoas no candidato, porque este deveria possuir atributos de honorabilidade e incorruptibilidade. Em inglês, porém, clolheJ, além de vestido e coberto, tem também o sentido de oculto, escondido, dissimulado, o que vai de encontro ao sentido original, dando a entender que o candidato apenas finge ser alguém sem mácula. De metáfora, a expressão passou a ser entendida como ironia sarcástica. (N. T.)
Natureza e Função da Linguagem - 65
A emoção é um tom agradável ou doloroso que pode acompa nhar o exercício tanto das faculdades sensoriais quanto racionais. O prazer é concomitante ao exercício normal e saudável de qualquer uma das faculdades. A dor é concomitante ao exercício excessivo, inadequado ou mesmo inibido de qualquer uma de nossas faculda des. A Lógica diz respeito ou lida apenas com as operações do inte lecto, com a cognição racional, e não com a volição, nem com as emoções. A Gramática dá expressão a todos os estados da mente ou da alm acognitivo, volitivo e emocional - em frases que são afirmações, perguntas, desejos, orações [preces], ordens e exclamações. Neste sentido, a gramática tem um escopo mais amplo do que a lógica,- e assim também a retórica, que tudo isso comunica a outras mentes. A Retórica faz um cotejo entre símbolos gramaticais equivalentes para então escolher a melhor idéia a ser comunicada numa dada circunstância, p. ex., corcel ou cavalo. A gramática lida apenas com a frase, com um pensamento,- a lógica e a retórica lidam com o dis curso estendido, projetado, com as relações e combinações de pen samentos. A lógica dirige-se apenas ao intelecto,- a retórica, incluindo a poesia, dirige-se não apenas ao intelecto, mas também à imaginação e às afeições, a fim de comunicar o agradável, o cômico, o patético e o sublime. A lógica pode funcionar sem a retórica ou a poesia, mas estas são rasas sem a lógica. A gramática é requisito de todas. Se as imperfeições de uma língua comum, especialmente a sua ambigüidade, são percebidas, podemos mais prontamente entender o valor das regras da gramática, da lógica e da retórica como meio de interpretação. Por exemplo, as regras da gramática nos guiam para a correta leitura das linhas seguintes, freqüentemente mal interpreta das. Qual é o sujeito da primeira frase? Qual é o predicado?2” A jactância dos brasões, a p om pa do poder, E toda aquela beleza, tu d o que a riqueza jamais p ô d e dar A hora inevitável igualmente espera: Pois os caminhos da glória, inexoráveis, tam bém levam à sepultura. - Thom as Cray, "Elegy Written in a C o u n try Churchyard"
M Na estrofe da "Elegy”, de Cray, espera está na terceira pessoa do singular do verbo esperar. Hora é o sujeito de espera. Na ordem normal |em inglês ou português| das palavras, a frase
seria lida assim: "A hora inevitável espera a jactância dos brasões, a pompa do poder e toda aquela beleza, tudo que a riqueza jamais pôde dar"
66 - O 'Iriviitm
E verdade que o uso correto da gramática, da retórica e da lógica (com freqüência com base apenas em conhecimento implícito) é da máxima importância. Os hábitos diários de pensamento e expres são em casa e na escola medem nosso domínio pessoal prático da língua. Não obstante, o conhecimento formal da gramática, da re tórica e da lógica (conhecimento explícito) é também valioso, pois nos permite saber por que certos raciocínios e expressões estão corretos ou são eficazes, e já outros, exatamente o oposto; ademais, esse conhecimento explícito nos permite aplicar as regras à fala, escrita, audição e leitura. O ser é o ser do rodo individual ou é a essência que é comum aos indivíduos de uma espécie ou gênero. O fantasma é (1) uma imagem menral de (2) um objero fora da mente (sua referência exrensional) a partir da qual o intelecto abstrai (3) o conceito na mente (sua referência inrensionaí) Um símbolo é um signo sensível arbitrário que tem um significado sobre ele imposto por convenção. (Um conceito não é arbitrário) A linguagem tem uma dimensão lógica e uma dimensão psicológica Matéria e forma constituem um todo composto. 2-8
Idéias-chave no Capitulo 2
Natureza e Função da Linguagem -67
3. GRAMATICA GERAL GRAMÁTICA GERAL E GRAMÁTICAS ESPECIAIS A gramática geral' diz respeito à relação das palavras com as idéias e com as realidades, enquanto uma gramática especial, tal como a inglesa, a latina, a francesa ou a portuguesa, diz respeito principal mente à relação das palavras com as palavras, como, por exemplo, na concordância entre sujeito e verbo quanto a pessoa e número, ou, então, na concordância entre adjetivo e substantivo quanto a número, gênero e caso. A gramática geral é mais filosófica que as gramáticas especiais porque está mais diretamente relacionada à lógica e à metafísica ou ontologia. Conseqüentemente, ela difere um pouco das gramáti cas especiais no que diz respeito ao ponto de vista e à classificação re sultante, tanto na análise morfológica2 quanto na análise sintática.3
MORFOLOGIA NA GRAMÁTICA GERAL Do ponto de vista da gramática geral, a distinção essencial entre as palavras é entre palavras categoremáticas e sincategoremáticas. Palavras categoremáticas são aquelas que simbolizam alguma forma do ser e que podem, correspondentemente, ser classificadas nas dez categorias do ser - substância e nove acidentes.4 Palavras categoremáticas, portanto, são de duas grandes classes: (1) subs tantivas, que fundamentalmente simbolizam a substância, e (2) atributivas, que simbolizam acidentes.2 A partir deste ponto de vista, O Capítulo 3 apresenta conceitos gramaticais que podem ser aplicados a todas as línguas àquelas hoje existentes, às não mais usadas e àquelas ainda por inventar. A gramática geral descreve a relação entre linguagem e realidade. A gramática geral formula a pergunta: como é que o intelecto usa a linguagem para traduzir a realidade -1 ’ Na língua inglesa, ()ur!-of-s|im.í.> analysis faz parte de uma morpholoilical analysis mais ampla. Em português, análise moijolót)ica é tradução adequada para f>art-oJ-sf>eecb analysis. (N. T.) 1A sintaxe se refere aos arranjos de palavras em frases. 4 As dez categorias do ser, apresentadas no Capítulo 2 , são a substância e os nove aciden
tes: quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, c/mindo, onde, postura e estado. ’ A palavra acidente vem do latim accidere, acontecer. Normalmente, acidentes se referem aos eventos que não podem ser previstos. Nas dez categorias do ser, porém, acidentes são aqueles elementos que não podem existir sozinhos. Acidentes existem na substância. Alguns acidentes são essenciais à substância, no sentido de torná-la o que é; já outros
( jniim ítica Cjeral - 69
verbos e adjetivos sao adequadamente classificados igualmente como atributivos, como acidentes que existem na substância, por que a ação, assim como a qualidade ou a quantidade, deve existir na substância. Estas distinções são um notável exemplo das diferenças de pontos de vista entre as gramáticas geral e as especiais. Palavras sincategoremáticas são aquelas que só têm significado junto a outras palavras, pois, tomadas por si mesmas, não podem ser classificadas nas categorias. Elas não simbolizam o ser. De fato, são mero cimento gramatical, por meio do qual, numa frase, rela cionamos palavras categoremáticas que simbolizam o ser. Por esta razão, são às vezes chamadas de palavras gramaticais. As palavras sincategoremáticas são de duas classes: (1) definitivas, que chamam a atenção para as substâncias, e (2) conectivas, que ligam ou pala vras, ou frases ou sujeitos e predicados. ANALOGIAS: Diiferença entre símbolos categoremáticos e sincategoremáticos Na música, as notas são símbolos categoremáticos, enquanto as marcações do tempo, do fraseado, do staccato ou legato, etc. são símbolos sincategoremáticos de operação. Na matemática, os números, figuras, ângulos, etc. são símbolos categoremáticos, enquanto +, -, x, %, =, etc. são símbolos sincategoremáticos de operação que indicam como os símbolos categoremáticos se relacionam.
Dando prosseguimento, na gramática geral distinguimos quatro categorias morfológicas fundamentais: substantivos,6 atributivos, definitivos e conectivos. Porém, podemos ainda subdividir essas quatro e distinguir nove ca tegorias,- e se adicionarmos a interjeição, que por razões explicadas mais adiante não pode ser considerada precisamente como categoria morfológica, a lista sobe a dez, como segue: substantivos (nomes),' prono mes, verbos, adjetivos, advérbios, definitivos (especificam o indivíduo referido), preposições, conjunções, a "pura" cópula (aquela parte da proposição que conecta o sujeito [S] e o predicado LPJ, segundo o mo delo Se P; o verbo ser como mero signo de predicação, sem significação semântica,- um outro verbo com função similar) e as interjeições. acidentes não são essenciais. Considere a frase "Uma pessoa pensa" Pcssot? é uma substân cia e como tal é uma realidade desiynada por um substantivo. Pensu é uma ação (um dos nove acidentes dentro das categorias do ser) e como tal é uma realidade desiynada por um verbo. A habilidade de pensar é uma qualidade essencial à natureza humana, mas não é uma qualidade que exista fora da pessoa. 6 No oriyinal, subshuiline refere-se ao que expressa existência (verbo) ou desiyna a substân-
cia (substantivo). E nesta seyunda acepção que aparece como uotui ($n/>sl M odo E A E
e
d / P
S
P
Estes sapatos não machucarão seus pés.
d S
Figura 1
Inválida: processo ilícito do termo maior
Expansão b S M Estes sapatos não são curtos demais.
d
s
e
d M
Figura II
P M Sapatos que machucam os pés são curtos demais.
d p
a
nd M
Modo E A E
e
d P
Válida
S P Estes sapatos não machucarão seus pés.
d
s
Apesar de a expansão b ser formalmente válida, a premissa maior é falsa. É verdadeiro que sapatos curtos demais machucam os pés, mas não é verdadeiro que todos os sapatos que machucam os pés são curtos demais, pois eles podem machucar os pés porque são estreitos demais ou por outras razões. Uma proposição A não é validamente conversível em A, a menos que seja uma definição, e esta proposição A não é uma definição. Este entimema é um raciocínio errôneo porque há um erro em ambas as expansões.5
5Aqui, a irmã Miriam Joseph está fazendo uma distinção entre os aspectos formais e mate riais de um silogismo, ou de um entimema. Se um silogismo, ou um entimema, segue as r e gras da lógica, resulta em um silogismo, ou um entimema, válido. A validade é uma relação tal entre premissas e conclusões que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não poderá ser falsa. Analisar um silogismo formalmente não envolve análise da veracidade ou falsidade das premissas. E possível ter um silogismo formalmente válido com as premissas falsas e uma conclusão verdadeira, ou com premissas falsas e uma conclusão falsa, mas nunca com premissas verdadeiras e uma conclusão falsa. (TM)
iyo - 0 7 riviim i
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. (Mt. 5 8) A conclusão está declarada numa ordem de palavras anormal, com o predicado (um particípio ou um adjetivo) em primeiro lugar, para efeito de ênfase. A expansão natural é como segue: S M Os limpos de coração verão a Deus.
d S
a
M P Aqueles que verão a Deus são bem-aventurados.
d M
a
P
S P .'.Os limpos de coração são bem-aventurados.
d S
a
nd P
nd M
Figura 1
nd Modo A A A
Válida
Uma vez que este entimema é válido nesta expansão, não é necessário expandi-lo na segunda figura.
Isso é bom demais para ser verdade. Nesta frase há três termos e duas proposições. (Por economia de espaço, os termos e a distribuição não são assinalados em algumas das expansões que seguem). Isso é bom demais. O que quer que seja bom demais não pode ser verdade. .•.Isso não pode ser verdade.
SaM Ma P SaP
Figurai ModoAAA Válida
Ainda que este silogismo seja válido, ambas as premissas são falsas. Nada pode ser literal e absolutamente bom demais; se, contudo, bom demais for usado para significar muito bom, a premissa menor pode ser aceita como verdadeira. Mas somente um cínico incorrigível podería afirmar a premissa maior como verdadeira. Não obstante, este entimema é repetido correntemente por muitos que negariam a premissa maior implícita se dela fossem advertidos explicitamente.
Você é um ladrão e um ladrão deveria estar atrás das grades. Neste entimema, a proposição omitida é a conclusão. Você é um ladrão. Um ladrão deveria estar atrás das grades. Você deveria estar atrás das grades
SaM M aP SaP
Figurai Modo A A A Válida
Um prêmio é um incentivo ao esforço, pois as pessoas desejam obtê-lo. Este entimema ilustra o fato de que a expressão gramatical frequentemente obscurece relações lógicas A reformulação é necessária para esclarecê-las. Seja especialmente cuidadoso onde houver um objeto direto. Este normalmente requer conversão à voz passiva. Por este meio, o objeto direto pode ser desembaraçado de outros termos com os quais está misturado, podendo então ser colocado como um termo não rasturado em um dos lados da cópula. A não ser que alguém possa discernir relações lógicas tal como são de fato expressas no quotidiano, o estudo da lógica não é realmente prático. As pessoas raramente seguem formas de expressão estritamente lógicas Um prêmio é algo que as pessoas desejam obter. O que as pessoas desejam obter é um incentivo ao esforço. .'. Um prêmio é um incentivo ao esforço.
SaM M aP SaP
Figurai ModoAAA Válida
O Silogismo Simples -171
Uma baleia não é um peixe, pois não tem escamas nem guelras e alimenta o seu filhote com leite. Este é um entimema duplo; chega-se à mesma conclusão a partir de dois conjuntos diferentes de premissas. Expansão: Uma baleia não tem escamas nem guelras. SeM Figura II Um peixe tem escamas e guelras. PaM M odo E A E Válida Uma baleia não é um peixe. SeP Note que se esse silogismo fosse construído na Figura IV, declarando a premissa maior M P, um processo ilícito do termo maior não se faria presente, pois ter escamas e guelras é uma propriedade de peixe. Portanto, ambos os termos estão distribuídos, um através da forma e o outro através da matéria. Uma baleia alimenta o seu filhote com leite. Um peixe não alimenta seu filhote com leite.
SaM PeM
Figura II Modo A E E
.'.Uma baleia não é um peixe.
SeP
Válida
O exemplo seguinte é um entimema quintuplo, pois uma e a mesma conclusão é obtida a partir de cinco diferentes conjuntos de premissas. Enquanto o parágrafo ilustra claramente esta estrutura lógica, ilustra também o principio retórico da variedade: na clareza de expressão, na estrutura e extensão das frases, na harmonia, na introdução de uma alusão bíblica e em alguma repetição enfática, na nomeação agrupada e antecipada daqueles que detêm a terceira e quarta premissas, para então apresentar essas premissas, e, finalmente, no uso do contrário, do abstrato e do negativo ao declará-las. Há um coro de vozes (...) erguido em favor da doutrina (...) de que todos devem ser educados. Os políticos nos dizem, "Vocês devem educar as massas porque elas serão os senhores". O clero se junta ao clamor pela educação, pois afirma que as pessoas estão se desgarrando das igrejas e capelas, rumo à mais vasta infidelidade. Os fabricantes e os capitalistas aumentam o coro vigorosamente. Eles dizem que a ignorância produz maus trabalhadores; que a Inglaterra logo será incapaz de produzir tecidos de algodão e máquinas a vapor mais baratos do que outros povos; e então, Icabod!" Icabod' A glória nos terá abandonado. E umas poucas vozes se levantam em favor da doutrina que diz que as massas deveríam ser educadas porque são compostas de homens e mulheres com capacidades ilimitadas de ser, fazer e sofrer, e que é tão verdadeiro agora quanto sempre foi que as pessoas perecem por falta de entendimento. - Thomas H. Huxley, "A Liberal Education"1'
A Importância do Entimema Ao entimema foi dada cuidadosa consideração em função de sua grande importância prática. No entimema, uma proposição - mais freqüentemente a premis sa maior - está apenas implícita, e não explícita,- assim, é mais pro vável que seja descuidadamente tomada como verdadeira, sem um exame, tornando-se uma fonte de erro e de raciocínio falacioso. ' I Samuel 4 :19-22. ' Thomas H. Huxley, "A Liberal Education and W here to Find it", Aulohioi)nil>by » pode também ser represen tada como uma proposição "se e somente se", que é chamada bicondicional. Assim, "se e somente se uma substância mudar a cor do papel de tornassol azul para vermelho, será um ácido", (TA1)
204 - () Trivinm
ILUSTRAÇÃO: Conversão errônea de uma proposição hipotética Testemunha: Este doutor disse-me que se Hunne não tivesse invocado a supremacia do rei,6jamais teria sido acusado de heresia. Doutor: Na verdade eu disse que se Hunne não tivesse sido acusado de heresia, jamais teria invocado a supremacia do rei. Testemunha: Oh, meus lordes, estou contente que me considereis homem sincero e fiel. Lorde: Eu percebí, bom homem, é que desde que as palavras sejam as mesmas, não te importa como estejam postas; pois tudo te é igual: um moinho movido a cavalo ou um cavalo que move moinho, beber antes de ir ou ir antes de beber. Testemunha: Não, meus lordes, não beberei. E com isso, seguiu ele o seu caminho, deixando alguns lordes a rir do fato, pois, ainda que fossem contrárias as narrativas e mesmo depois de ouvi-las novamente, tomou-lhas ambas como se uma só fossem, pela razão de que, afinal, as palavras eram as mesmas. - A Refutação das Respostas de Tyndale
DAS PROPOSIÇÕES DISJUNTIVAS
Uma proposição disjtmtiva estrita que expresse o resultado de uma divisão lógica será, tal como uma proposição hipotética sitie fu a iiott e uma definição, conversível simplesmente. Portanto, suas sete eduções podem ser derivadas em um processo contínuo de obversão e conversão alternada,- a oitava operação retorna à original.
Originalmente, ^rcu/n/uVc ou /inioimii/rc. Trata-se de um estatuto estabelecido por Ricardo II ( I 377-1 399) que tornava ilegal e ofensivo ao rei levar questões inglesas para julgamento em tribunais fora da Inglaterra (i e , sob jurisdição papal), o que implicava desrespeitar a autoridade eclesiástica do rei. Esse estatuto, adaptado ao longo do tempo, serviu como uma das bases legais ao Ato de Supremacia de Henrique VIII (I 534) e ao de Elizabeth 1 ( I 559). E importante notar que, não obstante as disputas entre papas e reis da Inglaterra serem de longa data, o rompimento definitivo se deu somente com Henrique VIII, que instituiu a si mesmo como chefe (head) supremo da Igreja da Inglaterra (anglicanismo), numa atitude de grande valor como símbolo da ressaeralização do Estado,- na verdade, e também considerado como o evento que marcou o surgimento do Estado moderno. (NI. T.) ' The (.onfnUition of Tyutitilc s Answers é a mais extensa das várias obras de São |sir] Thomas More ( 1 4 7 8 - 1535), das quais a mais conhecida atualmente é Lllopni. Sir Thomas More foi nomeado lorde chanceler da Inglaterra em 1529 (o mais alto posto do judiciário inglês, o que lhe dava também a presidência da Câmara dos Lordes e da C orte de Apelações), pelo rei Henrique VIII, o mesmo que, mais tarde, iria mandar decapitá-lo por não reconhecer o Ato de Supremacia acima referido. Sir Thomas More foi canonizado pelo papa Pio XI em 1935. The ( oh/ uMI/oh foi escrita durante os anos 1532-33 e trata de questões doutrinais da Igreja Católica em contraposição às asserções do protestante Tyndale (Tindal) Inde pendente do mérito das questões, e notável que, segundo estudiosos, More tenha usado cerca de vinte palavras para cada uma das de Tyndale, o que indica ser a refutação algo mais trabalhosa que a afirmação de qualquer coisa. (NI f.)
Relações de Proposições Hipotéticas e Disjuntivas -205
EXEMPLO: Edução de proposição disjuntiva Original: Uma substância material deve ser ou um gás, ou um líquido, ou um sólido. Convertida: Uma substância que for ou um gás, ou um líquido, ou um sólido deverá ser uma substância material. Convertida obversa: Uma substância que for ou um gás, ou um líquido, ou um sólido não poderá ser uma substância não-material. Inversa parcial: Uma substância não-material não pode ser ou um gás, ou um líquido, ou um sólido. Inversa total: Uma substância não-material não pode ser nem um gás, nem um líquido, nem um sólido. Contrapositiva total: Uma substância que não é nem um gás, nem um líquido, nem um sólido deve ser uma substância não-material. Contrapositiva parcial: Uma substância que não é nem um gás, nem um líquido, nem um sólido não pode ser uma substância material. Obversa: Uma substância material não pode ser nem um gás, nem um líquido, nem um sólido. Original: Uma substância material deve ser ou um gás, ou um líquido, ou um sólido.
Silogismo O S IL O G IS M O H IP O T É T IC O
Há dois tipos de silogismos hipotéticos: o silogismo hipotético puro e o misto. O hipotético puro Todas as três proposições seguintes são hipotéticas. EXEMPLOS: Silogismo hipotético puro Se os bens se tomarem escassos, os preços aumentarão (mantidas iguais outras coisas) Se os preços aumentarem, nossas economias não mais poderão comprar tanto quanto comprariam hoje. Se os bens se tomarem escassos, nossas economias não mais poderão comprar tanto quanto comprariam hoje.
O hipotético misto O silogismo hipotético misto é usado amplamente. A premissa maior é uma proposição hipotética e a premissa menor é uma pro posição simples.
206 - O T r i v i u m
Regras para o Silogismo Hipotético Misto A premissa menor deve fazer uma das duas coisas:
1. afirmar a antecedente ou 2. negar a conseqüenteda premissa maior. ^ Fafácias
1. negar a antecedente; 2. afirmar a consequente. 8-2
Regras p ara o silogismo hipotético misto
Afirmar a antecedente é reafirmá-la como fato, mantendo a mes ma qualidade: se for negativa na premissa maior, deverá ser negativa na menor,- se for afirmativa na maior, deverá ser afirmativa na menor. Negar a conseqtiente é reafirmar como um fato seu contradi tório. Isto requer uma mudança de qualidade: se for afirmativa na premissa maior, deverá ser negativa na menor,- se for negativa na maior, deverá ser afirmativa na menor. Note que a regra se refere apenas ao que a premissa menor faz à maior. Sempre que a premissa menor afirmar a antecedente, a con clusão afirmará a conseqtiente. E sempre que a premissa menor ne gar a conseqtiente, a conclusão negará a antecedente. Isto é correto e não conflita com a regra. Há dois modos de silogismo hipotético misto: o construtivo, que afirma, e o destrutivo, que nega. Apenas duas formas são válidas. O modo construtivo válido afirma a antecedente. EXEMPLO: Afirmando a antecedente Se um homem não é honesto, não é funcionário público apto. Este homem não é honesto. Este homem não é um funcionário público apto.
O modo destrutivo válido nega a conseqtiente. EXEMPLO: Negando a conseqtiente Se todos os estudantes fossem igualmente competentes, todos adquiriríam a mesma quantidade de conhecimento a partir de um mesmo curso. Mas todos não adquirem a mesma quantidade de conhecimento a partir de um mesmo curso. Todos os estudantes não são igualmente competentes.
s A primeira regra é chamada de malas poncm, significando "modo que afirma" A segunda regra é chamada de moilus lollais, "modo que nega" (T M )
Relações de Proposições Hipotéticas e Disjuntivas -207
Note que, quando a consequente é negada, a conclusão deveria ser a contraditória, e não a contrária, da antecedente Termos contraditórios e contrários estão explicados no Capítulo 4. Não há meiotermo entre termos contraditórios; eies dividem tudo em uma ou em outra esfera (árvore e nãoárvore). Termos contrários podem ter um meio-termo. Eles expressam graus de diferença; por exemplo, bem e mal são termos contrários. As pessoas, ou os comportamentos, em sua maioria, não são nem bons nem maus, mas gradações de ambos.
Falácias equivalentes de siloijismos IvpoteVcos mistos e siloijismos simples 1. A falácia da negação da antecedente num silogismo hipotético misto é equivalente à falácia de um processo ilícito do termo maior num silogismo simples.
EXEMPLO: Negando a antecedente Se um homem beber veneno, ele morrerá.
Falácia: Negação da antecedente.
Este homem não bebeu veneno. /. Ele não morrerá. Silogismo simples equivalente Quem quer que beba veneno, morrerá.
M aP
Este homem não bebeu veneno. Ele não morrerá.
SeM Se P
Falácia: Processo ilícito do termo maior
2. A falácia da afirmação da conseqüente num silogismo hipotético misto é equivalente à falácia de um termo médio não-distribuído num silogismo simples. EXEMPLO; AfirMando a Conseqüente Se um homem beber veneno, ele morrerá. Este homem morreu. /. Ele deve ter bebido veneno.
Falácia Afirmação da conseqüente.
Silogismo simples equivalente: Quem quer que beba veneno, morrerá. Este homem morreu. Ele deve ter bebido veneno.
Pa M SaM SaP
Falácia: Termo médio não-distribuído.
Note que, se a proposição hipotética for uma proposição sine qua non, nenhuma falácia poderá resultar num silogismo hipotético misto, pois nessa circunstância a premissa menor poderá afirmar ou negar tanto a antecedente quanto a conseqüente. Similarmente, se uma das premissas de um silogismo simples for uma definição, não ocorrerá nem um processo ilícito, nem um termo médio não-distribuído, mesmo se as regras especiais das figuras forem desconsideradas
20X - ( ) T' i vi l tl l l
Base form al para as regras cjue regem o silogismo como uma fórm ula de inferência Pela aplicação da regra do silogismo hipotético misto, podemos demonstrar formalmente o fundamento para as regras que regem o silogismo como uma fórmula de inferência. Num silogismo hipoté tico misto formalmente correto, poderemos apresentar cada regra desta maneira: 1. Se as premissas de um silogismo válido forem verdadeiras, a conclusão deverá ser verdadeira. Neste silogismo válido as premissas são verdadeiras. A conclusão é verdadeira. Este silogismo hipotético misto está correto, pois a premissa menor afirma a antecedente. Seria incorreto negar a antecedente. Portanto, se as premissas não forem verdadeiras, o valor da conclu são será formalmente desconhecido. 2. Se as premissas de um silogismo válido forem verdadeiras, a conclusão deverá ser verdadeira. A conclusão deste silogismo não é verdadeira. As premissas não são verdadeiras. Este silogismo hipotético misto é válido, pois a premissa menor nega a conseqüente. Seria incorreto afirmar a conseqüente. Portan to, se a conclusão for verdadeira, o valor das premissas será formal mente desconhecido. O ponto poderá ser demonstrado em mais detalhe pela cons trução de mais dois silogismos hipotéticos mistos corretos, com a premissa menor de um afirmando a antecedente, e a de outro negando a conseqüente da premissa maior seguinte, a qual estabe lece a segunda regra importante: Se a conclusão de um silogismo correto for falsa, ao menos uma das premissas deverá ser falsa. Da mesma maneira, alguém poderia provar as regras de oposição que operam em apenas uma direção, por exemplo: Se A for verdadeira, E será falsa. O SILOGISMO DISJUNTIVO
Este é um silogismo no qual a premissa maior é uma proposição disjuntiva e a premissa menor é uma proposição categórica simples que afirma ou nega uma das alternativas.
Relações de Proposições Hipotéticas e Disjuntivas -209
Modos do silogismo d isju n tim Há dois modos do silogismo disjuntivo: poneudo tollens e ío//endo ponens.l> 1. Ponendo tollens, no qual a premissa menor afirma uma alternativa e a conclusão nega a outra. EXEMPLO: Silogismo disjuntivo p o n e n d o to llens S é ou P ou Q.
O marido desta mulher, de quem há muito não se tem notícia, está vivo ou está morto. (Declarado antes de se fazer uma investigação.)
S é P.
Ele está vivo. (Declarado depois de longa investigação)
c.S não é Q
Ele não está morto.
2. Tollendo ponens, no qual a premissa menor nega uma alternativa e a conclusão afirma a outra. EXEMPLO: Silogismo disjuntivo to lle n d o p o nens S é ou P ou Q. SnãoéQ . SéR
A alma é ou espiritual ou material. A alma não é material. A alma é espiritual.
Note que este modo é válido apenas quando a proposição disjuntiva for do tipo estrito, sendo as suas alternativas coletivamente exaustivas e mutuamente exclusivas.
Falácias do silogismo d isju n tim Há apenas uma falácia puramente formal, a qual raramente ocor rerá. Ela está presente quando tanto a premissa menor quanto a conclusão afirmam e negam cada alternativa. EXEMPLO: Falácia de silogismo disjuntivo João é um coelho ou não é um coelho. João não é um coelho. .'.João é um coelho.
(Apenas duas alternativas.) (Você diz removendo uma alternativa.) (A única alternativa restante.)
A primeiravista, isto parece exemplificar a segunda fórmula acima. Mas note que a premissa menor nega a primeira alternativa e afirma a segunda, e que faz ambas essas coisas simultaneamente. A conclusão simultaneamente afirma a primeira alternativa e nega a segunda. l) Ponendo tollens. Poncmio, de ponere, afirmar, e tollens, de tollcrc, remover. O sentido é "afirmar a negativa" Tollendo ponens significa "negar a positiva" 2/0 - O I r i v i i w i
A raiz do erro reside na ambiguidade do não na premissa maior,conforme a ordem, pode ser entendido junto com é ou junto com coelho, seja com a cópula, seja com o termo. A ambiguidade pode ser resolvida por um enunciado mais claro, no qual a negativa esteja claramente ligada a coelho e as alternativas sejam dicotômicas. EXEMPLO: Silogismo com ambigüidade resolvida João é um coellio ou é um não-coellio. João não é um coellio. .‘.João é um não-coellm
ANALOGIA: Bilhar e o silogismo disjuntivo No jogo de bílJiar, ou no de croqué, é permissível mover duas bolas com uma só tacada. Mas mover ambas as alternativas através de uma só afirmação não é permissível no silogismo disjuntivo. Cada tacada, cada proposição, deve afetar apenas uma alternativa de cada vez.
A falácia material de disjunção imperfeita, a qual tem também um aspecto formal, ocorre quando as alternativas são ou não-mutuamente exclusivas, ou não-coletivamente exaustivas. EXEMPLO: Alternativas não-coletivamente exaustivas Rosas são ou vermellras ou brancas. As rosas que ele mandou não são vermellras. .'.As rosas que ele mandou são brancas.
O DILEMA
O dilema é um silogismo que tem por sua premissa menor uma proposição disjuntiva, por sua premissa maior uma proposição hi potética composta e, por sua conclusão, uma proposição simples ou uma proposição disjuntiva. O dilema, construído corretamente, é uma forma de raciocínio válida e útil, como o são todos os quatro exemplos a seguir, exceto o primeiro, e também alguns dos exemplos que ilustram os exercí cios ao final deste capítulo. No uso efetivo, uma parte do raciocínio está normalmente apenas implícita. Se a disjuntiva oferecer três alternativas, o raciocínio será mais corretamente chamado de trilema,- se forem muitas as alternativas, de polilema O dilema será construtivo se a premissa menor afirmar as duas antecedentes da maior e destrutivo se negar as duas consequentes.
Relações de Proposições Hipotéticas e Disjuntivas -211
O dilema tem quatro modos: construtivo simples, construtivo complexo, destrutivo simples, destrutivo complexo. EXEMPLOS: Os quatro modos do dilema Construtivo simples O acusado vive ou frugalmente ou prodigamente. Se ele vive frugalmente, suas economias o tornam rico; se ele vive prodigamente, seus gastos provam que é rico. O acusado é rico. Empson, um coletor de impostos de Henrique VII da Inglaterra, usava este argumento para provar que qualquer um a quem ele intimasse poderia e deveria pagar mais impostos ao rei. Construtivo complexo Os cristãos ou cometeram crimes ou não. Se os cometeram, vossa recusa em permitir uma inquirição pública é irracional; se não os cometeram, vossa punição sobre eles é injusta. Vós sois irracionais ou injustos. Tertuliano, o apologista cristão, usou este argumento num apelo ao imperador romano Marco Aurélio, que era considerado tanto um filósofo quanto um homem justo, para que este parasse a perseguição aos cristãos. Destrutivo simples Se um estudante se forma com honras e distinção, ele deve ter demonstrado tanto talento como diligência. Mas (suas notas indicam que) este estudante não demonstrou talento ou não demonstrou diligência Este estudante não se formou com honras e distinção. No dilema destrutivo simples, as duas conseqüentes da premissa maior estão associadas pelo tanto e pelo como, em vez de estarem dissociadas pelo ou. Portanto, elas não são alternativas; se o fossem, negar uma ou outra na premissa menor não envolveria, necessariamente, a negação da antecedente na conclusão, tal como é exigido em um dilema destrutivo. Destrutivo complexo Se este homem tivesse sido instruído adequadamente, sabería que está agindo mal; e se ele fosse consciencioso, teria escrúpulos. Mas ou ele não sabe que está agindo mal, ou ele aparentemente não tem escrúpulos. Ele não foi adequadamente instruído ou ele não é consciencioso.
OTRILEMA
O trilema, que é um dilema no qual a proposição disjuntiva oferece três alternativas, segue as regras do dilema.
2/2 - O Irivium
EXEMPLO: Trilema O padre pode evitar ser capturado apenas pela fuga, pelo combate ou pelo suicídio. Se não há outra saída a não ser aquela que guardamos, ele não pode escapar pela fuga; se não tem armas, não pode combater nossas forças armadas; se ele dá valor à sua salvação eterna, não cometerá suicídio. Ele não pode evitar ser capturado. Note que tal argumentação pode ter sido usada por caçadores de padres na Inglaterra do século XVI.
FALÁCIAS D O DILEMA
Há três falácias do dilema: (1) premissa maior falsa, (2) disjunção imperfeita na premissa menor, (3) falácia dilemática, ocasionada por uma mudança do ponto de vista. Há três métodos de ataque para desmascarar essas três fontes de erro. 1. Pegando o dilema pelos chifres:11’ este método de ataque é usado quando a premissa maior for falsa, isto é, quando o nexo entre an tecedente e conseqüente, afirmado na premissa maior, não se man tiver de fato. EXEMPLO: Pegando o dilema pelos chifres Se este homem fosse inteligente, veria a invalidade de seus argumentos; se ele fosse honesto, admitiría que está errado. Mas ou ele não vê a invalidade de seus argumentos, ou, vendo-a, não admite que está errado. Este homem não é inteligente ou não é honesto. Ao atacar o dilema, o controversista negaria o nexo da primeira parte da premissa maior ao afirmar que ele é inteligente e, portanto, reconhece seus argumentos como válidos e não como inválidos.
2. Escapando por entre os chifres: Este método de ataque é usado quando a premissa menor apresenta uma disjunção imperfeita, vis to que as alternativas declaradas não são coletivamente exaustivas. A revelação de uma alternativa não mencionada oferece uma saída escapatória da conclusão, por entre os chifres. EXEMPLO: Escapando por entre os chifres Se eu disser a minha amiga que seu vestido novo não lhe fica bem, ela se magoará; se eu disser que lhe fica bem, estarei mentindo. Mas eu devo dizer a ela que lhe fica bem ou que não lhe fica bem. Eu devo magoar minha amiga ou mentir.1
111O dilema é o nome que recebe um antigo argumento apresentado em forma de silogis mo com "dois fios" ou "dois chifres" e por isso também denominado sylloijismus comulus. Cf. J. Ferrater Mora, op. cit., p. 738. (N T.)
Relações de Proposições Hipotéticas e Disjuntivas -213
Aqui, escapar por entre os chifres, i.e, as alternativas apresentadas na premissa menor, é fácil. Eu posso me abster de fazer qualquer comentário sobre o vestido; ou, melhor ainda, posso comentar acerca de algum outro aspecto sobre o qual eu realmente possa elogiar, tal como a cor, o tecido, etc, evitando ser mentiroso ou ofensivo.
3. Refutando o dilema: Este método de ataque é usado quando tanto o dilema aberto à refutação quanto o dilema refutatório contêm a falácia dilemática, que é uma falácia tanto formal quanto material,- às vezes, uma condição tem duas conseqiientes e cada dilema afirma apenas uma (meia-verdade, otimista ou pessimista), tal como no exemplo de Empson usado anteriormente; às vezes, cada um adota um ponto de vista cambiante, tal como no exemplo de Protágoras mais adiante. O método de refutação é o de aceitar as alternativas apresenta das pela premissa menor do dilema original, mas transpondo as conseqiientes da premissa maior em suas contrárias. Disso deriva uma conclusão exatamente oposta àquela conclusão do dilema original. A refutação formal é um artifício retórico, uma mera manipulação do material a fim de revelar a fraqueza da posição de um oponente. O fato mesmo de que uma refutação a um dado dilema possa ser cons truída mostra que a falácia dilemática de um ponto de vista cambiante está presente em ambos os dilemas e que nenhum deles é válido. Um exemplo antigo e famoso é a argumentação entre Protágoras e Euatlo, seu aluno de retórica. De acordo com o contrato entre eles, Euatlo pagaria metade do valor das aulas quando completasse seus estudos e a outra metade quando vencesse sua primeira causa judicial. Vendo que seu pupilo deliberadamente atrasava o início da prática advocatícia, Protágoras moveu ação judicial para receber o saldo a que tinha direito. Euatlo foi obrigado a advogar em causa própria. ILUSTRAÇÃO: Refutando o dilema A argumentação de Protágoras Se Euatlo perder esta causa, ele deverá pagar-me por ordem do tribunal; se ele vencer a causa, deverá pagar-me de acordo com os termos do contrato. Ele só pode vencer ou perder .'. De qualquer modo, ele precisará pagar-me A refutação de Euatlo Se eu vencer a causa, por ordem do tribunal eu não deverei pagar; se eu perder a causa, pelos termos do contrato não deverei pagar. Eu só posso vencer ou perder. .'. De qualquer modo, não precisarei pagar.
214 - O
hiviinu
Um dilema está aberto à refutação apenas quando houver espaço para uma mudança de ponto de vista real e não meramente uma mudança na posição dos termos. Por exemplo, uma criança pode se ver em face do dilema apresentado a seguir. ILUSTRAÇÃO: Dilema não aberto à refutação Eu devo tomar óleo de rícino ou cáscara sagrada. Se eu tomar óleo de rícino, sentirei um gosto ruim, e seu eu tomar cáscara sagrada, sentirei um gosto ruim. Em qualquer caso, sentirei um gosto ruim.
Este dilema não está aberto à refutação. Não há espaço para uma mudança real do pessimismo ao otimismo. O q ue é apresentado a seguir não é uma refutação, mas apenas uma mudança sem sentido de termos. ILUSTRAÇÃO: Falsa refutação Se eu tomar cáscara sagrada, escapo do gosto ruim do óleo de rícino; se eu tomar óleo de rícino, escapo do gosto ruim da cáscara sagrada. Mas eu preciso tomar cáscara sagrada ou óleo de rícino. De qualquer jeito, escapo de um gosto ruim.
Se este dilema realmente constituísse uma refutação ao primeiro, qualquer dilema poderia ser refutado. Mas esse não é o caso. Apesar de um dilema aberto à refutação e a sua refutação serem ambos fa laciosos, nenhum deles é tão patentemente vazio como argumento quanto esse segundo dilema sobre remédios.
EXERCÍCIOS Declare o tipo e o modo de cada um dos raciocínios a seguir, expanda aqueles abreviados e determine-lhes a validade,- se inválidos, nomeie a falácia. Considere também se as proposições são verdadeiras. Rea firme os silogismos hipotéticos mistos em suas formas simples equi valentes. Quando for verificada uma disjunção imperfeita, declare a alternativa faltante. Alguns destes exercícios, por serem concretos, poderão ser entendidos diferentemente por pessoas diferentes. O paciente morrerá ou ficará bom. O paciente não morreu. Portanto, ficará bom. I\ c I ii (:òl'\ i(c í >íoj)üs'i(%-, portanto, iniof). Por exemplo, dinheiro não traz felicidade, portanto, a pobreza traz. (T/VI)
2^4 - C) frivium
AKCLIMENTLIM A l) VEkECUNDlAM
A rju m en tu m mi verecuiuiiiim (ou arjum cntum imujister liixit) é um ape lo ao prestígio - ou autoridade - atribuído ao proponente de um argumento; prestígio no qual se baseia toda a garantia da veracida de do argumento. Esse prestígio é insuficiente quando se requer consideração racional sobre um ponto de controvérsia e só é dada consideração à autoridade de quem o sustenta ou a ele se opõe. E perfeitamente legítimo acrescentar autoridade a um raciocínio, mas é falacioso substituir o raciocínio pela autoridade em assuntos capazes de ser entendidos pela razão. Esta falácia é particularmente perniciosa quando a autoridade citada não é uma autoridade no as sunto em discussão. Por exemplo, o endosso que celebridades dão a produtos de consumo, ou a causas políticas, constitui um arjum eutum aii verecum iiim .
Causa Falsa A falácia da causa falsa está presente também quando algo acidental a uma coisa é empregado para determinar sua natureza, caráter ou valor, de modo que aquilo que não é uma causa é então considerado como tal. EXEMPLO: Causa falsa Corridas cie cavalo são nocivas porque algumas pessoas apostam dinheiro demais nos resultados. Uma coisa não é má apenas porque algumas pessoas dela abusam. Fm tais casos, a causa do mal não está na coisa em si mesma, mas naqueles que fazem dela uma ocasião para satisfazer suas próprias propensões maléficas.
Note que Post boc erijo propter hoc é uma falácia indutiva que por vezes é, com alguma liberdade, identificada com a falácia deduti va da causa falsa. A causa falsa faz uma suposição falsa acerca de uma razão, a qual é uma causa do saber,- post boc erijo propter boc faz uma suposição falsa acerca de uma causa do ser. A falácia indutiva post boc erijo propter boc resulta da suposição falsa de que o que quer que aconteça antes de um determinado evento é a causa daquele evento. O erro aumenta pela observação imperfeita; eventos que ocorram sem a alegada causa antecedente frcqüentemente passam despercebidos. Um gato preto cruza o caminho de uma pessoa. No dia seguinte, cai o valor das ações na bolsa. A pessoa conclui que o gato causou má sorte, mas deixa de notar quantas vezes um gato preto cruzou o seu caminho sem que qualquer má sorte se
manifestasse. Mas mesmo que a má sorte sempre se manifestasse, o gato preto não seria por isso uma causa do infortúnio.
Petição de Princípio Petição de princípio é a falácia de presumir que já está nas pre missas a proposição a ser provada, isto é, a conclusão —ou uma proposição ampla o suficiente para incluir aquela a ser provada. Em outras palavras, o argumento é falacioso porque uma tese não pode servir de fundamento à veracidade dessa mesma tese. A conclusão presumida nas premissas usualmente está oculta sob sinônimos, de modo que as identidades das proposições são menos óbvias. EXEMPLOS: Petiçid dê princípio O argumento tautológico (repetição do mesmo sentido em palavras diferentes) William Shakespeare é famoso porque suas peças são conhecidas em todo o mundo. O argumento pendular (oscilante) "O rapaz é demente" "Por que você pensa assim7" "Porque ele assassinou a própria mãe" "Por que ele a assassinou7” "Porque ele é demente." Pode ser um fato que o rapaz seja demente e essa pode ser a razão que explica por que assassinou sua mãe, mas para raciocinar sem recurso à falácia da petição de princípio deveríam ser apresentados outros indícios de sua insanidade. Argumentando em círculo Esta argumentação difere do argumento pendular pela adição de uma ou mais proposições, as quais fazem com que o argumento gire num círculo em vez de apenas ir e vir, para lá e para cá: "Este filme é o melhor da década." "Como você pode provar isso7” "O New York Times diz que é." "E daí que o New York Times diz que é7" "O New York Times é o jornal mais respeitado na indústria de entretenimento." "Como é que você sabe disso7’’ "Porque eles sempre escolhem os melhores filmes da década." Epíteto como petição de princípio O epíteto como petição de princípio é provavelmente o exemplo mais comum desta falácia. É uma locução ou apenas uma palavra que supõe o ponto a ser provado Classificar um projeto de lei tributária de "bem-estar social dos ricos" ou rotular uma proposta como favorável às "grandes corporações" ou ao "grande capital" são exemplos de epíteto como petição de princípio.
Pergunta Complexa A falácia da pergunta complexa é algo similar àquela da petição de princípio. A petição de princípio pressupõe que a proposi ção a ser provada já está nas premissas,- a pergunta complexa 2^6 -
O 'Iriviiuu
pressupõe que está na pergunta uma parte daquilo que pertence totalmente à resposta. A falácia da pergunta complexa ocorre quando, em resposta a uma pergunta composta, é exigida uma resposta simples, ao passo que a resposta correta dividiría a pergunta e a respondería parte por parte. Interrogadores (advogados, promotores, policiais, etc.) freqiientemente utilizam-se deste artifício para induzir uma testemu nha à contradição, tentando assim enfraquecer o valor de seu tes temunho em favor da outra parte. Exemplos desta falácia incluem: Por que você roubou o meu relógio? Quando você parou de flertar? Onde você enterrou o corpo da mulher que você matou? Quan to tempo você desperdiçou estudando matérias sem valor prático como filosofia e música?
EXERCÍCIOS Analise os argumentos a seguir, expandindo, se necessário, aque les que estiverem abreviados. Nomeie o tipo. Se o argumento for falacioso, será necessário explicar claramente onde reside a falá cia, além de nomeá-la. Se houver duas ou mais falácias, nomeie cada uma. O coração é um órgão. Um órgão é um instrumento musical. Por tanto, o coração é um instrumento musical. O falar do mudo é impossível. João é mudo. Logo, falar de João é impossível. Desdemoiui Do you know, sirrah, where Lieutenant Cassio lies?” C lo w n 1 dare not say he lies anywhere. Desdemoiui Why, man? Clouni He is a soldier; and for one to say a soldier lies is stabbing. —O tbello 3.4.1-6
h ü uso repetido de lie em suas diferentes acepções (mcul/r, deitar, repousar, residir, etc.) dá conta da adequação c omo exemplo de possível falácia. A tradução para o português talvez tornasse este trecho inútil como exemplo de falácia. Todavia, outros tradutores, não preo cupados com a adequação deste trecho a esse propósito específico, usaram o verbo pousar como substituto de lie. E uma substituição válida, mas que ainda carece de nota explicativa quanto aos trocadilhos originais —puus -, o que só reforça a decisão de manter este e al guns outros trechos de Shakespeare no original, sempre levando em conta a adequação ao propósito de cada capítulo deste livro e dos exemplos neles contidos. (N. T.)
'h ilá c iL is
Viola (usando a identidade de Cesano). Save thee, friend, and thy music. Dost thou live by thy tabor? Clown. No, sir, I live by the church. Viola. Art thou a churchman? Clown No such matter, sir: I do live by the church,- for I do live at nty house, and nty house doth stand by the church. —Iw e ljtb Nie)bt 3.1.1 -7 O trem movente parou. O trem que parou está imóvel. Portanto, o trem movente está imóvel. Luísa não é o que Maria é. Luísa é uma mulher. Portanto, Maria não é uma mulher. Um camundongo é pequeno. Pequeno é um acidente. Logo, um camundongo é um acidente. Se um número não for par, será ímpar. E par. Então, não é ímpar. O receptador de bens roubados deveria ser punido. Você recebeu bens roubados e, portanto, deveria ser punido. Not to be abed after midnight is to be up betimes,- (...) To be up after midnight, and to go to bed then, is early,- so that to go to bed after midnight is to go to bed betimes. - Tweljtb Nicjht 2.3.1 -9 Todos os ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos retos,- o ângu lo x é um ângulo deste triângulo,- portanto, é igual a dois ângulos retos. Adquirir propriedades é bom. Este ladrão está adquirindo proprie dades. Portanto, ele está fazendo o bem. A democracia falhou nos Estados Unidos porque há cidades e Es tados corruptos. Se um ser humano permanecer sob a água por trinta minutos, mor rerá. Este mergulhador permaneceu sob a água por trinta minutos. Portanto, ele morrerá. Bolo é doce. Doce é um adjetivo. Logo, bolo é um adjetivo.
2 ^(S - O ín v in m
Histórias de detetive sao excelente literatura porque sao as preferi das de doutos professores de matemática. Esses grevistas são preguiçosos, pois estão determinados a não trabalhar. Esta mulher não pode ser uma criminosa, pois nunca esteve na prisão. O Sol deve mover-se ao redor da Terra, pois a Bíblia diz que a prece de Josué fez o Sol parar. Acusamos o Rei Charles II de ter quebrado o seu juramento de co roação e nos dizem que ele manteve os votos matrimoniais. - Thomas Babbington Macaulay, H istory o f Emjlanà A Lei Seca não foi bem-sucedida porque não contava com o apoio da opinião pública, e as pessoas não a apoiaram porque a lei era um fracasso. O homem é um animal Animal é um gênero. Um gênero é divisível em espécies. Portanto, o homem é divisível em espécies. Eu não quero ir a um médico, pois percebi que todos aqueles que morreram nesta cidade neste inverno foram a um médico. Quando você decidiu parar de fingir? Maria é uma boa costureira. Portanto, ela é uma boa mulher. Aumentar salários é aumentar preços. Aumentar preços é aumentar o custo de vida. Aumentar o custo de vida é diminuir a renda real. Logo, aumentar salários é diminuir a renda real. Esta estátua é uma obra de arte. Esta estátua é minha. Logo, é uma obra de arte minha. Aquela que jura que quebrará o seu juramento, e então o quebra, é alguém que mantém o juramento. Em Fédou, Platão prova a imortalidade da alma a partir da simplicida de desta. Na República, Platão prova a simplicidade da alma a partir da imortalidade desta.
1‘L lllíC ÍU S - 2 ^ 9
10. UM BREVE SUMARIO DE INDUÇÃO
Lógica é a ciência normativa que dirige as operações do intelecto de modo a alcançar a verdade.1 Assim como a metafísica, ou onto logia, lida com todas as coisas tais como elas são em seu aspecto mais abs trato, mais geral, e, portanto, em seu aspecto mais comum - ser-,assim, a lógica lida com tudo cfue épensado em seu aspecto mais geral verdadeiro. Os requisitos da veracidade são: 1. O que é pensado deve representar o que é. (Esta é a norma da concepção - formação de conceito - e da indução). 2. Pensamentos devem ser consistentes entre si. (Esta é a norma da dedução). O primeiro requisito diz respeito ao material do raciocínio,- o segundo, ao raciocínio mesmo. Ambos são necessários. A lógica dedutiva, ou formal, é a única lógica no sentido de que somente ela descobre as regras pelas quais pensamos e raciocinamos corretamente. Mas o material do pensamento, os termos e propo sições, deve vir, fundamentalmente, da nossa experiência, por meio de concepção e indução. Portanto, esses processos são preliminares ao raciocínio. ANALOGfArConexão entre dedução e indução Algodão m natura é necessário à fabricação de musselina, organdi e brim, mas são as máquinas que produzem a diferença entre esses tipos de tecidos de algodão. É com as máquinas e sua operação que a manufatura se preocupa especificamente. A produção e aquisição de matéria-prima não são, estritamente falando, problemas de fabricação; elas são preliminares e pré-requisitos a ela.
AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO Conhecimento - isto é, qualquer informação que a mente possua - é derivado da operação das próprias faculdades de alguém, ou da fé. 1Ver nota 3 d o Gap. 6 (N T.)
Ih u 'Breve Sumário de Indução
- 241
Faculdades Humanas Adquire-se conhecimento através das próprias faculdades. As facul dades dos sentidos adquirem uma percepção imediata dos objetos externos e as faculdades intelectuais agem sobre os dados forneci dos pelos sentidos. F A C U L D A D E S D O S S E N T ID O S
As faculdades dos sentidos compreendem os sentidos externos — visão, audição, tato, paladar e olfato -, assim como as sensações ou sentidos internos. Os sentidos internos incluem a imaginação, que produz e retém fantasmas; a memória, que recorda e reconhe ce esses fantasmas como previamente experimentados,- o senso comum ou central, ou, ainda, o "sentido dos sentidos", o qual discrimina, coordena e sintetiza as sensações,- e o instinto, pelo qual um ente sensível avalia se um objeto é útil ou não ao seu bem-estar físico. Os sentidos podem operar de forma intuitiva ou indiretamen te. A forma intuitiva refere-se à percepção direta ou imediata dos sensíveis característicos —cor, som, etc. A forma indireta referese à percepção indireta dos sensíveis comuns, ou seja, aqueles que podem ser percebidos por mais de um sentido. Por exemplo, mo vimento, repouso, forma e tamanho podem ser percebidos tanto através da visão quanto do tato,- número, distância, direção, duração e ritmo, através da visão, do tato e da audição. Note que a imaginação ficcional pode operar pela combinação de fantasmas, por exemplo: sereia, sátiro, centauro, grifo. F A C U L D A D E S IN T E L E C T U A IS
As faculdades intelectuais compreendem o intelecto, que busca a verdade,- a memória racional,- e a vontade, que busca o bem. O inte lecto pode operar intuitivamente (abstração: concepção, indução). EXEMPLOS: Intuição Intelectual Metafísica: Todo efeito deve ter uma causa adequada. Lógica: Proposições contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. Matemática: Coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. Moral: O bem deveria ser feito e o mal evitado. Psicológica: Minha consciência dá testemunho da minha livre vontade.
242 - O
h iviutn
O intelecto também age de modo inferencial, o que inclui tanto a inferência imediata quanto a mediata, ou silogística.
Fé inclui tudo que alguém sabe por testemunho de um outro. Este outro pode ser humano - pais, professores, parceiros, livros, revis tas, jornais, rádio, TV etc. - ou divino - Deus comunicando uma revelação diretamente ou por milagres, que autenticam a mensagem do Seu agente (anjo, profeta, apóstolo, etc.). Os tópicos de invenção (ver Capítulo 6) extraem material para raciocínio a partir do exercício das faculdades (os primeiros dezes seis tópicos) ou a partir da fé (do testemunho de outros). A psicologia, ou filosofia da mente,2 explica o processo pelo qual conceitos e juízos são obtidos a partir do mundo real. A indu ção, tal como a concepção, é abstrativa, intuitiva,- mas enquanto a concepção é a abstração da essência e seu resultado é um conceito expresso num termo, a indução é, simultaneamente, o ato de evocar e a percepção de uma relação,- seu resultado é um juízo expresso numa proposição. Nenhum dos processos é de mera contagem e adição de exemplos,- nenhum é uma generalização a partir de parti culares, ou uma inferência de qualquer tipo,- ambos são intuições da verdade extraídas da realidade. A base da concepção e da indução intuitiva é a mesma: somente indivíduos existem, mas existem tal como os vemos na natureza, de acordo com o tipo. A essência é aquilo que faz de um indivíduo um membro de sua espécie ou tipo,- consequentemente, o conceito, que é a apreensão intelectual da essência presente no indivíduo, é igualmente aplicável a todo membro da espécie. Similarmente, uma proposição necessária geral que expressa a apreensão intelectual de uma relação fundamental - tal como causa e efeito - presente no indivíduo tal como membro de sua espécie deverá estar presente em todos os outros membros da mesma espécie.
INDUÇÃO: UMA FORMA DE INTUIÇÃO Indução não é uma forma de inferência,- é uma forma de intuição. Toda proposição geral que sirva como uma premissa numa inferência ’ Psicologia e filosofia da mente tratam ambas de como obtem os conceitos e juízos a partir do m undo real, mas elas procedem de modos diferentes. A abordagem da irmã Miriam Joseph tem inclinação filosófica. (77V1)
Um Breve Sumário de Indução - 243
silogística é ou a conclusão de um silogismo ou de uma serie de silogismos construídos somente de proposições gerais, ou uma in dução ou intuição obtida da natureza. Pois não há fórmula correta de inferência^ pela qual uma proposição geral possa ser derivada como urna conclusão a partir de premissas empíricas, e que sozinha expresse nosso conhecimento de fatos particulares. (A Regra to das regras gerais dos silogismos afirma: "Se uma ou ambas as premissas forem empíricas, a conclusão será, necessariamente, empírica"). Portanto, toda proposição geral é derivada da indução,1quer di retamente quer como resultante final. A indução é um ato mental, mas não uma inferência. E preliminar e um pré-requisito à inferên cia,- é uma intuição da verdade, quer geral quer empírica.
Tipos de Indução Há três tipos distintos de indução, nenhum dos quais é inferencial. IN D U Ç Ã O ENUMERATIVA
A indução enumerativa é a afirmação de uma proposição empírica plural e numericamente definida como resultado da observação de fatos e contagem de casos, por exemplo: cinqüenta e três pessoas morreram em acidentes automobilísticos naquela cidade no ano passado. Este é o tipo menos importante de indução e quase não merece ser assim chamado. Seu principal valor reside em contribuir com fatos averiguados a serem usados numa dedução ou em outros tipos de indução. Lima dedução estatística é uma conclusão num silogismo cuja premissa menor é uma indução enumerativa e cuja premissa maior é uma lei estatística ou matemática, usualmente expressa numa fór mula. A conclusão é a declaração de uma probabilidade numerica mente definida. Por exemplo, uma companhia de seguros baseia
í A afirmação da irmã Míriam Joseph de que "não há fórmula correta de inferência pela qual urna proposição geral possa ser derivada como uma conclusão a partir de premissas empíricas" significa que não há meio dedutivo para se extrair conclusão a partir de dados empíricos. A solução da autora, ao chamar indução de uma intuição, se resume á noção de que a indução é uma forma direta, não-inferencial, de conhecim ento. (TA1 ) ' A maioria dos especialistas em lógica diz que a indução c uma forma de inferência, dife rente da dedução, mas entre os estudiosos há uma discussão inacabada acerca da natureza da indução. A proposição a seguir ilustra o problema: iodos os objetos sem sustentação caem na direção do centro da Terra. C om o sabemos que esta proposição ê verdadeira-5 Falando rigorosamente, o máximo que podemos dizer é que todos os objetos cite lu}oui observados caem na direção do centro da Terra. A segunda afirmativa diz menos do que a primeira. Não há inferência dedutiva válida a partir de "Todos os objetos sem sustentação até agora observados caem" até "Todos os objetos sem sustentação caem". Esse é o prohlema da indução. (fAD
244
- () 'friviuw
seus índices no número provável de óbitos cientificamente calcu lados num grupo em particular - designados por idade, ocupação, localidade - no período de um ano determinado. Taxas de morta lidade fornecem a premissa menor para esta dedução estatística,- a premissa maior é uma fórmula matemática para o cálculo da proba bilidade. A conclusão é uma declaração de probabilidade numeri camente definida, suficientemente exata para servir de base a um empreendimento de negócios seguro e confiável. I N D U Ç À O INTUITIVA
Indução intuitiva é o ato psicológico de afirmar como verdadeira uma proposição auto-evidente. Este é, de longe, o tipo mais impor tante de indução. Se a proposição auto-evidente for empírica, será um dado de conhecimento sensível' e será relativa ao indivíduo sensível no ato da indução intuitiva. Um exemplo: A grama é verde. Uma pessoa cega não poderia fazer esta indução. Se a proposição auto-evidente for geral, será um princípio de conhecimento intelectual e será relativo à razão humana e ao co nhecimento dos termos pelo indivíduo que faz a indução intuitiva. Por exemplo: O todo é maior do que qualquer de suas partes. I N D U Ç À O DIALÉTICA O U PROBLEMÁTICA
Indução dialética ou problemática é o ato psicológico de afirmar uma proposição, seja geral ou empírica, como uma possibilidade, sem qualquer cálculo de sua probabilidade. E uma intuição da com patibilidade dos termos. ÊXEMPLO, Indução dialética Um polígono regular pode ter um milhão de lados. Esta criança pode vir a ser o presidente do Brasil.
Natureza e Propósito da Indução Indução é a derivação legítima de proposições gerais a partir de casos individuais. O que nelas é invariavelmente observado deve ser essencial à sua natureza. A indução é um método para a des coberta da verdade, e não um processo de prova ou de raciocínio sobre a verdade. ^ Isto é, um objeto dos sentidos. (N T.)
Um Breie Sumário de indução - 24 s
A ordem física, todavia, é complexa demais para permitir o ato mental da indução intuitiva sem o recurso de muito trabalho preli minar. A metodologia científica - os métodos de ciência - ocupa-se desse trabalho preliminar. Tais métodos são os procedimentos sis temáticos para a investigação dos fenômenos naturais. Seu objetivo é separar o que é essencial ou típico do que é acidental ou fortuito e apresentar à mente dados precisos, relevantes e simples. A men te então abstrai o juízo indutivo por meio de um ato intuitivo tão simples e espontâneo quanto aquele pelo qual abstrai o conceito diretamente dos dados sensíveis. A metodologia científica não é, de maneira alguma, um ato men tal, mas uma salvaguarda da precisão na investigação da natureza. E preliminar à indução em fenômenos complexos, tanto quanto a própria indução é preliminar à dedução. Indução e dedução são dis tintas, mas, na prática, andam lado a lado. Cada uma das ciências especiais pretende abstrair do fenômeno complexo natural leis que rejam aquele aspecto da natureza do qual trata. Por exemplo, a matemática trata apenas da quantidade,- a físi ca, do movimento,- a anatomia, da estrutura dos organismos vivos,- a economia, das atividades humanas de sustento. ÁNALQQA: Ciências especiais Petróleo é uma substância natural complexa da qual, através de destilação fracionada, são abstraídas diversas substâncias. Entre elas estão: gasolina, benzina, nafta, querosene, vaselina, parafina, asfalto artificial e naftalina. A característica distintiva de cada um desses produtos se deve (1) à abstração da parte do todo (compare às ciências especiais, onde cada uma delas lida somente com uma fase ou aspecto da natureza) por meio de destilação fracionada (compare à indução) e, em alguns casos, por meio de (2) processo industrial de manufatura (compare à dedução), que transforma o produto natural através da utilização de maquinário (compare à mente). Assim, o produto final deve a sua existência aos dotes naturais modificados pela engenhosidade humana.
O objetivo de toda ciência é o conhecimento dos fatos atra vés de suas causas. Isto é verdadeiro tanto para as ciências dedu tivas quanto para as indutivas. Na dedução conhecemos o fato, a conclusão, através de suas causas, as premissas. Na indução apreendemos a causa comum a um número de fatos observados,essa causa é um princípio, um termo médio, pelo qual sua rela ção pode ser entendida. Consideraremos primeiramente a natureza da causalidade, então a uniformidade da causação, e, por fim, os modos pelos quais o mé todo científico ajuda na descoberta das causas.
246 - 0 Trivium
Causalidade Uma vez que a indução trata principalmente da investigação das causas, é importante entender a distinção entre uma causa, uma condição e um tipo especial de condição chamado agente determi nante, bem como as quatro causas metafísicas. CAUSA
Uma causa é aquilo que tem uma influência positiva no fazer uma coisa ser o que é. A soma de suas causas, uma coisa deve cada uma de suas características. Uma causa não é um mero antecedente numa seqüèncía temporal. Por exemplo, dia e noite sucedem-se um ao outro, mas um não é causa do outro. A suposição de que o ante cedente numa seqtiência temporal é uma causa é a falácia indutiva [wst boc ertjo proptcr hoc, explicada no Capítulo 9. C O N D IÇ Ã O
Uma condição é aquilo que habilita ou permite a uma causa agir na produção de um efeito, mas à qual o efeito não deve nenhuma de suas características. Por exemplo, a claridade é uma condição para o escul pir de uma estátua,- a alimentação, para a boa saúde e competência do escultor,- os andaimes, para a ornamentação do teto de uma igreja. A G E N T E D E T ER M IN A N TE
O agente determinante é uma condição que põe em movimento os fatores causativos (causais). Ele difere das outras condições por ser a origem ou ocasião do efeito. Exemplos incluem o mosquito que transmite o germe da febre amarela e a pulga que transmite a peste bubônica. Com freqüência, a ciência busca mais encontrar o agente deter minante do que uma das quatro causas metafísicas. AS Q l I A T R O CAUSAS METAFÍSICAS
De acordo com Aristóteles, as quatro causas metafísicas explicam todo efeito material. São elas a causa eficiente, a causa final, a causa material e a causa formal. A causa eficiente e a causa final são extrínsecas ao efeito,- são as causas de uma coisa ter-se tornado o que é. As quatro causas metafísicas são explanadas a seguir, usando como exemplo uma estátua.1 1 . A m u sa eficiente é o agente e os instrumentos, por exemplo: o escultor, o martelo e o cinzel.
thi/ llrere Sumário de hicluçao - 14
2. A causa fin a l é o fim ou proposito que moveu o agente, por exemplo: desejo de honrar um herói nacional, o projeto específico que o artista concebeu, amor à arte, fama, dinheiro, etc. A causa final é a primeira na intenção e a última na execução. 3. A causa material é aquilo a partir do qual é feita a coisa, por exemplo: mármore, bronze, madeira. 4. A causa form al é o tipo de coisa na qual esta é transformada, por exemplo: Lincoln, Napoleão, Bucéfalo, Joana d ’Arc. A causa material e a causa formal são intrínsecas ao efeito,- são as causas de uma coisa ser o que é. Conhecer um objeto através de sua causa formal é conhecer a sua essência. Assim, a causa formal de um homem é a sua alma que anima o seu corpo, sua animalidade racio nal. A causa material é aquela matéria particular que constitui o seu ser ou ente físico,- este se modifica continuamente através do me tabolismo, mas é mantido e unificado pela causa formal, pela alma no corpo. Deste modo, o homem permanece o mesmo homem ao longo de sua vida através da permanência da causa formal.
Princípio da Uniformidade da Natureza O princípio da uniformidade é um postulado de todas as ciências naturais. E uma suposição dos cientistas que estudam o universo material, necessária fisicamente - e não metafisicamente. Não é passível de prova, mas de ilustração. O postulado pode ser assim enunciado: A mesma causa natural, sob condições similares, produz o mesmo efeito. Esta generalização precisa ser limitada de duas maneiras impor tantes: não é aplicável a um ser dotado de livre-arbítrio naquelas atividades sujeitas a controle pelo livre-arbítrio. Desta maneira, um ser humano é livre para erguer o braço direito ou não, para escolher pensar sobre um assunto e não sobre um outro. Mas uma pessoa não tem tal controle sobre a circulação do próprio sangue, a diges tão, quanto a cair de uma altura quando a sustentação é removida, etc. Além disso, o princípio da uniformidade requer a concorrência, ou concomitância, da Causa Primeira. Assim, milagres representam um desvio, ou variação, da uniformidade da natureza, atribuível ao livre-arbítrio da Causa Primeira. Note que o princípio da uniformidade da natureza não deve ser confundido com o princípio filosófico da causalidade, a saber:
24S - O Jririitn/
O que quer que venha a existir, precisa ter uma causa adequada. Este último princípio é um axioma filosófico, cognoscível pela in dução intuitiva. Axiomas filosóficos são verdades necessárias metafisicamente. Os postulados da ciência não o são, e, conformemente, não têm um grau de certeza tão elevado.
Método Científico A indução científica como método de descobrir a veracidade com preende cinco passos: observação, analogia, hipótese, análise e se paração de dados, e verificação da hipótese. OBSERVAÇÃO
A observação envolve a inquirição da natureza a fim de se chegar a fatos, os dados da indução. Em função da complexidade da nature za, a observação deve ser seletiva, analítica. E necessário cuidado para a obtenção de fatos livres de inferências. A observação comum é complementada por (1) instrumentos científicos, por exemplo: telescópio, microscópio, microfone, câmera, barômetro, termôme tro, balanças de precisão e (2) pela estatística, ou enumeração, por exemplo: um estudo estatístico da recorrência de depressões, das causas de óbitos, do número de casamentos e divórcios, da difusão de traços hereditários entre a progênie. A observação simples, auxiliada pelo uso de instrumentos cien tíficos e estatística, é quase o único meio disponível a ciências na turais tais como a zoologia sistemática e a astronomia e também a algumas ciências sociais. O experimento é a observação sob condições sujeitas a controle. Sua vantagem reside na oportunidade que oferece para simplificar, analisar, repetir à vontade e inquirir a natureza por meio de variação das condições, uma de cada vez. Uma ciência que pode empregar a experimentação controlada avança muito mais rapidamente do que aquelas que não podem. Em larga medida, o rápido progresso da física, da química e da bacteriologia, por exemplo, se deve aos ex perimentos. A N A l i )GIA
A analogia ou similitude em diferentes classes de fenômenos sugere à mente científica alerta a probabilidade de uma relação causai. A ana logia é uma fértil fonte de hipóteses. A tabela periódica de elementos químicos teve o seu início na analogia,- por sua vez, essa tabela apre senta analogias que deram ensejo a outras descobertas científicas.
Lhu Ihvve Sumário ile Inducao - 24 9
HIPÓTESE
Hipótese é uma conjetura científica com base em leis gerais, que tenta explicar fenômenos que aparentam guardar relação causai. As hipóteses guiam a observação e o experimento. A investigação subseqiiente confirma ou derruba as hipóteses. ANÁLISE E SEPARAÇÃO I)E D A D O S (M E T O D O L O G I A CIENTÍFICA)
Roger Bacon (12147-1294) enfatizou a importância da ciência experimental e a sua posição nos estudos cristãos. Francis Bacon (1561-1626) desenvolveu uma teoria da indução. John Stuart Mill (I 806-1873) formulou cinco cânones ou métodos gerais de ciência e os popularizou. Método de concordância
Se dois ou mais casos de um fenômeno sob investigação têm ape nas uma circunstância em comum, a circunstância única na qual todos os casos concordam é a causa ou o efeito do fenômeno dado. Note que nas fórmulas de Mill as letras maiusculas simbolizam antecedentes e as minúsculas, consequentes. Cada grupo represen ta um caso. A fórmula é ABC—abc,- ADE-ade. Por isso, A tem rela ção causai com a. EXEMPLO: Método de concordância William Stanley Jevons descreve como foi descoberta a causa da iridescência da madrepérola. Alguém podería supor que as cores peculiares da madrepérola fossem devidas às qualidades químicas da substância. Muito esforço foi despendido para levar a cabo o exame dessa idéia pela comparação das qualidades químicas de várias substâncias iridescentes. Mas sir David Brewster acidentalmente fez uma impressão de uma peça de madrepérola sobre um molde de resina e cera de abelha. Percebendo que as cores repeciam-se sobre a superfície da cera, ele então fez outras impressões sobre bálsamo, metal fusível, chumbo, goma-arábica, mica, etc., sempre descobrindo que as cores iridescentes eram as mesmas. Assim, ele provou que a natureza química da substância é indiferente e que a forma da superfície é a condição real de tais cores."
Método de diferença
Se um caso no qual um fenômeno sob investigação ocorre e um caso no qual ele não ocorre têm todas as circunstâncias em comum exceto uma, e esta ocorre somente no primeiro, a circunstância úni ca na qual os dois casos diferem é o efeito ou a causa ou uma parte indispensável da causa do fenômeno. A fórmula é ABC-abc, BC—bc. Por isso, A tem relação causai com a. '■William Stanley Jevons, Elewaitiiiy Lessems in Look Nova York, Macmillan, 1914, p 241
250
-
() Iriviimi
EXEMPLOS: Método de diferença Olhos inflamados e crescimenro retardado são observados em ratos cuja dieta não contém vitamina A. Um sino que bata no vácuo não fará som algum; na presença de ar, faiá; deste modo, a vibração do ar é entendida como tendo relação causai com a produção de som.
Método de combinação de concordância e diferenço
Se dois ou mais casos nos quais um fenômeno ocorre têm apenas uma circunstância em comum, enquanto dois ou mais ca sos nos quais o fenômeno não ocorre não têm nada em comum exceto a ausência daquela circunstância, a circunstância única na qual os dois conjuntos de casos diferem é o efeito ou a causa ou uma parte indispensável da causa do fenômeno. A fórmula é ABC—abc, ADE-ade, BDM-bdm, C EO —ceo. Por isso, A tem relação causai com a. EXEMPLOS: Método de concordância e diferença O uso da antitoxma da difteria para criar imunidade à difteria. A presença do íon do hidrogênio em todos os ácidos.
Método dc resíduos
Subtraia-se de qualquer fenômeno a parte que, segundo indu ções prévias, constitui o efeito de certos antecedentes e resultará que o resíduo do fenômeno é o efeito dos antecedentes restantes." A fórmula é ABC—abc. Mas é sabido que A causa a e que B causa b; então, C deve causar c. EXEMPLOS: Método de resíduos A determinação exata do peso de meio litro de leite numa garrafa de um litro requer que o peso da garrafa e do meio litro de ar sejam subtraídos do total. Descoberta do argômo no ar. Descoberta do planeta Netuno.
Método de variações concomitantes
O fenômeno que varia de alguma maneira enquanto outro fenô meno varia em algum aspecto particular é ou a causa ou um efeito O
Ferratcr Mora op. cit , t. I p. S94 (N T.)
Um Breve Sumário de Indução - 251
desse fenômeno, ou está relacionado a ele mediante algum fato de ordem causai. A fórmula é A'BC—a'bc, A’BC—aJbc, AdfC-adac. Por isso, A tem relação causai com a. EXEMPLOS; Método de variações concomitantes Efeito das mudanças de temperatura sobre uma coluna de mercúrio - disso, o termômetro. Marés e a Lua. Lei da oferta e procura na formação de preços.
VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES
Francis Bacon não apenas antecipou a substância dos cânones de Mill, mas também indicou os passos subsequentes na descoberta de leis científicas. A forma da qual ele fala é a causa formal do efeito em questão. Toda forma qu e est iver p r e s e n t e q u a n d o a p r o p r i e d a d e em q u e s t ã o est i ver ausent e, ou a use nt e q u a n d o esta ultima est iver p r e s e n t e , o u qu e não c r e s ça n e m d e c r e s ç a c o n c o m i t a n t e m e n t e c o m essa ultima, d e v e ser re| ei tada por não ser a forma rel acionada c a u s a l me n t e c o m aquela ultimaf.. ) O n d e não for possível (tal c o m o na ma t e má t i c a ) ver que u ma p r o p o s i ç ã o deve ser u n i v e r s a l me n t e ve r da de i r a e que, p o r t an t o , seja necessário d e p e n d e r de sua prova c o m base nos fatos da experi ência, não há o u t r o mei o de e st a be l e c ê - l a senão o d e d e m o n s t r a r q u e tais l at os d e s m e n t e m as h i p ó t e ses contrárias.
Disso se estabelecem os passos da verificação: Da mesma manei ra que na formação de um conceito, a abstração remove da atenção do intelecto aquilo que não é essencial, de modo que esse possa intuir o que é essencial. Em outras palavras, a exclusão daquilo que não tem relação causai permite ao intelecto intuir sobre aquilo que guarda uma tal relação. Exclusão (Eítiniiíítção)
A exclusão (eliminação) é efetuada por meio de um raciocí nio dedutivo a partir de uma proposição disjuntiva. As premissas menores do silogismo exclusivo (eliminatório) são proposições empíricas que declaram o resultado de observação de fatos sob investigação. As premissas maiores são os cânones dos métodos científicos gerais. A causa de X é ou A ou B ou C ou D.
2^2 - () Iririitul
1. Apenas A está presente quando X está ausente. A causa de X não pode estar presente quando X estiver ausente. Portanto, A não é a causa de X. 2. B está ausente quando X está presente. A causa de X não pode estar ausente quando X estiver presente. Portanto, B não é a causa de X. 3. C nã o varia c o n c o m i t a n t e m e n t e c o m X.
A causa de X varia concomitantemente com X. Portanto, C não é a causa de X. A causa de X não é A, nem B, nem C. Portanto, provavelmente a causa de X é D. Note que as alternativas do silogismo disjuntivo não devem ser uma mera catalogação enumerativa de possibilidades. As alternati vas devem ser selecionadas por critério científico dentre os antece dentes prováveis e não pela reunião aleatória de fatos irrelevantes.s Note também que a mera exclusão não provê qualquer certeza. A conclusão do silogismo disjuntivo representa apenas o grau de simplificação que o método científico pode atingir. Depois que as alternativas concorrentes tenham sido refutadas, os dados, os fatos da natureza, agora despidos de suas complexidades, se põem a nu, por assim dizer, diante dos olhos da mente. hiJiiulo íntuitiihi
Se a mente enxerga razões positivas para afirmar que a causa de X é D, há certeza. Se não há, a análise dos dados provavelmente foi incompleta, e as alternativas não foram exaustivas,- um antecedente desconhecido, não listado, pode ser a causa de X. Aplicu^ílo e íicmouslnKjlo por dedução
A certeza resultante da indução intuitiva de uma lei geral precisa ser demonstrada por inferência silogística usando ou um silogismo
s N o C apitulo 7 a explanação sobre inferência analógica relaciona-se ao m étodo de eliminação no raciocínio científico. 11 necessário que a seleção se dê através de outros métodos científicos para que o processo seja eficaz " Uma razão pela qual a mera eliminação |exclusão] não confere certeza é que geralmente não ha nenhuma certeza de que todas as disjuntivas relevantes tenham sido descobertas (T a i >
Um Breve Sumário de Indução - 253
regressivo"1—ou inverso —(da conclusão, passando pela premissa menor até a premissa maior), ou um silogismo demonstrativo. Um silogismo regressivo (inverso) é o elo entre a indução e a dedução. E uma verificação teórica das hipóteses por meio de dedução. Buscar a causa de fenômenos naturais, uma lei que os go verna, é buscar um termo médio, o qual é a causa formal da relação dos termos na conclusão de um silogismo Em contraste com o pro cesso definido pelo qual as premissas levam ã conclusão, buscar o termo médio é um processo indefinido e inverso, pois S e P podem estar relacionados por meio de muitos termos M. A conclusão pode ser apoiada por muitas razões. ANALOGIA; Buscando um termo médio Na matemática, prosseguimos de modo definido de um multiplicador e um multiplicando ao produto, mas o processo inverso é indefinido, tal como demonstrado no exemplo a seguu Dado: 6X6. Qual c o produto7Resposta definida: 36. Dado: 36. Quais são os fatores7 3 X 12; 4 X 9: -2 X -18; -3 X -12: -4 X -9.
Indução é um processo inverso similar e indefinido até que seja verificado por dedução e aplicação. Em nossa observação da natureza, intuímos a proposição empí rica S é P Mas S é P porque é M. Todo o problema da descoberta das leis da natureza consiste no problema de descobrir M. O efeito P prova a presença da causa M Aqui, M deve ser não apenas o an tecedente de P mas o único antecedente, uma propriedade ou uma definição. Por isso, M é P deve ser conversível simplesmente em P é M. Em outras palavras, a ciência busca a verificação de uma hipértese que possa ser expressa numa proposição hipotética que seja recíproca: Se S é M, é P; e se S é 1) é M. Quando esta relação recí proca é encontrada, pode ser declarada num silogismo regressivo na primeira figura S é P P é M. Portanto, S é M. Então, a verificação teérrica da hipértese, declarada por extenso, é Se S é M, é P Mas S é M. Portanto, S é P Um silogismo demonstrativo é uma verificação prática da hipó tese por meio de dedução. Como passo final na sua verificação, a hipértese precisa ser apli cada outras repetidas vezes sobre os fatos da natureza, para que, 10 C) silogismo c chamado m/rewíM porque, na investigação, a conclusão aparece primeiro na forma de um juízo intuitivo, h.ssc juízo presumivelmente contém as premissas (N. I )
2 ^ 4
- ()
h ii i i u u
por meio disso, tenha a sua veracidade demonstrada. A hipótese torna-se a premissa maior num silogismo cuja premissa menor é uma proposição empírica derivada por intuição a partir da observa ção da natureza. A conclusão que se segue a partir de uma fórmula silogística correta que empregue essas premissas é, então, uma pro posição empírica que é uma inferência a partir da hipótese em teste. Se este processo for repetido muitas vezes, com dados diferentes, típicos e amplamente selecionados, atuando como as premissas me nores dos silogismos de teste, e se em todos os casos a conclusão empírica inferida conformar-se aos fatos da natureza observados, então a hipótese estará verificada, ficando demonstrado ser ela uma lei da natureza. Aqui, pela combinação de dedução e indução, veri ficamos diante do tribunal da razão humana a lei geral que a indução nos forneceu. A dedução leva à consistência na ordem conceptual e a indução leva à promessa fidedigna de que esta ordem conceptual representa fielmente a ordem real.
FILOSOFIA NO CAMPO DO CONHECIMENTO Qual o lugar da filosofia no campo do conhecimento? Nossa ra cionalidade nos instiga a analisar, relacionar, organizar, sintetizar e, assim, a simplificar nosso conhecimento. A filosofia representa a maior unidade e simplicidade que a razão humana desamparada pode atingir. Avanço em direção à unidade ■'i. Lxperiéncia (tato p. e x , LJma pedia uii. Um a cadeita cai.) 3. Ciência (lei p. e x , a lei da gravidade ) 2. Filosofia (princípios p ex , lodo eieiLo piecisa ter uma causa adequada ) I Visão beatífica (Unidade da Perfeita Verdade a totalidade no Um. A teologia e a té nos preparam para a visão beatífica depois da moite.) 10- I
Smtvsc do lonhcuniciuo
Esses quatro passos na síntese do conhecimento são os territórios especiais da história, ciência, filosofia e teologia A função principal da história é fazer a crônica dos fatos de experiência. A função principal da ciência ê organizar fatos sob as causas e leis Um Bre\’e Sumário de Indução - 255
p r ó x i ma s o u imedi at as. A f u nç ão principal d a filosofia é d e s c o b r i r as causas últimas o u f u n da me n ta i s. A filosolia aceita as d e s c o b e r tas das ciências e speci ai s c o m o seus d a d o s e trata d o s p r in c í p i o s e car ac ter ís t ic as f u n d a m e n t a i s q u e c o n s t i t u e m a o r d e m d o u n i v e rs o com o um todo.
A filosofia especulativa se preocupa com o conhecimento da or dem real por amor ao conhecimento. De acordo com as três clas ses de objetos a serem entendidos, a mente emprega três tipos de abstração e distingue três grandes campos do conhecimento: (I) Física, em sentido amplo, significando todas as ciências especiais que lidam com o mundo material e que abstraem as condições indi viduais e se preocupam com leis gerais e com o tipo universal,- (2) Matemática, que abstrai apenas a quantidade para consideração,- (3) Metafísica, que abstrai apenas o ser como ser. A filosofia p r á t i c a o u n o r m a t i v a r egul a as a ç õ e s d e a c o r d o c o m a l gu m p a d r ã o . A lógi ca lida c o m o p e n sa me n to , - ela d i r i g e o i n t e l e c t o à v e r d a d e . A é t i c a (filosofia mor al ) lida c o m a ação,- ela d i r ig e a v o n t a d e p ar a o b e m . A e s t é t i c a lida c o m a expressão,- ela d i r i g e o i n t e l e c t o , os s e n t i d o s e as e m o ç õ e s para a b e l e z a e sua contemplação. A a b s t r a ç ã o é a ba s e da ciência e da filosofia. C a d a ci ê nc ia e s p e cial a d o t a c o m o sua esfera d e i n v e s t i g a ç ã o uma c a r a c t e r í s t i c a geral e ignor a t o d a s as out ras. E s o m e n t e p o r e s t e m e i o q u e seres h u m a nos p o d e m fazer a va n ço s n o c o n h e c i m e n t o . U m s e r c o m p l e x o , p o r e x e mp l o , um h o m e m o u u m a mulher, é feito o b j e t o d e distintas ciênci as especiais, tais c o m o biologia, psi col ogi a, a n tr o p o l o g i a , é t i ca, e c o n o m i a , política, e c ad a u m a d e s t a s e s t u d a a p e na s u m a s p e c t o e s c o l h i d o . At é m e s m o a quí mi ca, a física e a m a t e m á t i c a p o d e m c o n t r i b u i r para o n o s s o c o n h e c i m e n t o da h u m a n i d a d e . N e n h u m a ciênci a nos d á t o d a a v e r d a d e . T od as junt as nos d ã o u m a v e r d a d e , u m q u a d r o c o m p l e x o , mas l imi t a do, é claro, pelas i n a d e q u a ç õ e s da m e n t e h u m a n a. E m u i t o i m p o r t a n t e p e r c e b e r a s e le t i v i d a d e das c iênci as e s p e ciais — e n t e n d e r q u e c a d a u m a r e p r e s e n t a a p e n a s u m a s p e c t o da realidade. C o n h e c e r um a s p e c t o c o m o p arte d e um t o d o c o m p l e xo m a i o r é c o n h e c e r u m a p a r t e d a v e r d a d e . M a s p e n s a r q u e tal aspecto único é o t o d o é distorcer a verdade, transformando-a e m e r r o g r os s e i r o . E s t e é o p e r i g o d a e s p e c i a l i z a ç ã o A filosofia, ao h a r m o n i z a r as d e s c o b e r t a s d a s c i ê n ci a s es pe ci a is , c h e g a mais p e r t o d e nos d a r a v e r d a d e t od a , na m e d i d a e m q u e s ó p o d e m o s c o n h e c ê - l a pel a razão.
2 ^(> - O /m iuiu
A principal f u n çã o da t e ol og ia é c o m p l e m e n t a r o c o n h e c i m e n t o h u m a n o c o m u m c o n h e c i m e n t o q u e a razão h u m a n a d e s a m p a r a d a nã o p o d e atingir. Esta é a Revelação, q u e c o m p r e e n d e t a n t o o c o n h e c i m e n t o e s p e c u l a t i v o q u a n t o o p r át i co, e s p e c i a l m e n t e a part i r d e D eu s , q u e é a C a u s a Primeira d e t u d o o q u e a ciência e a fiIosolia e s t u d a m , e o Fim U l t i m o d o h o m e m , q u e as estuda.
DEFESA DA FILOSOFIA PERENE A lógica da lilosolia p e r e n e a p r e s e n t a d a n e st e livro é h oj e d e s d e nh ad a e m mui t as u n i ve rs i da de s c o m o obsol et a, i n a d e q u a d a e i m p r óp r ia para u m a era cientifica. O p o si ti vi smo l ógi c o a d m i t e c o m o c o g no s c í v e l a pe na s a e xp e ri ê nc i a sensível d a ma té ri a e as rel ações d e c o e x i s t ê n c i a e s u c e s s ã o nos l e n ò m e n o s naturais,- nega o espírito, o i n t e l e c t o e a c a p a c i d a d e d e c o n h e c e r a e ss ê nc i a. " A s e mâ n ti c a m o d e r n a c o n s i d e r a nã o so as palavras, mas t a m b é m as idéias, c o m o arbitrárias e camhiantes,- nega q u e as palavras sejam si gnos d e idéias q u e v e r d a d e i r a m e n t e r e p r e s e n t a m coisas. A nova léigica m a t e m á t i c a o u simbédien, " q u e visa l ib e rt a r a léigica d as r es t r i çõ e s das palavras e coisas, t o r n a - s e m e r a m a n i p u l a ç ã o d e s í mb o l os c a p a z es d e ser t e s t a d o s p o r sua c o n si s t ê nc i a interna, mas s e m q u a l q u e r c o r r e s p o n d ê n cia c o m idéias o u coisas ( p o r t a n t o , s e m q u a l q u e r p e r m a n ê n c i a ou v e r a ci d a d e) . A lilosolia p e r e n e s u s t e n t a q u e s í mb o lo s tais c o m o a qu el es d o silogismo, d a o po si çã o, o b v e r s ã o e c o n v e r s ã o r e p r e s e n t a m u m grau d e a bs t r a çã o mais e le va do e r elações mais claras d o q u e o q u e p o d e m s o m e n t e as palavras e que, p o r t a n t o , r e p r e s e n t a m um c o n h e c i m e n t o mais avançado,- tais s í m b o l o s são conl i ávei s e x a t a m e n t e p o r q u e r e p r e s e n t a m palavras q u e d e lato c o r r e s p o n d e m a idéias e coisas. Esses s í mb o lo s i nd i ca m o c a m i n h o para uma létgicn simbédica mais c o m p l e t a , q u e p r es er va as v e r d a d e s básicas da lilosolia p e re n e, em p a r t i cu l a r o s e u saudável r e s p e i t o pel o c o n h e c i m e n t o intelectual d e r i v a d o p o r a b s t r a ç ã o a p a rt ir d o c o n h e c i m e n t o sensível. 1
11 A queixa dó irmã Minam losepli contra o posit i\ ismo logic o cm Icgíl ima cm I clavia, atualmente o posit ivismo logit o e considerado extinto ( /Al)
/
!o
1 A lógica moderna ainda trata de proposições verdadeiras ou ialsas Ademais, silogismos, conveisào, obversão e correlates não desapareceram da lógica modema. Mais propria mente, foram agrupados t orno casos especiais cie prmt ipios e lorinas mais gerais ( / Al )
Um Breve Sumário de Indução -257
11. COMPOSIÇÃO E LEITURA O DESENVOLVIMENTO DA LÓGICA, RETÓRICA E POÉTICA A a rt e da r et ó r i ca o r i g i n o u - s e na Sicília, q u a n d o d o e s t a b e l e c i m e n t o d e uma d e m o c r a c i a e m Siracusa n o a no d e 4 6 6 a C. Lá, C o r a x e seu p u p i l o
Tísias d a v a m assi st ênci a à qu el es q u e t i nh a m
s i do e x p r o p r i a d o s para c o n v e n c e r os m a g i s t r a d o s q u a n t o à justiça d e suas r ei vi ndi c aç ões d e r estituição. C o r a x re un i u alguns p r e c e i t o s t e ó r i co s b a se a do s p r i n c i p a l m e n t e n o t ó p i c o da p r o b a bi l i d a d e geral, c h a m a d o eikor (ver Ari st ót el es, Retórica, 2.2 1.9); Tísias d e se nv o l v e u - o u m p o u c o mais, c o m o m o s t r a Platão e m FeJiv O r g i a s , o siciliano, q u e loi a A t e n a s e m 4 2 7 a Cê, i n t r o d u z i u a a r t e da ret óri ca e m mui t as p a rt e s da O é c i a , o n d e t e v e m u i t o s discípulos, d e n t r e os quais o mais l a mo s o e a dmi r áve l loi Isócrates, o p r o f e s s o r e orador. C.órgias, Pr ot ágor as , P r ó d ic u s e Hí pi as en f at i z av am as graças d o e s tilo, figuras d e ret óri ca, d i s t i nç ã o d e s inôni mos , c o r r e ç ã o e e l e g â n cia na e sc o lh a d e palavras, e regras d e ritmo. O r g i a s visava e ns i nar c o m o convencer, i n d e p e n d e n t e m e n t e de qualquer c o n h e c im e n to d o as s u nt o. Ele r e c o n h e c i a e n si n a r a persuasão, e n ã o a vi rt ude. Pl at ão e A r i st ó t e l e s c o n d e n a v a m os sofistas C.órgias, P r o t á g or a s e o u t r o s , p o r sua sup er fi ci al id ad e e seu d e s p r e z o pela v e r d a d e , pois esses e ns i n av a m c o m o fazer o p i o r p a r e c e r ser a m e l h o r causa. O p r ó p r i o A r i s t ó t e l e s c o n s t r u i u u m b e m e qu i l ib r ad o s i s t ema das ar tes da d e s c o b e r t a e c o m u n i c a ç ã o da v e r d a d e . Seus t r a t a d o s s o b r e esses a s s un t o s i n fl ue nc ia ram p r o f u n d a m e n t e a sua p r óp r i a é p o c a e as p o st e r i o r e s . Ele s i s t e m a t i z o u a r et ór ic a e a t r a n s f o r m o u n u m i n s t r u m e n t o da v e r d a d e . Ele afirmava e x p l i c i t a m e n t e se r o f u n d a d o r da a rt e da lógica. Sua Ibeliui é o início da v e r d a de i r a crítica literária. Lógi c a e r et ó r i ca o c u p a m - s e c o m a d e s c o b e r t a e c o m u n i c a ç ã o da v e r d a d e d i r e t a m e n t e da m e n t e d o a u t o r para a m e n t e d o o u v i n t e o u leitor. A p o é t i c a é u m m o d o d e c o m u n i c a ç ã o b a s t a n t e d i f e r e n te, u m t i p o i n d i r e t o q u e imita a vida nas p e r s o n a g e n s e situações,l ei t or es o u o u v i n t e s p a r ti lh a m i ma g i n a t i v a m e n t e das ex p e ri ê nc ias das p e r s o n a g e n s c o m o se essas fossem del es mesmos,- c o n t u d o , a p o é t i c a surge a p a rt ir d o c o n h e c i m e n t o assim c o m o d o s e n t i m e n t o , e n q u a n t o a l ógica e a r e t ó r i ca são e m p r e g a d a s na c o m u n i c a ç ã o d o
Composição e Leitura - 259
t o d o , o qual vai além d a q ue l e s. Poét i ca é a r g u m e n t a r ã o at ravés d e r epresent ac; ão vivida.
Lógica Ar i st ót el es dividiu a lógica, d e a c o r d o c o m o seu a s s u nt o , e m d e m o n s t r a ç ã o científica, dialética e sofistica, t rat adas nas o b r as n o m e a da s abaixo 1. Os sujiimfos iiiiiií/ikos D e m o n s t r a ç ã o científica q u e t e m c o m o t e m a p r e m is s a s q u e são v e r da d ei r as , es s e nc ia is e certas. N e s t e c a m p o nã o há d o i s lados para u m a q u e s tã o , mas a p e n a s um. O r a c i o c í nio é m e r a m e n t e expo s i ti vo , tal c o m o na ge ome tr ia , q u e se m o v e passo a passo até a d e m o n s t r a ç ã o c on c lu s i va d a qu i l o q u e e st a va p o r ser p r ov a d o . Os />niiinVos íiimI/1/cos lida c o m a c e r t e z a at ravés da f o r ma. A o b r a t rata da inferênci a e a p r e s e n t a o silogismo. 2. I ópicos
( ro/ma). A dialética t e m c o m o seu t e m a a o p i n i ã o e não
o c o n h e c i m e n t o a b s o l u t a m e n t e c er to, p o r t a n t o , as p r emi ss a s são m e r a m e n t e prováveis. N e s t e c a m p o há os d o i s lados d e u m a q u e s t ã o e há s u p o r t e r a zoável p a r a as v i s õ e s o p o s t a s , a m b a s a p e n a s pr ov á ve is , n e n h u m a certa, ai nd a q u e c a d a p e s s o a e n g a j a d a n o d e b a t e p o s s a e s t a r p e s soal, e a té a r d e n t e m e n t e , c o n v e n c i d a d a v e r a c i d a d e d e suas o pi mòcs. P o r é m, ela nã o p o d e r á s i m p l e s m e n t e c o ns i d e r á - l a s c o m o p o s s u i d o r a s da q u a l i d a d e da p r o v a g e o m é t r i c a , poi s c ad a d e b a t e d o r preci sa r e c o n h e c e r q u e a q u e s t ã o e m d i s c u ss ã o nã o é int r i n s e c a m e n t e clara e q u e o p o n t o d e vista d o o p o n e n t e n ã o é tão falso q u a n t o a p r o p o s i ç ã o d e q u e d o i s e d o i s são ci nco. O d e b a t e é c o n d u z i d o n u m e s p ú á t o d e i n q u i r iç ã o e a m o r pela v e r d a d e . Se, n o c u r s o da d i s c u ss ã o, u m d e b a t e d o r vir q u e a t e s e d o o p o n e n t e é v e r d a d e i r a e q u e a q ue la q u e ele m e s m o d e f e n d i a é falsa, p o d e se d i z e r q u e v e n c e u o d e b a t e , poi s g a n h o u a v e r d a d e , a qual, ele a go ra vê, seu o p o n e n t e já d e t i n h a d e s d e o iní ci o O s Diiííoi/os d e Platão são os e x e m p l o s p e r f e i t o s d e d ia lé ti c a 3. Dcfií íifçõcs sojbí/ciis ( t r a t a d o s o b r e falácias ma ter iai s ) . A sofistica t e m c o m o a s su n t o as premi ssas q u e a p a r e n t a m ser g e r a l m e n t e a c e i tas e a p ro p r i a d a s mas q u e r e a l m e n t e n ã o o são. N e s t e c a m p o , u s u a lm e n te o da opinião, os sofistas b u s c a m nã o a v e r d a d e , mas ape na s uma apar ênci a d e v e rd a de , o b t i d a pel o us o d e a r g u m e n t o s falacio sos cuj o o bj e ti vo é a pe na s o d e criticar e h u m i l ha r o o p o n e n t e n u m
2
odc c o m e ç a r a p ar ti r d e u m a ação r et r os pe ct i va , ainda q u e possa c o m e ç a r p o r u m a reminiscência,- e s tas duas nã o são idênticas.
As cenas dramáticas e não-dramáticas c o n s t i t u e m a narrativa. As ce na s d r a má t ic a s cri am u m a e x p e r i ê n c i a da qual o leitor p o d e No original, Sheep ot the Prisons" era uma “ iria usada durante a Revolução Prancesa para designar espiões infiltrados entre os prisioneiros (N 1.)
()() - ( )
/ tivimi!
partilhar imaginativamente, através do dialogo, do devaneio de um personagem, da narrarão minuciosa da ação e dos detalhes retrata dos vividamente. Lima cena é obrigatória se a necessidade psicoló gica requer Lima apresentação dramática que satisfaça o interesse do leitor e que torne a estória, ou Lim personagem, convincente e plau sível. llm diálogo deve favorecer o desenvolvimento do enredo, revelar o personagem e ser natural. Llm diálogo não pode ser criado pela mera colocação de palavras entre aspas, adicionando ele disse, chi disse, etc. Ele precisa ter a qualidade da fala e deve se ajustar ao personagem e á situação A narração não-dramática simplesmente dá informação ao leitor através da explanação do autor e do sumário de eventos. Na maioria das boas estórias, esse tipo de narração não e comum. O âng ul o d e nar raç ão inclui p o n t o de vista, foco,
liso
de planos
e o grau d e dramatização. 1. Paulo Je lósla Lima estória e ha bi tual ment e cont ada do p o n t o de vista da terceira ou da primeira pessoa. l ) o p o n t o de vista da primeira pessoa, o nar rador p o d e ser o per sonagem principal ou out ro personagem m en os import ant e. Na terceira pessoa, a estória p o d e fazer
liso
da narração onisciente, a p r e s en t an do os p e n s a m e n
tos de muitos ou de t o d o s os per sonagens Pode t ambém fazer
liso
limitado da narração onisciente, a p r e s en t an do os pe ns a me nt os de apenas Lim personagem. O pont o de vista da segunda pessoa Lisa Lim nar rador cjue fala d i r et a me n te ao leitor, e raro. 2. Foco. Da perspectiva de quem a estória será contada"1 De quem é a esteíria a ser contada"1 As vezes, a escolha de Lim ângulo de narra ção não usual p rov oc a Lima m ud an ça interessante mima estória que, d e ou t ro modo, seria apenas mais Lima estória comum. Por exemplo, Lima tragédia mima certa família do p o n t o de vista do encanador, ou Lima briga entre enamor ados do p o n t o de vista de Lim motorista de táxi N o s dois casos, a narrativa poderia ser tanto na primeira q u a n to na terceira pessoa. Llm efeito interessante e ás vezes produzido, n o rm al m en t e em obras mais longas que Lim conto, p o r contar a mes ma estória, ou parte dela, mais de Lima vez, cada vez d o p o n t o d e vista d e Lim per sonagem diferente Por exemplo: The Riinj oiul lhe Pook, de Robert Browning, e () som c,i fiírui, de William Fautkner.
Composição e Leitura - 267
3 PLwp (Quadro). Uma estória pode ser contada dentro do plano de outra maior. Por exemplo-, "O ladrão honrado”, de I Dostoiévski, e "O homem que queria ser rei”,' de Rudyard Kipliny 4. (iriiii tlc JnniiiiliZii^iui. Lima estória pode ser objetiva e apresen tar apenas a Laia e a ação de seus personagens, ou subjetiva, ao apre sentar os pensamentos de um ou mais personagens. Por exemplo: "The Lottery" (objetiva), de Shirley Jackson e "Gimpel the Fool" (subjetiva), de Isaac Hashevis Sin^er. Antecipar sinais de acontecimentos posteriores na ação, sem revelá-los, altera o suspense e a plausibilidade Suspcnse é curiosidade ou ansiedade aprazível criada pelo in teresse na estória. A motivação dos personagens, a antecipação e a estrutura da estória contribuem para o suspense. Suspense não e surpresa. Transição redere-se ás articulações entre os segmentos da ação Técnica de apresentação inclui os artifícios que um escritor usa para contar uma estória. O escritor habilita os personagens a ex pressar a estória em ações. Algumas vezes, uma estória é contada através de cartas, de um diário ou de sonhos. Escritores também fazem uso de diálogo, devaneio, imagens, explicação e sumário Comumente, muitas dessas técnicas são empregadas,- a explicação (ou esclarecimento) deve ser usada com bastante moderação
A Estrutura de uma Estória A estrutura de uma estétria pode ser apresentada como seçme O tema é a idéia fundamental da estória e pode ser expresso em ter mos gerais em uma frase. Os asteriscos indicam cenas dramáticas. "O im u o Dh n,\iiii,\vti"
Poi (iiiy tlc Pcrsomujein: Mestre Hauchecorne. Problema. Livrar-se da suspeita de roubo.
I hc A l d l l 2 6 8 - 0 Trivium
H p l l l i í l f r Kllfi/
(N l.
1)
Soluulo: F.le não consegue se livrar ela suspeita, mas morre, pro testando em vão sua inocência Tema: As aparências enganam.
luiuo ,l,i apio: Hauchecornc apanhou do chão um pedaço de bar bante e um inimigo seu o viu. Poulo a í l u o (,1c Acusado por seu inimigo de apanhar rio chao uma carteira que havia sido roubada, ele contou a verdade, mas não acreditaram em sua estona, mesmo depois que a carteira foi encontrada e devolvida ao dono: pensaram que um cúmplice a tinha devolvido. (Ele loi livrado da acusação em juízo, mas não da suspeita de seus concidadãos). DisniLicc F.sgotado pelos inúteis eslorços em fazer-se acreditar, ele detinha e morre, ainda em descrédito.
Ação Retrospectiva
Ação Prospectiva
I. Vendo um pedaço de barbante no chão, mestre Hauchecornc o apanha. Ele percebe que mestre Malandain o estava ob servando. 2 Ele e Malandain uma vez tiveram uma rixa, da qual surgiu uma inimizade mutua. W Enquanto Hauche cornc estava na cstalagcm de Jourdain, o pregociro da vila anunciou que mestre Houlbrequc tinha perdido uma carteira com 500 trancos c alguns do cumentos.
Composição e Leitura -269
14 O cabo da guarda vai à estalagem intimar Hauchccornc, que o acompanha. * ã Trazido diante do pre feito, Hauchecorne é acu sado de roubar a carteira. 6. Malandain tinha leito a acusação contra ele.
17. Hauchecorne negou a acusação e alirmou que ele apenas apanhou do chão um pedaço de bar bante, o qual ele tirou do bolso. 8 Ninguém acreditou nele. 4 Revistado a seu próprio pedido, Hauchecorne foi dispensado com uma ad vertência. 10. Hauchecorne contava a sua estória do barbante a quem quer que encon trasse. Ninguém acredita va nele. As pessoas riam. 11. Hauchecorne então voltou para o seu próprio vilarejo, onde andou por todos os cantos contando a sua cstéiria, na qual nin guém acreditou. Ele pas sou a noite inteira pen sando no assunto. 14 No dia seguinte, um trabalhador de uma fa zenda devolveu a carteira sumida.
( )
/ m
m ui
13. Ele a tinha a c hado e, s en do analfabeto, levou-a a seu patrão para que a identificasse
*14. Hauchecorne repe tiu, a todos que encon trou, a estória do barban te, triunfalmente acres centando como prova de stia inocência o fato de que a carteira tinha sido devolvida. *15. Ele se deu conta de que as pessoas pensavam que o seu cúmplice tinha devolvido a carteira. A turba zombava dele. 16. Ferido no coração pela injustiça da suspeição, Hauchecorne conti nuou a contar a sua estó ria, acrescentando mais e mais provas, mas quanto mais engenhosos eram seus argumentos, menos acreditavam nele. 17. Pândegos o induziam a recontar a estória. 18. Exaurindo-se em inú teis esforços para justifi car-se, foi definhando qua se até a debilidade mental. Morre protestando em vão a stia inocência.
Composição eLeitura -271
Personagem Um personagem e uma lisura imaginada r|ue desempenha um pa pel numa estória. Personagens podem sei' redondos, o que significa r|ue sao multidimensionais, ou planos, o r|ue signilica r|ue podem ser distinguidos por um traço notável. Um personagem plano pode ser um personagem-tipo que seqa um estereotipo reconhecível. A madrasta ma, o palhaço triste, o playboy bonitào e superficial sao todos personagens-tipo. Personagens podem ser considerados de acordo com o grau a que são desenvolvidos numa estória Alguns personagens não são bem desenvolvidos; eles são necessários apenas para preencher uma lunção no enredo. Por exemplo: Orestes em I p / ò i í a oh A i í I/ s . I ris e Uriscis na llnitLi, os cortejadores menores na OJissciti. Alguns perso nagens são tipos reconhecíveis, por exemplo: Euricléa, a serva Hei, na ( X/bsnii; Uriah Hccp, o sicolanta intrigante, em D c in J (.o/)/H’r/í'cíi/; Jane Hennet, a ingênua, em ( V i I h I/ k » r / h t c o i k o í o . ( )utros personagens são totalmente desenvolvidos e individualizados, mesmo que evo luam a partir de tipos, por exemplo Shylock em () mrruii/nr u i\ d enquanu >c lida ou assistida A siisprnsào tempt>rana cia dcsi rrrn^a wu/iciMiw ol j/sfd/c/ ê a comlição hasíça paia ( ) l l F RA S I Al ) t ) l ) ( ) VI R S ()
O ritmo, ou fraseado do verso, não e i dêntico à métrica. Poemas de mesma mét ri ca p o d e m ser dissimilares no ritmo, pois o padrão de p e n s a m e n t o p o de não coincidir c om o padr ão métrico, apesar
290 - O Trivium
d e nel e se e n c a i x a r C o m p a r e o r i t m o no s e x c e r t o s d e "An Essay o n Cr it ic is m", d e Pope, e " M y Last D u c h e s s " , d e Browning, a m b o s e s c ri to s na m e s m a met ri ea, o p e n t â m e t r o i â mb ic o r i m a d o e m parelhas ou dísticos." A little l e a r ni ng is a d n n g r o u s I'hing,D r i n k d e e p , o r t a s t e n o t t h e Piaiiiu Spri ng: I h e r e • i l u i l h n r D r i i K i / h t s i n t o x i c a t e t h e brnin, A n d d r i n k i n g largely s o b e r s us again. -- A l e x a n d e r Po p e , "An Lssay o n C r i t i e i s m ’ T h a t ' s m v last D u c h c s s p a i n t e d o n t h e wall, L o o k i n g as il s h e w e r e alive I eall I h at p i e c e a w o n d e r , n o w ; Fra Pandolf s h a n d s W o i k e d husi ly a dav, a n d t h e r e s h e s t a n d s . - Rohcrt Browning,
M v Last I ) u c h e s s “
O us o q u e P o p e laz da pa us a na rima final eni at i za a métrica, e n q u a n t o o u s o q u e B r o w n i n g faz d e ve rs os c o n t í n u o s t o r n a - a mais sutil. O v e rs o p ob r e, q u e m e r e c e ser c h a m a d o d e v e rs o n ã o artístico, r es ul t a da c o i n c i d ê n c i a exat a d e ma i s e n t r e r i t m o e métrica. N a boa poesia, o r i t m o r a r a m e n t e c o r r e s p o n d e à m é t ri c a c o m exat i dão, ain da q u e c o m ela se h a r m o n i z e e possa ser m e t n c a m e n t e p e r fe i t o A v a r i e d a d e d e n t r o da o r d e m , ca ra ct er ís t i c a da boa poesia, e o b t i d a n ã o pela vi ol ação d o p a d r ã o mé t ri c o, mas p e l o us o d e artifícios mais sutis e artísticos: d e s l o c a m e n t o da cesura, us o d e ver sos c ont í nuos , b em c o m o d e pausas ao final d e versos, d e f ras eado a l t e r n a n d o sí labas leves e pesadas, palavras c o m n u m e r o v a ri ad o d e sílabas — em r e s u mo , p el o e s t a b e l e c i m e n t o da h a r m on i a e n t r e o p a d r ã o d e p e n s a m e n t o e o p a d r ã o mét ri co , mas nã o da i d e n t i d a d e e n t r e eles. A boa poe si a p o d e ser r egul a r na métrica, mas precisa t er r i t m o varia do. T a n t o P o pe q u a n t o Br own i ng e s c r e ve m ve rs os nos quais o r i t m o e a r t i s t i c a m e n t e variado.
RIMA Rima e a i d e nt id a de d e sons ao final d e dtias ou mais palavras c om uma d if er en ça n o início A rima precisa c o m e ç a r nas sílabas tônicas.
22Dístico: couplet, parelha, copia, estrofe de dois versos. (N. T.)
Composição e Leitura - 291
Tipos de Rima 1. /\4iisculiiuj: palavras q u e t ê m u m a s i Ia ha final t ô n i c a e m rima, p o r e x em p l o : reign, gain, h a te , d e h a t e . N a língua p o r t u g u e s a , essa rima ê t a m b é m c h a m a d a d e agtida, ou oxí t ona, q u a n d o a rima se dá e n t r e p alavras oxí t onas, m o n o s s í l a b o s t ô n ic o s oti á t o n o s a c e n t u a d o s . 2. Feminina: palavras q u e t ê m duas ou mais sílabas ri ma nd o (a p r i me i ra precisa ser tônica), p or exemplo: unruly truly,- towering, flowering. N o t e qtie a rima feminina ruão é i dê nt ic a à t e r m i n a ç ã o feminina, a qual e a a di çã o d e u m a o u duas sílabas á t o n as ao final d e um verso. Lm p or t ug uê s , a rima femi ni na t a m b é m r e c e b e o n o m e d e rima gi ave o u pai oxí to n a , q u a n d o a rima se dá e n t r e palavras a c e n t u a d a s na p e n ú l t i m a sílaba, p o r e x e m pl o : r/iio/te, kl,\ \l /\ II II Dark house, bv which o n c c m o re 1 stand H e r e in this l o n g u n l o v e l v Street, D o o r s , w h e r e m v h e a r t was u s e d t o b c a t S o quickly, w a i t m g f o r a h a n d , A haiul that ean b e c l a s p e d n o m o r e B e h o l d me, for I c a n n o t sleep, A n d like a guil tv t h i n g I c r e e p At earl iest m o r n i n g t o t h e d o o r H e is n o t h e r e ; b u t fnr a wa v
l he
n o i s e ot life b e g i n s again,
A n d g h a s t l v t h m u g h t h e d r i z z l i n g rain O n t h e bal d s t r e e t s breaks t h e bl ank dav. Al f r e d L o r d I c n n v s o n 1Iludem p I /
i )4
( ) I mi i wi
Verso é discurso métrico. Um verso é uma linha de discurso métrico. Lima estrofe é um grupo de versos, isto é, de linhas, cons tituindo assim tima unidade recorrente e típica de um poema,- a es trofe é normalmente caracterizada por um padrão combinado de métrica e rima. A descrição de uma estrofe se constitui na declaração do pa drão de rima e da métrica dos versos que a compõem. A estrofe é um importante meio de variação e de obtenção de originalidade na lorma poética. O discurso métrico pode, ou não, empregar rima, assonância, aliteração, etc. Quando adotada, a rima usualmente se integra ao padrão de um poema.
Formas de Discurso Métrico VKRSO liRANt : t ) ( )Li SOLTO (lil.ANK VLRSI )
Na poesia em língua inglesa, o verso branco é o pentâmetro iâmbico sem rima. O pentâmetro iâmbico é a mais importante metrificação na língua inglesa e a esta estã mais bem adaptado. Não sendo mui to longo nem muito curto, o pentâmetro é menos monótono. Pela movimentação da cestira é criada uma agradável variação de efei to, tima vez que a cestira não divide o verso em metades. William Shakespeare e outros dramaturgos da Renascença seguiram o ca minho estabelecido por Christopher Marlowe e utilizaram o verso branco em suas peças. O trecho de Hiiiiilcl apresentado a seguir está escrito em versos brancos O t h a t this t o o t o o sallied l l e sh w o u l d mclt, d h a w , a n d r e s o l v e itsell i n t o a d e w ' O r t h a t t h e E v e r l a s t i n g h a d n o t fix tl H i s c a n o n ‘gai ns t s e l f - s l a u g h t e r 1 O C.od, ( . o d , H o w w e a r y , stale, Hat, a n d u n p m f i t a b l e S e e m t o m e all t h e u s e s of thi s w o r l d ' Fie o n t, ah fie' A n u n w e e d e d g n r d e n , d h a t g r o w s t o se e d , t h i n g ra nk a n d g r o s s in n a t u r e P os s e s s it merely. - Hiintlcl
I 2 .1 2 9 - 1 3 7
DÍSTICO Hl-.ROICO tHF.Rt )IC' C C)l 11’LIT)
Um dístico heróico é tima parelha —estrofe de dois versos —de pentâmetros iâmbicos rimados. Foi tima forma de verso muito po pular na Inglaterra do século XVIII na medida em que se prestava tanto à expressão de máximas morais quanto de ditos espirituosos ou chistosos. C ontjxisiciln
r Lcilltfii
An Essay on Man: Epistle II K n o w t h e n thyself, p r e s u m e n o t C. o d t o s c n n ; 1 h e p r o p e r s t u d y ol M a n k i n d is Ma n . - Alcxander Pope
Q U A D R A H l R O IC A (H l RO K Q U A T R A IN )
Uma quadra heróica ê uma estrofe de quatro versos pentâmetros iâmhicos rimados conforme a sequência ah ah. No exemplo a seguir, um poema de Edwin Arlington Robinson, a quadra heróica acres centa ironia ao poema ao estabelecer a expectativa de um "final te liz". Robinson lez uso eficaz dessa forma de discurso para sublinhar a diferença entre aparência e realidade. Rn
i/,wo> (.’< >/a
W h e n c v c r Richard C o r y w e n t d o w n town, W e p e o p l e o n t h e p a v e m e n t l o o k e d at hini: H e wa s a g e n t l e m a n f r om sol e t o Crown, Cllean f a v o r e d , a n d i mp e r i a l l v slim. A n d h e was always q u i e t l y ar r a ye d, A n d h e was always h u m a n w h e n h e t al ked; Hut still h e f l u t t e r e d p u l s e s w h e n h e said, ' C . o o d - m o r n i n g , a n d h e g l i t t e r e d w h e n h e wa l k e d . A n d h e was rich - ves, r i c h e r t h a n a k i n g A n d a d m i r a b l y s c h o o l e d in e v e r v g r a c e In fine, w e t h o u g h t t h a t h e was e v e r y t h i n g f o m a k e us wi sh t h a t w e w e r e in his p l a c e S o on w e w o r k e d , a n d w a i t e d for t h e light, A n d w e n t w i t h o u t t h e me a t , a n d c u r s e d t h e h r e a d , A n d R i c h a r d Cory, o n e c a l m s u m m e r night , W e n t h o m e a n d p u t a liullet t h r o u g h his h e a d . - E d wi n A r l i n g t o n R o h i n s o n
S O N H O ITALIANO
ü soneto italiano, ou soneto petrarquiano fou petrarqumo) é escrito em pentâmetros iâmhicos. Todos os sonetos têm quatorze versos. No soneto italiano, o poema divide-se em uma oitava, ou em dois quartetos ou quadras, e uma sextilha, ou em dois tercetos, cujas rimas se dão conforme a sequência abbaabba ed eed e. A sextilha pode variar um pouco disso, para ed ed ed ou ed ed ee, por exemplo. gO - ( ) In i //////
A forma rcccbc o nome cm referencia a Eianccsco IVtrarca ( 1.3041374), que escreveu uma série de sonetos dedicados a uma mulher chamada Laura. John Milton usou a forma mais clássica do soneto, cm contraste com os poetas anteriores da Renascença mplesn, que faziam tiso de uma forma adaptada. On His Blindness (abbaabba edeede) W h c n I c n n s i d c r h n w m v lipht is spni! Er e hall m v d a v s m t hi s d a r k w o r l d an wide A n d that n n e t al en t w l u c h is d e a t h t o hii/r, L n d p c d wi t h m e uscl css, t h o u p h m v soul m o r e hriil Io s e r v e t h e r e w i t h m v Ma k e r , a n d prcsr/ií M v t r u e a c c o u n t , lest h e r c t u r i u n p eb/ilr; [ ) n t h O o d e x a e t d a y -lahnur, li pht dcnin/ ? I f n n d l v a s k ; Imt P a t i c n c e t o prevení I hat mur i n u r , s n n n replies, C . n d d o e s n n t nml E i t h e r ma u s w n r k n r lus n wn p i l t s ; w h n hol Ifear lus mi l d ynkc, tl i ev s e r v e limi h e s t H i s stalr Is kmplv. I h n u s n n d s at lus l u d d i n p speeil / \ n d p n s t n er land a n d n c e a n w i t b n u t reU,
1hev also serve whn only stand and wud John Milton Si i,v/ m 2» ( a h h a a h h a e d e e d e )
Sete anos de pastor Jaco servia Lahão, pai de Raquel, serrana hela Mas não servia ao pai, servia a ela, Q u e a ela so p o r p r ê m i o p r e t e n d i a . O s dias na e s p e r a n ç a d e u m so dia Passava, c o n t e n t a n d o - s e c o m v ê Ia P o r é m n pai, u s a n d o d e cautela, E m lupar d e Ra q u e l l h e d e u a Eia.
Vendo n triste pastor que com cnpanns Assim lhe era nepada a sua pastnra, ( nmn se a não tivera merenda, Começou a servir outros sete anos, Dizendo Mais servira, se não fora Para tão Innpo amor tão curta a vida Imis de Ckunoes
Composição e Leitura - 297
|SC)NTTr) INcXhS
O soneto inglês, ou shnkcspenriano, e escrito em pentâmetros iámbicos. E composto de três quadras heróicas seguidas por um dístico) rimado. O padrão e abab cdcd eíel gg. Não foi Shakespeare quem criou esta adaptação do soneto, mas loi ele o mais iamoso autor a usar essa forma.__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ S< Wi /o is (abab cdcd elef gg)
~1
Shall I compare thee to a s ummer s dav? T h ou nrt more lovely and more tempernte. Rough winds d o shake lhe darling huds ol May, And summer s lease hath all t oo short a date. Sometime too hot the eve ol heaven sliines, And olten is his gold complexion di mmed And every fair Irom lair sometime declines, By chance or naturc s changing cotirse untrimmed, Bul t hy eternal summer shall not fade N o r lose possession ol the lair thou o\v'st, N o r shall Death hrag thou wander st in his shadc, W h e n in eternal lines to time thou grow st As long as men can hreat he o r eves can see, So long lives this and this gives lile to thee - William Shakespeare
ide Barrow-on-Furness (abba acca dede ff) [V Há quanto t e mp o Portugal, há quanto Vivemos separados1 Ah, mas a alma, Esta alma incerta, nunca lorte ou calma, Não se distrai de ti, nem hem nem tanto. Sonho, histérico oculto, um vão recanto O rio Furncss. que e o que aqui banha, Só ironicamente me acompanha, Q ue estou parado e ele cor rendo tanto, l aut o'’ Sim, tanto relativamente.. Arre, acabemos com as distinções, As subtilezas, o interstício, o entre, A metal isica das sensações Acabemos com isto e tudo mais.. Alt, que ânsia humana de ser rio ou cais1 ___
2i)S - O I ririiiiu
Fernando Pessoa (como Álvaro d e Campos, um de seus h e t e rònimos )___ ___ ___ ___ ___ _J
r s r k o i i srr.N M
riana i i s ia n c ia
s im
n s i .r i a n a i
A estrofe spcnscriana t e m nove versos rimados c o n f o r m e a sequência aha hhc hc c; os primeiros oito versos são p e n tâ m et r os iâmhicos, mas o último é um a l exa ndr ino, ’" q u e e um h c x â m e t r o iâmbico. A forma r ec e b e o n o m e der ivado d e b d m u n d S pe ns e r ( I 5 5 2 ? - 15IV, b i m >n /
I stood in Veniee, mi the Bridge oi Sighs A palaee and a prison on eaeli hand. I saw from out the wave her struetures rise As from the stroke ol the enchanters wand: / \ t h o u s a n d yen rs their eloudv w i n g s expnnd Around me, and a dying Cilory smiles C)’er the lar t i me s , when many a subjeet lantl l . o o k e d t o the winged Li o n s marble piles Where V e n i e e sate in State, throned on h e r hundred i s l e s 1 (deorge ( .otxlon, Lord Bvron Rt)N( K )
Na poesia lírica inglesa o rondo assume a lorma de um poema em quinze versos, divididos em três estrofes Stias rimas seguem a fór mula aabba aabk aabbnk (k significando refrão) C) refrão normal mente utiliza uma palavra, uma locugão ou uma oração do verso de abertura do poema /.V
Fi A Si hRs Fllll>\
In Planders fields the poppies blow Between the crosses, m w on row, I hat mark our place, and in the skv I he larks, still hravely singing, fly Searce henrd amid the guns below. We are the Dead Short days ago We lived, felt dawn, saw sunset glow, Loved and were loved, and now we lie In Flanders fields. C) nome olema riu Raniui/ d /tlcssm./ic, oomposipao minaria por Lamb eu le loit c eonti miada pur Alexandi e do Rn nav no ser u!o XII l h n \ u s n alexandrino n m l o r me ,i elassilieaeao luso brasilena, tom doze sílabas No aloxansli ino elassir n, on 11 ano os or o n o o os ura na soxta sílaba, o que o transloima em soma de dois luxassilabos (N I )
Composição e Leitura - 299
l ak e u p o u r q u a r r el w i t b t b e toe T o v o u I r om Inilmp b a n d s w e t b n n v I lie t o r c b
be v o u r s t o hotel it bipb-
It ve b r e a k lai tb w i t b us w b o die W e sball n o t sl eep, t b o u p b p o p p i e s p m w In I T t n d c r s tielels. J o b n M e ( a ae
I kl( )l I (I kl()[ I IO) O triolc c u m a e s t r o f e d e o i t o versos, r i m a d o s s e c u n d o a lormtila AMnAnbAM (as letras maiusetilas indicam os ver sos r e p e t i d o s ) . N o r m a l m e n t e os versos são c urt os, mas p o d e m variar e m e x t e n s ã o e ritmo. d/ o ,vmu
Ta a '/ / /
W bv is tbe moon Awake wben tbou s l e e p e s P Io tbe mpbtmpale s time W by is tbe moon Makinp a miou Wben mpbt is tbe deepesp W by is tbe moon A wa k e w b e n t b o u s l e e p e s P
( ,eoi pe Macdonald I IMI RICk
O limerick e a unicn l o r m a d e poe si a nativa inplesa
lem cinco ver
sos e o p é d o m i n a n t e é o a na p es t i c o. A d i n e r w b i l e d i n i np at (. Te we , b o u n d a r a t b e r larpc m o u s e m bis stew. Saiel t b e waiter, ' I ) o n t s b o u t A n d w a v e it a b o u t , C)r t b e r e s t will b e w a n t i n y o n e t o o ” - Anônimo
( INQLIAIN
O cmqt i ai n e uma f or ma d e v e rs o livre c o m vi nt e e duns sílabas arranjadas e m c i nc o versos. I ma g i n a d o p o r A de la id e (Tn p se y, t e m c o m o m o d e l o as l or ma s j a pone sa s hokku e hmL\i
300 - 0 Trivium
I hcsu bc I hree silcnt thtngs I he falltng snow
thc hour
H c lo ic lhe J a u n .
thc m nm h ol onc
lust elcael Aelclaielc ( â apsev
C) ensaio é ele difícil definição porque abrange uma ampla »ama ele escritos. Um ensaio pode, de lorma geral, ser definido como uma obra curta e em prosa que trata rlc um único topico Michcl F.yquem ele Montmgne loi quem primeiro usou a palavra como um termo literário quando da pubhcaçao ele seus Esvi/s em 1650 A pa lavra francesa rm/i significa "tentativa", "experiência", e sugere c|ue as obias oferecidas por Montaignc eram mais informais e pessoais do C | iie uma obra acadêmica e lilosoliea sobre o mesmo assunto Francis Bacon, o primeiro autor inglês a usar o termo publicou uma coletânea ele aforismos sobre um topico espccílico mas posterior mente expandiu o conceito em obras mais longas, cu|o tom era também mais pessoal () surgimento elos perioelicos no século XVII abriu um grande público para o ensaio Ja no mie 10 elo sée ulo XVI11, Joseph Addison e Richarel Steele escreveram vividos ensaios acerca elos hábitos e lelmssmcrasias de seu tempo, publicanelo os na f u l l n e na S j n x L i l o r r 1' Os nomes das publicações sugerem o modo de escrever. Aeldison e Steele laziam comentários e observações de tal maneira que o leitor sentia-se convidado a participar também como observador. () escn tor americano Washington li ving escreveu ensaios em estilo similar. Durante o movimento elo Romantismo, no início elo século XIX, o ensaio assumiu um tom mais íntimo e mlormal C.om frequência, alguns escritores utilizaram material autobiográfico, tornanelo-o in teressante através elo uso cquilibraelo ele extravagância, perspiencia e sentimento Charles Lamb William Hazlitt, James L.eigh Hunt e Thomns DcOumcey são os mais famosos ensaístas elessa época. A puM u dçdo I In \jn\Litoi qiu- t u aild d tu ah m anc !2 I 1c>2A St Joscph s Acadcmv. South bencl, I lD2.s -1P27) e estudando no \erao a uma completou seu curso no Saint Mar\' x, i ec ebendo o bachai ciado cm Jornalismo em 11>2o cm !‘>27, obteve o mestrado em Inglês pela llnivei cidade de Notrc I )ame Minam Joscph solidificou seu i om promisso com as Irmãs da Santa ( ,ruz e com seu ministério ao fazei a sua primeira profissão de votos cm 11)22 e a Imal em Prosseguindo num padrao agoia jo eonhecick) a Irma piassoti os cinco anos seguintes lecionando duiantc o período Iclixo (Saint Marv of the-Wasatch Acadcmv and ( lollegc, Salt I ake C it\- lltah I P27-1 M O
Saint /\ngela s \cademv, Morris
Illinois, l'),-í() l l).-,|)
e estudando nos verões cm Notrc I )umc .A irma Minam loseph retornou a sua aíma ii/aío em l l).s I onde assumiu o cargo de proles sora assistente no I Departamento de I nglcs Ma havia c t implctado o ciclo a convocarão que ela havia emitido em l l) f l), conclamando a formarão de cscriloias bem treinadas, seria agora a sua tarefa I m I 93 I , Míriam Joscph foi designada paia lec ionar
t ollegc Rhet
oric a cinco turmas de calouros I Durante os quatro anos seguintes ela continuou lecionando Retórica e também cuisos de ( icral
Litciatuia
( aamatica e CDm|iosicao c ( .omposieao e Retoi ma
Na primavera de l ().sã, a vida e a carreira da irma Minam loseph deram uma virada significativa Numa sexta feira S de marco o dr M oriim cr I Adlcr, da Universidade de ( huago piolcrm uma
.s ( ) 11ni mu
I r n / ã - l / M i r i u i u J o s e p h - 309
palestra no Saint Mary, intitulada "O Fundamento Metafísico das Artes Liberais" De acordo com o jornal do campus, The Shitic, Adler afirmou que os estudantes de cursos superiores "pouco ou nada sabem acerca das artes liberais". Adler "concentrou sua argu mentação nas três artes da linguagem, destacando que, enquanto entre gregos e medievais sua harmonia e unidade integral sempre foi reconhecida e preservada, a partir do século XV a especialização tratou de separá-las até a consequente deterioração, ou até mesmo a destruição de sua função educativa —desenvolver as capacidades de leitura, escrita e fala do indivíduo. Em outras palavras, a fun ção educativa das três artes da linguagem é a aquisição do perfeito domínio das ferramentas de aprendizagem" Logo após a palestra o padre William Cunningham, C.S.C., professor de Educação em Notre Dame, perguntou a Adler se seria factível restaurar o Trivium unificado no curso de Inglês para calouros. Anos mais tarde, a irmã Miriam Joseph escreveu que, quando a pergunta foi feita "|m|uitos na platéia viraram-se e olharam para mim' Se a irmã Madeleva, diretora do Saint Marys, virou-se para ver a reação da irmã Miriam Joseph à pergunta, não sabemos. O que sabemos é que as irmãs Madeleva, Miriam Joseph e Maria Theresa (então lecionando na Bishop Noll High School, Hammond, Indiana) passaram os sába dos de abril e maio daquele ano estudando com Adler em Chicago Viajando para a Columbia Llniversity em Nova York, Miriam Joseph e Maria Theresa continuaram seus estudos com Adler durante todo o verão. No outono de 1935, a irmã Miriam Joseph retomou ao Saint Mary s para lecionar, pela primeira vez, um curso que se tomaria uma das instituições daquela escola superior, "O Trivium". Exigido de todos os calouros, o curso era ministrado cinco dias por semana, durante dois semestres. Do modo como era entendido pela irmã Miriam Joseph, o curso tinha o intento de treinar os estudantes a pensar corretamente, ler inteligentemente, e falar e escrever de ma neira clara e eficaz. Lima vez que não havia um livro-texto adequado para o curso, a irmã escreveu o dela. íbc íririiiiii in ('ollci/c ('omposilion íiiiíf Rcíhiitnj foi publicado pela primeira vez em 1937. Pelos vinte e cinco anos seguintes, todos os calouros do Saint Mary s eram ensinados no trivium, com a irmã Miriam Joseph su portando, ela mesma, muito da carga de aulas. Ela se ausentou do campus de 1941 a 1945, buscando o seu doutorado em Inglês e Literatura Comparada pela Columbia Llniversity. Recebeu seu títu lo de doutorado (Ph.D.) em 1945. Sua dissertação, "Shakespeare s
3 1 0 - 0 Trivium
Use of the Arts ol Language" Ioi publicada em 1947 pela Columbia University Press. O magistério e a pesquisa da irmã apontavam para a mesma direção No primeiro capítulo de sua dissertação ela escreveu: "A força extraordinária, a vitalidade e a riqueza da lingua gem de Shakespeare são devidas em parte ao seu gênio, em parte ao fato de que as ainda não bem estabelecidas formas linguísticas de seu tempo elevaram a um grau inédito o espírito de liberdade criativa, e em parte à teoria de composição então prevalecente" Continuando, dizia: "E esta última que é responsável por aquelas características da linguagem de Shakespeare que mais a diferenciam da linguagem de hoje ( ) A dilerença nos hábitos de pensamento e nos métodos de desenvolvimento de uma idéia resulta na corres pondente diferença na expressão, especialmente porque a teoria de composição renascentista inglesa, derivada da tradição antiga, era permeada de létgica formal e retéirica, enquanto a nossa não o c". Shakespeare teve o benefício de ter sido educado nas artes do trivium —os estudantes modernos não. A irmã Miriam Joseph estava tentando corrigir esse erro. Permanecendo ativa em todas as frentes da vida acadêmica, a irmã Miriam Joseph tornou-se chefe do Departamento de Inglês no Saint Marys em 1947, posição que manteve ate 1960. Participou regularmente de convenções regionais e nacionais de sociedades eruditas, publicando um bom número de artigos, dentre os quais se destacam: 'The Trivium in Freshman English", í h e C í i l h o l i c E d i i u i t i o i i iil R e m e m ( 3 \ 1937); "Why Studv Old English'1", (' o l l e t / e E m j l i s h (3, 1942), "TheTrivium in College", í h e ( E A ( ' n h c (10, I949); "Orthodoxy in I h n i J i s e Lcrsl", Lunul í b e o l o i l h p i e el I d i d o s o j d i i í j n e (8, 1952) "Discerning the Chost in I h i m l e l " , PM LA (76, 1961),- "A ‘Trivial’ Reading of Hc iiul et ’, L i i p a l I b c o / o i / h / u e el I d i i l o s o j t h n j t i e (15, 1962),- e ‘'Hcini let, a Christian Tragedy", I (54, 2, Pt. I, 1962). Durante o mesmo pe ríodo em que publicou quase trinta resenhas críticas de livros e deu palestras em outras instituições de ensino superior, ela continuou a lecionar, apaixonadamente A irmã Miriam Joseph aposentou-se do magistério no Saint Mary s em 1965, tendo recebido o grau de Pro fessora Emérita em 1968, além de um grau de doutorado honorário da mesma instituição em 1969, quando o Saint Mary s celebrou seus cento e vinte e cinco anos de fundação. A irmã Miriam Joseph laleceu em II de novembro de 1982. Numa carta ao corpo docente do Saint Mary s, William Hickey, vice-presidente e reitor, escreveu "A irmã Miriam Joseph loi tal vez a mais eminente estudiosa que já se associou a esta instituição
Irmã Miriam Joseph -311
neste século". Todavia, talvez o maior tributo tenha vindo de Mary Francês Sc ha ff Mcckison (turma de 1940), que numa carta ao C o t i n c r , jornal do Saint Mary s, escrevem "Em classe, seu brilhan tismo e zelo no lecionar eram notáveis". A irmã ' Mickey Jo" era "mestre e perfeccionista", capaz de inspirar "até mesmo a estudante mais relutante a estender seu intelecto e perseverar no caminho do aperfeiçoamento". Meekison concluiu sua carta ao C o t i r i c r dizendo: "Ainda que eu mesma fosse uma estudante apenas mediana, a irmã acreditava que eu poderia estender não apenas o meu intelecto, mas também minha habilidade de escrita. Em razão da fé que ela tinha em mim, eu fui afortunada o bastante para encontrar o meu nome impresso logo abaixo dos títulos, em muitos e muitos artigos publicados. Estou certa de que Irá centenas de ex-alunas que pode ríam dar testemunhos de peso muito maior do que o meu". Assim, Agnes Lenore Rauh, irmã Miriam Joseph, C.S C., aspirante a jornalista transformada em professora e erudita em Shakespeare, atingiu a sua meta. Ela influenciou uma geração de mulheres a pensar cuidadosamente, a ler atentamente, e a escrever e dizer "os princípios retos" de forma eloquente. J o h n Ptitilcy
( ) liilllí 11/
ín d ic e r e m is si v o
B
A A b s t r a ç ã o , 71-72,- e m o ç ã o e, 7 In1),- lilosolia e, 2 5 f>; i nt el ect ual , -10-43 Ação, 44, 4 5 A ç ã o r e t r os pec t i va , 266 Acielente, 43-47, 69-70, 69n5, 72n 10,- c o m o ab s tração, 72,- elivisão lógica e, I 14,- falácia elo, 223-30; c o mo predicado. 128-29, I28n8 Aeljetivos, 69-70, 71, 8 1, 83 Ad v é r b i o s , 71, 8 1, 85, 86 87
Bacon, Francis, 250, 2 52, 301 Bacon, Roger, 25 0 Bens, classes de, 23
c. Ca d ê n c i a , 2 8 7 - 8 8
C a s o acusativo, 74, 7 4 n l 9 Caso dativo, 74- 75, 7 4 n l 9 Ca s o genit i vo, 74, 85
Advérbios eonjuntivos, 86-87
C a s o n o mi n a t i v o , 74
A g e n t e d e t e r m i n a n t e , c a u s a l i d a d e e, 24 7
C.asos d e s u b s t a nt i vos , 74 75
A g r e g a d o , 37- 38
Categorias d o ser 43- 45, 102, I 2 8 n 8
A l f a b e t o f oné t i co, 36
Ca usa ,
Al i teração, 294
razão, em contraste com, 195 ( lausa e efeito, 2 6 4 n 2 Causa eficiente, 109, I I
p o s i ç õ e s h i pot ét i cas , 202-03,- r el ação de
Etica 2 5o
proposiçoes
Et i mol ogi a, d e l m i ç ã o p o r 109- 10
I 0 3- 03
e,
142-47,
em
203,- p r o silogismos,
bul er, cí r cul os de, 127, 130, I 14 -15
For mas ver bai s nominai s, 30-3 1
F: \ ortat ivo, t o m, 73, 7 3 n 22 Expansão, 9 0 - 9 I
Frase c o n t r a ç ã o da, 91, m e n o s qu e uma, I 30,
E x p r e s s õ e s idiomáti cas, 50 5 | Ext e nsã o: c o m o car act erí sti ca, 27, f>I n 2 I . d o ter mo, 104- 00
p r o p o s i ç o e s e,
132-30,- u n i d a d e s f u n c i o
nais da, 39-90; Frase decl ar ai iva, 132-33,- c o mp l e x a , 135-30 c o m p o s t a , 130,- simples, 135 Frase não decl arat iva, 132-33
índice Remissivo -315
c, (..ênero, 37- 38, 3'), 3l)n 10 , A r v o r e d e Porfírio e, I d e l i n i d o ,
Itálicos: lalácia de a c e n t u a ç ã o e, 2 2 0 - 2 1 ,■ i m p o s i ç ã o e, 59
I07; c o m o predicado,
128; s u b s t a n t i v o c, 73, 7 3 n l 3 C.eréindio, 75, 80-81
L Lei d o M e i o - l e r m o F.xcluído, I 50
C.ramatica, 2 1 , 27, 66 , 2 7 0 - 7 7 de f i n i çã o de,
Limerick, 3 00
p o r Di o n í s i o da Ftácia, 25,- i mp o s i ç ã o e,
. inçuaçcm
a m b i ç t i i d a d c da, 55-65
d i me n -
50. Ver t a m b é m C. r amát i ca çeral,- d r a m á
sétes loçi cas da, 18-49, 53-55,- di mensêi es
t icas especi ai s
p s i c o l o ç i c a s da, -18-5 5 67,- f or ma da, 35-38, (.7 l u n ç ã o da, 3 1-34,- mat ér i a da, .35-36,
C. r amat i ca çeral, 6 9n 1,- anál i se s i nt át i ca da, 89-90; l u n ç ã o da, 9 0 - 9 5 Ver t a m b é m C.ramatica;
Mo r f o l o ç i a
cateçoremati ca, -
Mo r t o l o ç i a s i n c a t cç o r e ma t i c a C. r amat i casespeci ai s, 69,• caso e, 74-75.- d e f i n i tivo c o m o adj et i vo nas, 83; m o d o e 77-78
6 7 ; s í mb o l o s e, 38-48 L m ç u a ç c m abst rat a, 49 l - i n ç u a ç e m fiçurada, 27 6 83 I at ot es, 15 1-52, 277 I j v r c - a r b i t r i o , I 18 , 248 I .opaca, 21, 27 ()(>, 24 1, 25o,- c o m o a r t e das
H
artes, 29- 30, t o m o ciência da se c u n d a i n
Hi pót es e, n o m é t o d o científico, 250, 25 2 .55
t enção, 60; d e s e n v o l v i m e n t o da
Hi stória, f u n ç ão da, 255
d i s p o s i ç ã o na, I 37-38,- Fui ler nos u so s da,
260-6 1,-
H o m ô n i m o s , 55- 56
19 1-92. Ver t a m b é m I n d u ç ão , Termos L o ç o s 26 I
Ljiioriilio flcuc/x, 232- 35, 2 3 3 n 6
M
I ma ç i n a ç ã o Ver Fant asma Imperati vo, t om, 78
Ma t é r i a da l i npuapcm, 35-36, 67
I mposi ção: a m b i g u i d a d e e, 56 59,■ falacias e,
M e t á f o r a 64- 65, 278, 2 7 9 - 8 0
226-28, 2 2 9 - 3 0 I ndi víduo, 3n, 37-38,- si mb o l i z a ç ã o da linçua-
M e t a f o r a mor t a, 6 1
Metafísica, 27, 2 7 n I I
Indução
causal idade,
217- 55,
dedução
e,
241, 24 5-46,- di al é t i c a / p r o b l e má t i c a , 245; e n u me r a t i v a , intuição,
2 4-J --J5
2 43- 44,
Me t a l e p s e , 282 M é t o d o cientílico
çeni , 38-40,- s u b s t a n t i v o e, 73
como
214nn3,4;
l o r ma
de
natureza/
propéisito da, 245--16. Ver t a m b é m C , onhccimento
249-55,- analise d e dados
250-52; analoçia 24 9 ; hipótese, 250 o b s e r vação, 219; verificação de hipóteses, 252 .55 M e t o d o l o g i a científica. 24 5-16, 2 5 0 52 M c t o m m i a , 281 82 Mé t r i c a, 2 8 8 - 9 0 Milaprc, e s s ê n c i a do, I 18
I n d u ç ã o e n u me r a t i v a , 244- 4 5
M i l l . J o h n St uart, 182, 25 0 52
I n d u ç ã o intuitiva, 243- 44, 253
Modal i dade: e m op o si ç ão d e proposi ções, I 42,
Inferência analógica, 178-79 I nl er ênci a i medi at a, 158. Ver t a m b é m C.on versão,- Obversão,- O p o s i ç ã o
d e pr oposi ção, I 22 p r o p o s i ç õ e s disjuntivns, 203 pr o p o s i ç õ es hi potét icas 202-03 Mo d i l i c a d o r , 89
Inferência medi at a, 158
M o d i l i c a d o r rest rit i vo, 8 1, 8 4 n 3 1
lulinui sficcics, 105-06, 1 1 1, 128
M o d i l i c a d o r e s d e l mi t i v o s
Infinitivo, 8 1, 81 n 27
M o d o i ndi cat i vo 77, 78, 119
Inicio da trama, 2 (4 .
M o d o i n t e r r o g a t i v o 7 7- 78
I nt enção, 6 2 n 2 3 ; a mb i g u i d a d e e, 56-57; fala
M o d o pot enc i al , 7 7 - 7 8
cias e, 2 2 8 - 3 0
M o d o vol i t i vo 77- 78
I n t en e i ç ã o , 7 1 , 7 1 n9
Modos
da, 36 I n v e n ç ã o , I 37 - 3 8 , 243, 278, 2 7 8 n I 2 Ironia, 63, 65, 283
i < i - ( ) I n i iiitu
1 19
M o d o s ubj unt i vo, 78
I nt en s á o d o t er mo , 105- 06 I nt er nat i onal P h o n e t i c As soci at i on, al f abet o
135-3(>
210
dilema,
212
silopismo
s i l opi s mo h i po t é t i c o ,
ver bos, 7 7 78 /\ Wifs /xvmis, 2 0 7 n 8 AWiis lollcih, 2 0 7 n 8
disjuntivo,
207- 08- d o s
Mo i s é s , Mns saud, S, 2S0, 232, 2SS, 203
Paraleli smo 2 37
Mora, J o s e Perrater, X, 46, 104, 2 1 a, 223, 23 1
Paraleli smo si nt ét i co, 2 3 7
Mo r l o l o g i a
Particípio, 3 1, 3 1n23 Pat hos, 23 4, 26 I
ea t e g o r c ma t i c a ,
6 l) - Xl ; atribu-
tivas, 60- 71, 76-3 1; s u b s t a nt i vos , 60-7.5t e r m o s l ógi cos e, 07-0S Mo r l o l o g i a s i nc a t e g o r e má t i c a , 60- 71, 32-30,c o n e c t i v o s 7 1,34 - 3 0 ;d e f i n i t i v o s , 71,32-34,t e r m o s l ogi c os e, 03
Pensamento, esquemas retóricos do, 2 7 6 - 7 7 Pentàmetro i âmbi co, 205 Percepção sensível, 30 Pe r c ep t o , -10-4 1, 46, 46
N e c e s s i d a d e léxica, I 13-10 N e c e s s i d a d e metafísica, 117-13
Personagens, 272- 73 Personificação, 230-3 I Persuasão, 261 Pessoa, 7 3 - 7 I Petição de princípio, falácia da, 236 Plausibilidade, 2 6 5 - 6 6
N e c e s s i d a d e moral, I I 3
Poesia, 6 6 , 250- 60, 233-301,- d e s e n v o l v i me n t o
N Nar r at i va, 2 6 6 - 6 7 N e c e s s i d a d e lísica, I 13
da, 262-63,- formas d o di scurso, 20 5 3 0 1 ; rima na, 202-03,- r i t mo na, 237-01
Nevvman, J o h n H c n r v 24-26, 2 0 n 7 N o ç ã o d e t e m p o , 76, 33 N o m e c o m u m , 33-40, 4 6 - 1 7 a mb i g u i d a d e e, 61 - 6 2 ; c o n t r a ç a o de, 0 1; e x p a n s ã o de, 0 0 - 0 I , n ú m e r o e, 73 N o m e p r o p r i o , 33-40,- a mb i g i i i d a d c e, 6 I -62,c o n t r a ç ã o de, 0 1,- e x p a n s ã o de, 0 0 -0 1 ,- n u
Poesia lírica, 234 PomvJo lollon, 210, 21 OnO
P o n t u a ç ã o oral, 0 4 - 0 5 Posi t i vi smo logico, 257, 2 5 7 n l I Posl hoc m/o /ho/iIít hm , falácia, 235- 36, 24 7
Postura, 44
m e r o e, 73 N o m i n a t i v o ab s o l u t o , 74
/ Vufi/íoiiiinilii, 13-44, 4 4 n l 3
N u m e r o , 26- 27, 73
Pr edi cado, 4 4 n l I, 15, 30, Ver t a m b é m IVc-
O
Pr e d i ca t i v o d o ob j et o , 75, 70, 30 Predi cávci s classificação por, 127-20, limites
dicáveis ( )bjet di r et o, 70 30, 171
dos, I 3 1-32,- n u m e r o de, 120-31 Ver t a m
O b j e t o i ndi r et o, 7-lnlO, 7 0 , 30 O b j e t o r e t i d o (rcljiiml c h ia i), 02 - 0 3 , 0 2 n 3 6 O b j e t o s artiliciais, di visão de, I 1-1
b é m P r ed i c a d o Pr emi ssa definida, 150
O b s e r v a ç ã o , n o m é t o d o ci ent il i co, 240
Pr emissa negativa, 162 , 176 Pr e p o s i ç õ e s , 70 71, 75, 34- 35, 02
O b v e r s ã o , 140 42
Pi imeinn iWiilílicos, ( )s, 260
O b j e t o s nat ur ai s, divisão de, 1 14 143, 277, 2 7 7 n 7
Pr i ncí pi o da c o n t r a d i ç ã o , I 16
O n d e ' 44, 4 4 ( Dnomatopéi a, 230, 20 I
Pr obabi li dade, 140-4 1, I 10n3, I 4 l n 4
O n t o l o g i a 27 2 7n 1 1
P r o n o m e relativo. 74 P r o n o m e s , 70- 71, 71-75, 33
O p o s i ç ã o , 142-47, 143,- falácias de, 217-13,hi pot et i c a/ d i s j u n t i v a , 170-32,- q u a d r a d o de,
202-03,-
medi ata,
145-47; rel ações/
regras, 1 13-45 O p t a t i v o , t o m, 73, 73n23 O r a ç ã o . 30, 0 0 ; c o n c o r d â n c i a d e c as o em, 74, 7 4 n I 6 O r g a n i z a ç ã o e m r etórica, 262 O r t o g r a f i a 23, 3 5, 53 , 40
P r o p o r ç ã o c o m p r i m i d a m e t á f o r a c o mo , 64 P r o p o s i ç ã o c o mp l e x a, 120 , Vei t a m b é m P r o p o s i ç õ e s l u p o t é t i c as / d i x j u n t i v a s Pr opos i çaodi s j unt i va, 120, I 3 5 , 2 0 0 n 1, e dução, 205- 06; oposi ção, 203 quali dade, 201-02; r edução, I1)1),- silogismo, 200-15,- tipos, 103-00, v e r ac i d a d e ou falsidade, 100-200 P r o p o s i ç ã o hi p o t é t i c a , 120, 135-36,- e d u çã o , 20-1-05; oposi ção, 202-03,- qualidade, 107-03,r e d u ç ã o , 106- 07 sil ogismo, 206- 00, - tipos,
P Paixão, 44 Palavras combi na çõe s, 52-43,- expansão, 0 0 01; na g r a má t i c a geral, 30,- histéina, 55-46; o r d e m, 02
105,- v e r ac i d a d e ou falsidade, 107 P r o p o s i ç ã o modal , 117-20, 1 17 n 2; c o n t i n g e n t e , 110 ; f or mas AF.K) e, 124, n e c e s sária
117-10
índice Remissivo -317
Pr o p o s i ç o e s c a t e g ó r i c a s Vci
também
Il7n2,
Pr opos içoes
I I 1),
121
hi p o t é t i c a s /
Red a çã o cxposi t i va, guia para, 3 0 3 - 0 6 /\r|»l[lçors si)|i0 luls, 260-6 1
disiuntivas, Pr o p o s i ç õ e s si mples Pr o p o s i ç õ e s c o n t i n g e n t e s , 122
Regras d e p o n t u a ç ã o , 3 I, 3 6 - 3 7 Relação, -1-1, 15
Pr o p o s i ç õ e s con t r a d i t ó r i as , I 13-17, 103
Relação causai, 133-30
Pr o p o s i ç o e s contrarias, I 13-17 P r o p o s i ç o e s e mp í r i ca s , I 20-22 P r o p o s i ç õ e s gerais Vei P r o p o s i ç o e s si mples Pr opos içoes
Inpot ct i c as/clisiuntivas-.
con
junção, 202 ; ecluçao, 201-06; exercíci os, 2 15-16, o p o s i ç ã o , 202- 03, p r o p o s i ç o e s disiuntivas, 103-206, 2 0 0 n l , 200-215,. pro po si çòes hipotét icas
105-03, 2 0 2 00 13 I -32
l Yo p osi ç õcs s imples, 120 135 I 3 7 - 5S; c a r a c terísticas das, I 20-23; cat egóri cas, I l 7 n 2 , 120
con i u n ç ão ,
Relações c o n t i n g e n t e s
Resí duos, c m me t o d o l o g i a cientifica, 251 Retórica, 21 , 27, 23, 66 ,- c o m o arte mestra, 23,c o n o t a ç ã o da palavra, 40,- deti ni çào d e Ar i s tótel es de, 2 3 n l 3 d e n o t a ç ã o da palavra 43 des e n v o l v i men t o da, 250-60, 26 I 62 d i s p o sição na, 137;
r elação l(ninai, I I 7 - I 0 ; o posi ç ão, 112 17,-
' Retór i ca vazia
pr edicãvei s,
Rima 20 1-03
14 0
Ver
t a m b é m I orneis de p r o p o s i ç o e s Al K) Pr o p o s i ç õ e s subal ter nas I I I 10
I 17-10
Repet i ção, e s q u e m a s de, 27 6 / /
105 d i s t r i bui ç ão
sil ogismo,
I 10
Rel ações mat eri ai s c o n t r a s t a d a s c o m rel a ç õ es f or mai s, 147- 10
d e t e r mo s 12 5-27, ccltiçno, 14 0 - 5X; Irascs e, p p ; modai s, I 17-10, I I 7 n 2 ; n a t u r e z a da 127-32
materiais,
Re l a çõe s l ormais, cont r a st ar i a s c o m r el ações materiais, I 17- 10
133-12,- c o n t r a s t a
das u i n i as h i pot é t i c as
conjunções
Relaçao c o n \ ersa, e d u ç ã o por, I 57-53 Relação t e mp o r a l e m c o n j u n ç ã o material, 133
Re l a çõ e s n e cessár i as
silogismo, 2 0 0 - 15 Pr opos i ç õe s negativas, p r e d i c a d o e m
110
em
23n I 3
Ritmi j, 2 3 6 - 0 I Ro n d o , 200 3 0 0
Pr o p o s i ç o e s s ube ont r ãr i as , I -I I - l(i
S
Pr o p u c d a d e , 103, 123 Pseurloeõpula, 70-30, 30
Saint l o l m s (dollcgc, 2 I
Psicologia, 2 13 l,s i c o l o g i a d a l i n g u n g c m , 4 3 50,-alusaoc, 5 | -52
Vciim/iim 230- 3 I Sciliunhn aiitiliíiuis, ( )s, 2(>l)
c o mb i n a ç ã o d e palavras, 52-5,3; estilo p e
Se mân t i ca , 3 5
d a n t e 50; e x p r e s s õ e s i d i o má t i c as e, 50-5 | ;
S e n t e n ç a , 30-00, 01
s o m e, 10-50; uso p o é t i c o da l inguagem,
Ser \ b ( íutegorias d o ser
53- 5 5
"Ser , v e r b o i ntransitivo, 70 30, 30
Pura copula, 70 71, 70-30, 37 30
02
Vei
t a m b é m ( .opula
Seri e m n e m ò n i cu , d o m o d o das q u a t r o figu ras, 100 Sil ogismo, 135- 36 I 13-40, 153,- fal áeias do, 2 1 7 - 1 3 . Ve. t a m b é m I )ilcma. Si l ogi s mo
Q Q u a d r a heróica, 200 Q u a d r a d o de o p o s i ç o e s , 1+5-17
disj unti vo; S i l o g i s mo hipotético,- Si l ogis m o si mples
Qu a d r i vi u m , 2 1, 2 I n 1, 25 27
S i l o g i s mo d e m o n s t r a t i v o 25-1-55
Qu a l i d a d e
4-4,-15, 122 142
S i l o g i s mo di s| i mt i vo, 2 00- 15, 2 52 53, 2 77
"Quando'
4 1, 15
Q u a n t i d a d e , I I, -15, c m o p o s i ç ã o d e p r o p o sições, I 12-43; ria p r o p o s i ç ã o , 121-22;
277nO Si l ogi s mo hi p o t é t i c o 2 0 6 -0 0 , 207n3, 2 5 3 - 5 5 277, 277nO
p r o p o s i ç õ e s di s| unt ivus, 2 0 3 ; p r o p o s i ç o e s
S i l o g i s mo regressivo, 25 1
hi pot ét i cas , 20 2 03
Silogismo simples,
150-101,- definido,
150-60
enti mema, I (>3-73,- epiquerema, 175-73,- exer
R
cícios, 102-0 1 liguras do, I 6 I -6 5: c o m o féir-
Razão, na p r o p o s i ç ã o h i pot é t i c a, 105 Realidade criando símbolos da, 40-13,- ria p r o
mula/regra d e inferência, 135-36,- inferência analógica, 173-70,- mat cri a/l orma do, 160-61, modo, l()3-()1- oposi ção mccliata, 170-32
posição, 120,- relação d o I r i vi nmcom, 27-23
ç .S
()
/ nu mu
r edução do, 100-02,- rcgras/talacias sontcs,
173 74 valn.lai.lc do,
l()l-(>.4
l(>4-(>H valor
do, 152-5 1 Símbolo, o o - 1
l e r m o s e mp í r i co s e gerais, 0 0 , q q n 2 l e i m o s e s p e c i l i c n mc n t c d i l e r e n t c s
102
l e r m o s g e n e r i c a m e n t e d i l e r e n t c s , 102 (47,- co mp l e t o , 0 5 - 0 0 c n a d o
l e r mo s i n d i v i du a l m e n t e di f er ent es, 102
da realidade, 10 l s ; da essência, .5S, a 1)- 10
l e r mo s n a t u r a l m c n t c di l e r e n t c s
d o indivíduo, .45-40, regras para substi t uirão d e er| ti iva lente, 00-0 | ,. significado a partir da
l e r m o s p osi t i vos c neg at i v o s , 100
nat ur eza ou po r c o n v e n ç ã o .42-3.4, 3.4n2
l e i m o s r e p u g n a n t es , 104-04
Símile, 27H 70
103-0 1
l er m o s relati vos e absol ut os , 100 i) I /oííniile /leiion 210 2 l 0 n 0
Sun i/iiii mm, 2(1 I -1)5 2 0 1 n 4
205, 2 a I
I a/)iun, lógica e 200
S i n c d o q u c , 252 5a
l o r n a r ", 70
S i n ô n i m o s IS- 10 I 10 Si distas, 2 I 5
I r aduçao, 1,4 1 l i agedia, 2(>2-().4
S o m .44-3(4 4 0 - 4 0 44-4(>
li ilema, 2 1 1 , 2 1 2 13
S o n e t o inglês, 205
T n o l c 30 0
S o n e t o italiano, 2 0 0 - 0 7
I nvi um, 21 , 2 1n f , 2 4- 25 Vci t a m b é m ( , i a -
S o n e t o p c t r a i q m a n o , 20 7 05
Sontcs 173-75, 177-75
mataa,- Logic a, Retór i ca I r ocadi lhos, f>.3 04
S o n t c s ans t o t c l i s o, 17.4-74, 150
I m p o 27 5 - S.4
S o n t c s g o c I cm a n o , 1 7 a -75, 150 Subdi vi são, I I 0
u
Su bs t anci a, 1 t- 17' 74 -7a Su b s t a n t i v o s , 7 I -75
U n i f o r m i d a d e da na t ur e za , 2 (5- 10
S u b s t a n t i v o s , (>0-7.4, 7'.a n I 4, S l : c a r a c t e r í s t i
V
cas gr amati cai s, 73-7' 4: f un ç õ e s g r a m a t i
Valoi
cais, 74
Va n ações i o n c o n u t a n t c s m é t o d o de, 2 s [ - s 2
S u b s t a n t n o s a b s t i a t o s , 71- 72, 72n I 2 S u i e i t o si mples, 50
122 23
I 10- I I
Va n e d a d c , p r i n cí p i o r c t o r i c o da, 172 Vc i bos, 70- 71, 7(>-70; a l i r m n ç a o c , 75 c o m o
Snimiiiim i/ciiic, 105 -0 () I 07
u t n b u t i v o s , (>0-70 m o d o , 7 7 - 7 5 n o ç a o d e
S u s p e n s e , 2(45
t e m p o , 74>- t e m p o verbal, 7(> 77 tiansitivos e intransitivos, 7'0 , 7 0 n 2 l ;
T
Vc r b o s intransitivos, 70 7 0 n 2 1
l ema, d o c o n t o , 27a
Ve r b o s t iansi t ivos, 7’0
l e m p o \ ci loaI 74) 77
V e i d a d e ( v e r a c i d a d e) 50 c o n m n ç n o d e pru-
Tempo, n o ç a o clc 7(>, 55
posic,oes e I 10-12 i nd u ç ã o cs 2 14 lógica
l eol ogi a 24 4 24 7
12.4 d e p r o p o s i ç õ e s 122-23 da, 24 I t i e s t ipos de, I 25
lermo'
74 , 7 1n I 7
l e r m o privativo, 100
Vci d a d e lógica, 12.4
l er mo s classificaçao de, 00 102,- defini ção e, 100- 12; dilcrcncas entre,
de conceitos
102 -0 -1,- di ferido
07, di st r i bui ção d e
125-27,
divisão lógica c, 1I 2-1(>; c x t c n s a o c intcnsao
V e r d a d e metalisic a, I 23 V e r d a d e motul
123
Veri l i caçao de hi p ó t e s e s , 242-44,- d e d u ç ã o c, 254-55,- eli mi nação, 242-4.4, 24.3nn5 0 ,
d e 10 (-()(> equival ent es gramatic ais, 07-00 Termos a b s o l u t o s c relativos, 100-0 I
Vcrsi t icaçao, 255-01
l e r m o s e a t e g o n e a m e n t e di f er e n t e s , 102
Ver so l u a i u o ou solto, 204
R a m o s co l e t i v o s e clistributivos, 10 I -02
Vei so livre, 255 Ver sos nao artísticos, 201
[ e r m o s c o n c r e t o s e abst r at os, 100 Termos contraditórios,
r e qui s i t os
100, 103,
101 , 140,
207-05
Vei t a m b é m Poesia
Virtual/luncion Voz p s e u d o p a s s i v a , 02 03, 02n.4()
" pu
f ) \ i k )s I n 11 rn: u
i on ms
Di C' \ i \i i )c, \( \ o
n .\
P u ui u
u u
> (C'IP'1
(C ' am \k \ Pk \sii i ira i k ) 1,ivk(), SP Pk \uii) Joseph, Miriam, I S 0 S - Í 0 S 2 ( ) Inviuni: as artes liberais da lógica, gramática e retoriea: entendendo a natureza e a fundão da linguagem / Minam loscph,tradução e adaptação de Henrique Paul Dmvterko. São Paulo É R ea li z a çõ e s , 200S
Título original. Tbc tnvium, tbc liberal arts oí logie, grammar and rhetorie Pibliogratia ISPN 97S-SS S S 0 0 2 í>0-3 I ( 'ompreensão na leitura 2. Inglês - Oramatiea 2 Inglês Retórica 4 Linguagem e lógica V Pensamento eiítieo I. Dmvterko, Henrique Paul. II. Titulo OS-IOION
C D D -S O S 042
I n D R 1 S l>\k \ (
1 Inglês
\ I Al (> (,( > S I S ) ! M A I K O
Retórica
SOS 012
L s t e l i v r o í oi i m p r e s s o pela ('»rãfica HRo s a para b Realizapões, em o u t u b r o d e 200S
O s t i pos usa dos
são tia Iamilia ( T o n o s IVo, í aiifield TH e Weiss H I O papel tio miolo e e ha moi s bulk dunas 00g, e tia capa c a rt ã o
s u p re m o
2 S0 g
iE iv in a zAs zArtes Liberais da Lógica, Çramática e ^Retórica
... é a i r m ã é M i r i a m J o s e p h q u e m f a l a m a is e l o q ü e n t e m e n t e s o b r e o v a l o r d e s t e liv r o . H l a e x p l i c a q u e e s tu d a r a s a r te s l i b e r a is é u m a a tiv id a d e in tr a n s itiv a ; o e fe ito d o e s tu d o d e ta is a r te s p e r m a n e c e n o
in d iv íd u o e a p e r
f e i ç o a a s f a c u l d a d e s d a m e n t e e d o e s p ír ito . H l a c o m p a r a o e s t u d o d a s a r te s lib e r a is a o d e s a b r o c h a r d e u m a ro sa ; e l e t r a z a f r u i ç ã o e
a
r e a liz a ç ã o d a s p o s s ib ilid a d e s d a
n a tu
r e z a h u m a n a . H l a e s c r e v e , “a s a r te s u t i l i t á r ia s o u s e r v is p e r m i t e m q u e a l g u é m s i r v a — a o u t r e m , a o e s ta d o , a u m a c o r p o r a ç ã o , a u m a p r o fis s ã o — e q u e g a n h e a v id a . z A s a r te s l i b e r a is , e m c o n t r a s t e , e n s i n a m c o m o v iv e r ; e la s tr e in a m u m a p e sso a a e rg u e r-se a c im a d e se u a m b ie n te n a tu r a l p a ra v iv e r u m a v id a in te l e c t u a l e r a c io n a l, e , p o r t a n t o , a v i v e r u m a v i d a c o n q u i s t a n d o a v e r d a d e ”...
é M a r g u e r ite é M c Ç lin n
cV i s t o d e s ta p e r s p e c t i v a h is tó r ic a , O Trnniim , e s te te s o u r o r e d e s c o b e r to p e l a i r m ã é M i r i a m J o s e p h , é m a is q u e u m m a n u a l p a r a d e s e n v o lv e r a in te lig ê n c ia , é u m a lu z b r ilh a n d o n a e s c u r id ã o d o s a b is m o s e m q u e a tir a m o s a v e r d a d e ir a e d u c a ç ã o .
J o s é é M o n i r T ^ a sse r
ISBN 978-85-88062-60-3
9*788588 '062603
í
''Cr'.(/rreneão C



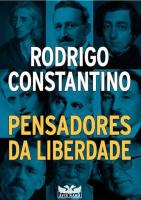


![Experiência do usuário (UX)-DarkMode [1 ed.]
9786555179132](https://dokumen.pub/img/200x200/experiencia-do-usuario-ux-darkmode-1nbsped-9786555179132.jpg)
![Arquitetura para computação móvel-DarkMode [2 ed.]
9786550110581](https://dokumen.pub/img/200x200/arquitetura-para-computaao-movel-darkmode-2nbsped-9786550110581.jpg)
![Administracao de Marketing-DarkMode [15 ed.]
8543024951, 9788543024950](https://dokumen.pub/img/200x200/administracao-de-marketing-darkmode-15nbsped-8543024951-9788543024950.jpg)
![Gerenciamento de Projetos-DarkMode [1 ed.]
8521208413, 9788521208419](https://dokumen.pub/img/200x200/gerenciamento-de-projetos-darkmode-1nbsped-8521208413-9788521208419.jpg)