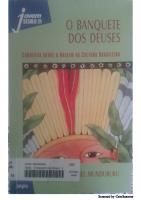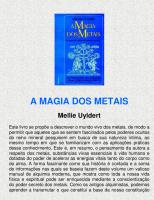A cultura dos Indivíduos 85-363-0593-2
Neste livro, que combina sólida argumentação e vasto material empírico, Bernard Lahire propõe transformar nossa visão co
413 147 187MB
Portuguese Pages 649 Year 2006
Polecaj historie
Table of contents :
201_Page_001......Page 209
201_Page_002......Page 210
201_Page_003......Page 211
201_Page_004......Page 212
201_Page_005......Page 213
201_Page_006......Page 214
201_Page_007......Page 215
201_Page_008......Page 216
201_Page_009......Page 217
201_Page_010......Page 218
201_Page_011......Page 219
201_Page_012......Page 220
201_Page_013......Page 221
201_Page_014......Page 222
201_Page_015......Page 223
201_Page_016......Page 224
201_Page_017......Page 225
201_Page_018......Page 226
201_Page_019......Page 227
201_Page_020......Page 228
201_Page_021......Page 229
201_Page_022......Page 230
201_Page_023......Page 231
201_Page_024......Page 232
201_Page_025......Page 233
201_Page_026......Page 234
201_Page_027......Page 235
201_Page_028......Page 236
201_Page_029......Page 237
201_Page_030......Page 238
201_Page_031......Page 239
201_Page_032......Page 240
201_Page_033......Page 241
201_Page_034......Page 242
201_Page_035......Page 243
201_Page_036......Page 244
201_Page_037......Page 245
201_Page_038......Page 246
201_Page_039......Page 247
201_Page_040......Page 248
201_Page_041......Page 249
201_Page_042......Page 250
201_Page_043......Page 251
201_Page_044......Page 252
201_Page_045......Page 253
201_Page_046......Page 254
201_Page_047......Page 255
201_Page_048......Page 256
201_Page_049......Page 257
201_Page_050......Page 258
201_Page_051......Page 259
201_Page_052......Page 260
201_Page_053......Page 261
201_Page_054......Page 262
201_Page_055......Page 263
201_Page_056......Page 264
201_Page_057......Page 265
201_Page_058......Page 266
201_Page_059......Page 267
201_Page_060......Page 268
201_Page_061......Page 269
201_Page_062......Page 270
201_Page_063......Page 271
201_Page_064......Page 272
201_Page_065......Page 273
201_Page_066......Page 274
201_Page_067......Page 275
201_Page_068......Page 276
201_Page_069......Page 277
201_Page_070......Page 278
201_Page_071......Page 279
201_Page_072......Page 280
201_Page_073......Page 281
201_Page_074......Page 282
201_Page_075......Page 283
201_Page_076......Page 284
201_Page_077......Page 285
201_Page_078......Page 286
201_Page_079......Page 287
201_Page_080......Page 288
201_Page_081......Page 289
201_Page_082......Page 290
201_Page_083......Page 291
201_Page_084......Page 292
201_Page_085......Page 293
201_Page_086......Page 294
201_Page_087......Page 295
201_Page_088......Page 296
201_Page_089......Page 297
201_Page_090......Page 298
201_Page_091......Page 299
201_Page_092......Page 300
201_Page_093......Page 301
201_Page_094......Page 302
201_Page_095......Page 303
201_Page_096......Page 304
201_Page_097......Page 305
201_Page_098......Page 306
201_Page_099......Page 307
201_Page_100......Page 308
201_Page_101......Page 309
201_Page_102......Page 310
201_Page_103......Page 311
201_Page_104......Page 312
201_Page_105......Page 313
201_Page_106......Page 314
201_Page_107......Page 315
201_Page_108......Page 316
201_Page_109......Page 317
201_Page_110......Page 318
201_Page_111......Page 319
201_Page_112......Page 320
201_Page_113......Page 321
201_Page_114......Page 322
201_Page_115......Page 323
201_Page_116......Page 324
201_Page_117......Page 325
201_Page_118......Page 326
201_Page_119......Page 327
201_Page_120......Page 328
201_Page_121......Page 329
201_Page_122......Page 330
201_Page_123......Page 331
201_Page_124......Page 332
201_Page_125......Page 333
201_Page_126......Page 334
201_Page_127......Page 335
201_Page_128......Page 336
201_Page_129......Page 337
201_Page_130......Page 338
201_Page_131......Page 339
201_Page_132......Page 340
201_Page_133......Page 341
201_Page_134......Page 342
201_Page_135......Page 343
201_Page_136......Page 344
201_Page_137......Page 345
201_Page_138......Page 346
201_Page_139......Page 347
201_Page_140......Page 348
201_Page_141......Page 349
201_Page_142......Page 350
201_Page_143......Page 351
201_Page_144......Page 352
201_Page_145......Page 353
201_Page_146......Page 354
201_Page_147......Page 355
201_Page_148......Page 356
201_Page_149......Page 357
201_Page_150......Page 358
201_Page_151......Page 359
201_Page_152......Page 360
201_Page_153......Page 361
201_Page_154......Page 362
201_Page_155......Page 363
201_Page_156......Page 364
201_Page_157......Page 365
201_Page_158......Page 366
201_Page_159......Page 367
201_Page_160......Page 368
201_Page_161......Page 369
201_Page_162......Page 370
201_Page_163......Page 371
201_Page_164......Page 372
201_Page_165......Page 373
201_Page_166......Page 374
201_Page_167......Page 375
201_Page_168......Page 376
201_Page_169......Page 377
201_Page_170......Page 378
201_Page_171......Page 379
201_Page_172......Page 380
201_Page_173......Page 381
201_Page_174......Page 382
201_Page_175......Page 383
201_Page_176......Page 384
201_Page_177......Page 385
201_Page_178......Page 386
201_Page_179......Page 387
201_Page_180......Page 388
201_Page_181......Page 389
201_Page_182......Page 390
201_Page_183......Page 391
201_Page_184......Page 392
201_Page_185......Page 393
201_Page_186......Page 394
201_Page_187......Page 395
201_Page_188......Page 396
201_Page_189......Page 397
201_Page_190......Page 398
201_Page_191......Page 399
201_Page_192......Page 400
201_Page_193......Page 401
201_Page_194......Page 402
201_Page_195......Page 403
201_Page_196......Page 404
201_Page_197......Page 405
201_Page_198......Page 406
201_Page_199......Page 407
201_Page_200......Page 408
201_Page_201......Page 409
201_Page_202......Page 410
201_Page_203......Page 411
201_Page_204......Page 412
201_Page_205......Page 413
201_Page_206......Page 414
201_Page_207......Page 415
201_Page_208......Page 416
201_Page_209......Page 417
201_Page_210......Page 418
201_Page_211......Page 419
201_Page_212......Page 420
201_Page_213......Page 421
201_Page_214......Page 422
201_Page_215......Page 423
201_Page_216......Page 424
201_Page_217......Page 425
201_Page_218......Page 426
201_Page_219......Page 427
201_Page_220......Page 428
201_Page_221......Page 429
201_Page_222......Page 430
201_Page_223......Page 431
201_Page_224......Page 432
201_Page_225......Page 433
201_Page_226......Page 434
201_Page_227......Page 435
201_Page_228......Page 436
201_Page_229......Page 437
201_Page_230......Page 438
201_Page_231......Page 439
201_Page_232......Page 440
201_Page_233......Page 441
201_Page_234......Page 442
201_Page_235......Page 443
201_Page_236......Page 444
201_Page_237......Page 445
201_Page_238......Page 446
201_Page_239......Page 447
201_Page_240......Page 448
201_Page_241......Page 449
201_Page_242......Page 450
201_Page_243......Page 451
201_Page_244......Page 452
201_Page_245......Page 453
201_Page_246......Page 454
201_Page_247......Page 455
201_Page_248......Page 456
201_Page_249......Page 457
201_Page_250......Page 458
201_Page_251......Page 459
201_Page_252......Page 460
201_Page_253......Page 461
201_Page_254......Page 462
201_Page_255......Page 463
201_Page_256......Page 464
201_Page_257......Page 465
201_Page_258......Page 466
201_Page_259......Page 467
201_Page_260......Page 468
201_Page_261......Page 469
201_Page_262......Page 470
201_Page_263......Page 471
201_Page_264......Page 472
201_Page_265......Page 473
201_Page_266......Page 474
201_Page_267......Page 475
201_Page_268......Page 476
201_Page_269......Page 477
201_Page_270......Page 478
201_Page_271......Page 479
201_Page_272......Page 480
201_Page_273......Page 481
201_Page_274......Page 482
201_Page_275......Page 483
201_Page_276......Page 484
201_Page_277......Page 485
201_Page_278......Page 486
201_Page_279......Page 487
201_Page_280......Page 488
201_Page_281......Page 489
201_Page_282......Page 490
201_Page_283......Page 491
201_Page_284......Page 492
201_Page_285......Page 493
201_Page_286......Page 494
201_Page_287......Page 495
201_Page_288......Page 496
201_Page_289......Page 497
201_Page_290......Page 498
201_Page_291......Page 499
201_Page_292......Page 500
201_Page_293......Page 501
201_Page_294......Page 502
201_Page_295......Page 503
201_Page_296......Page 504
201_Page_297......Page 505
201_Page_298......Page 506
201_Page_299......Page 507
201_Page_300......Page 508
201_Page_301......Page 509
201_Page_302......Page 510
201_Page_303......Page 511
201_Page_304......Page 512
201_Page_305......Page 513
201_Page_306......Page 514
201_Page_307......Page 515
201_Page_308......Page 516
201_Page_309......Page 517
201_Page_310......Page 518
201_Page_311......Page 519
201_Page_312......Page 520
201_Page_313......Page 521
201_Page_314......Page 522
201_Page_315......Page 523
201_Page_316......Page 524
201_Page_317......Page 525
201_Page_318......Page 526
201_Page_319......Page 527
201_Page_320......Page 528
201_Page_321......Page 529
201_Page_322......Page 530
201_Page_323......Page 531
201_Page_324......Page 532
201_Page_325......Page 533
201_Page_326......Page 534
201_Page_327......Page 535
201_Page_328......Page 536
201_Page_329......Page 537
201_Page_330......Page 538
201_Page_331......Page 539
201_Page_332......Page 540
201_Page_333......Page 541
201_Page_334......Page 542
201_Page_335......Page 543
201_Page_336......Page 544
201_Page_337......Page 545
201_Page_338......Page 546
201_Page_339......Page 547
201_Page_340......Page 548
201_Page_341......Page 549
201_Page_342......Page 550
201_Page_343......Page 551
201_Page_344......Page 552
201_Page_345......Page 553
201_Page_346......Page 554
201_Page_347......Page 555
201_Page_348......Page 556
201_Page_349......Page 557
201_Page_350......Page 558
201_Page_351......Page 559
201_Page_352......Page 560
201_Page_353......Page 561
201_Page_354......Page 562
201_Page_355......Page 563
201_Page_356......Page 564
201_Page_357......Page 565
201_Page_358......Page 566
201_Page_359......Page 567
201_Page_360......Page 568
201_Page_361......Page 569
201_Page_362......Page 570
201_Page_363......Page 571
201_Page_364......Page 572
201_Page_365......Page 573
201_Page_366......Page 574
201_Page_367......Page 575
201_Page_368......Page 576
201_Page_369......Page 577
201_Page_370......Page 578
201_Page_371......Page 579
201_Page_372......Page 580
201_Page_373......Page 581
201_Page_374......Page 582
201_Page_375......Page 583
201_Page_376......Page 584
201_Page_377......Page 585
201_Page_378......Page 586
201_Page_379......Page 587
201_Page_380......Page 588
201_Page_381......Page 589
201_Page_382......Page 590
201_Page_383......Page 591
201_Page_384......Page 592
201_Page_385......Page 593
201_Page_386......Page 594
201_Page_387......Page 595
201_Page_388......Page 596
201_Page_389......Page 597
201_Page_390......Page 598
201_Page_391......Page 599
201_Page_392......Page 600
201_Page_393......Page 601
201_Page_394......Page 602
201_Page_395......Page 603
201_Page_396......Page 604
201_Page_397......Page 605
201_Page_398......Page 606
201_Page_399......Page 607
201_Page_400......Page 608
201_Page_401......Page 609
201_Page_402......Page 610
201_Page_403......Page 611
201_Page_404......Page 612
201_Page_405......Page 613
201_Page_406......Page 614
201_Page_407......Page 615
201_Page_408......Page 616
201_Page_409......Page 617
201_Page_410......Page 618
201_Page_411......Page 619
201_Page_412......Page 620
201_Page_413......Page 621
201_Page_414......Page 622
201_Page_415......Page 623
201_Page_416......Page 624
201_Page_417......Page 625
201_Page_418......Page 626
201_Page_419......Page 627
201_Page_420......Page 628
201_Page_421......Page 629
201_Page_422......Page 630
201_Page_423......Page 631
201_Page_424......Page 632
201_Page_425......Page 633
201_Page_426......Page 634
201_Page_427......Page 635
201_Page_428......Page 636
201_Page_429......Page 637
201_Page_430......Page 638
201_Page_431......Page 639
201_Page_432......Page 640
201_Page_433......Page 641
201_Page_434......Page 642
201_Page_435......Page 643
201_Page_436......Page 644
201_Page_437......Page 645
201_Page_438......Page 646
201_Page_439......Page 647
201_Page_440......Page 648
201_Page_441......Page 649
100-209.pdf......Page 0
001-100_Page_01......Page 1
001-100_Page_02......Page 2
001-100_Page_03......Page 3
001-100_Page_04......Page 4
001-100_Page_05......Page 5
001-100_Page_06......Page 6
001-100_Page_07......Page 7
001-100_Page_08......Page 8
001-100_Page_09......Page 9
001-100_Page_10......Page 10
001-100_Page_11......Page 11
001-100_Page_12......Page 12
001-100_Page_13......Page 13
001-100_Page_14......Page 14
001-100_Page_15......Page 15
001-100_Page_16......Page 16
001-100_Page_17......Page 17
001-100_Page_18......Page 18
001-100_Page_19......Page 19
001-100_Page_20......Page 20
001-100_Page_21......Page 21
001-100_Page_22......Page 22
001-100_Page_23......Page 23
001-100_Page_24......Page 24
001-100_Page_25......Page 25
001-100_Page_26......Page 26
001-100_Page_27......Page 27
001-100_Page_28......Page 28
001-100_Page_29......Page 29
001-100_Page_30......Page 30
001-100_Page_31......Page 31
001-100_Page_32......Page 32
001-100_Page_33......Page 33
001-100_Page_34......Page 34
001-100_Page_35......Page 35
001-100_Page_36......Page 36
001-100_Page_37......Page 37
001-100_Page_38......Page 38
001-100_Page_39......Page 39
001-100_Page_40......Page 40
001-100_Page_41......Page 41
001-100_Page_42......Page 42
001-100_Page_43......Page 43
001-100_Page_44......Page 44
001-100_Page_45......Page 45
001-100_Page_46......Page 46
001-100_Page_47......Page 47
001-100_Page_48......Page 48
001-100_Page_49......Page 49
001-100_Page_50......Page 50
001-100_Page_51......Page 51
001-100_Page_52......Page 52
001-100_Page_53......Page 53
001-100_Page_54......Page 54
001-100_Page_55......Page 55
001-100_Page_56......Page 56
001-100_Page_57......Page 57
001-100_Page_58......Page 58
001-100_Page_59......Page 59
001-100_Page_60......Page 60
001-100_Page_61......Page 61
001-100_Page_62......Page 62
001-100_Page_63......Page 63
001-100_Page_64......Page 64
001-100_Page_65......Page 65
001-100_Page_66......Page 66
001-100_Page_67......Page 67
001-100_Page_68......Page 68
001-100_Page_69......Page 69
001-100_Page_70......Page 70
001-100_Page_71......Page 71
001-100_Page_72......Page 72
001-100_Page_73......Page 73
001-100_Page_74......Page 74
001-100_Page_75......Page 75
001-100_Page_76......Page 76
001-100_Page_77......Page 77
001-100_Page_78......Page 78
001-100_Page_79......Page 79
001-100_Page_80......Page 80
001-100_Page_81......Page 81
001-100_Page_82......Page 82
001-100_Page_83......Page 83
001-100_Page_84......Page 84
001-100_Page_85......Page 85
001-100_Page_86......Page 86
001-100_Page_87......Page 87
001-100_Page_88......Page 88
001-100_Page_89......Page 89
001-100_Page_90......Page 90
001-100_Page_91......Page 91
001-100_Page_92......Page 92
001-100_Page_93......Page 93
001-100_Page_94......Page 94
001-100_Page_95......Page 95
001-100_Page_96......Page 96
001-100_Page_97......Page 97
001-100_Page_98......Page 98
Ate2009_Page_099......Page 99
Ate2009_Page_100......Page 100
Ate2009_Page_101......Page 101
Ate2009_Page_102......Page 102
Ate2009_Page_103......Page 103
Ate2009_Page_104......Page 104
Ate2009_Page_105......Page 105
Ate2009_Page_106......Page 106
Ate2009_Page_107......Page 107
Ate2009_Page_108......Page 108
Ate2009_Page_109......Page 109
Ate2009_Page_110......Page 110
Ate2009_Page_111......Page 111
Ate2009_Page_112......Page 112
Ate2009_Page_113......Page 113
Ate2009_Page_114......Page 114
Ate2009_Page_115......Page 115
Ate2009_Page_116......Page 116
Ate2009_Page_117......Page 117
Ate2009_Page_118......Page 118
Ate2009_Page_119......Page 119
Ate2009_Page_120......Page 120
Ate2009_Page_121......Page 121
Ate2009_Page_122......Page 122
Ate2009_Page_123......Page 123
Ate2009_Page_124......Page 124
Ate2009_Page_125......Page 125
Ate2009_Page_126......Page 126
Ate2009_Page_127......Page 127
Ate2009_Page_128......Page 128
Ate2009_Page_129......Page 129
Ate2009_Page_130......Page 130
Ate2009_Page_131......Page 131
Ate2009_Page_132......Page 132
Ate2009_Page_133......Page 133
Ate2009_Page_134......Page 134
Ate2009_Page_135......Page 135
Ate2009_Page_136......Page 136
Ate2009_Page_137......Page 137
Ate2009_Page_138......Page 138
Ate2009_Page_139......Page 139
Ate2009_Page_140......Page 140
Ate2009_Page_141......Page 141
Ate2009_Page_142......Page 142
Ate2009_Page_143......Page 143
Ate2009_Page_144......Page 144
Ate2009_Page_145......Page 145
Ate2009_Page_146......Page 146
Ate2009_Page_147......Page 147
Ate2009_Page_148......Page 148
Ate2009_Page_149......Page 149
Ate2009_Page_150......Page 150
Ate2009_Page_151......Page 151
Ate2009_Page_152......Page 152
Ate2009_Page_153......Page 153
Ate2009_Page_154......Page 154
Ate2009_Page_155......Page 155
Ate2009_Page_156......Page 156
Ate2009_Page_157......Page 157
Ate2009_Page_158......Page 158
Ate2009_Page_159......Page 159
Ate2009_Page_160......Page 160
Ate2009_Page_161......Page 161
Ate2009_Page_162......Page 162
Ate2009_Page_163......Page 163
Ate2009_Page_164......Page 164
Ate2009_Page_165......Page 165
Ate2009_Page_166......Page 166
Ate2009_Page_167......Page 167
Ate2009_Page_168......Page 168
Ate2009_Page_169......Page 169
Ate2009_Page_170......Page 170
Ate2009_Page_171......Page 171
Ate2009_Page_172......Page 172
Ate2009_Page_173......Page 173
Ate2009_Page_174......Page 174
Ate2009_Page_175......Page 175
Ate2009_Page_176......Page 176
Ate2009_Page_177......Page 177
Ate2009_Page_178......Page 178
Ate2009_Page_179......Page 179
Ate2009_Page_180......Page 180
Ate2009_Page_181......Page 181
Ate2009_Page_182......Page 182
Ate2009_Page_183......Page 183
Ate2009_Page_184......Page 184
Ate2009_Page_185......Page 185
Ate2009_Page_186......Page 186
Ate2009_Page_187......Page 187
Ate2009_Page_188......Page 188
Ate2009_Page_189......Page 189
Ate2009_Page_190......Page 190
Ate2009_Page_191......Page 191
Ate2009_Page_192......Page 192
Ate2009_Page_193......Page 193
Ate2009_Page_194......Page 194
Ate2009_Page_195......Page 195
Ate2009_Page_196......Page 196
Ate2009_Page_197......Page 197
Ate2009_Page_198......Page 198
Ate2009_Page_199......Page 199
Ate2009_Page_200......Page 200
Ate2009_Page_201......Page 201
Ate2009_Page_202......Page 202
Ate2009_Page_203......Page 203
Ate2009_Page_204......Page 204
Ate2009_Page_205......Page 205
Ate2009_Page_206......Page 206
Ate2009_Page_207......Page 207
Ate2009_Page_208......Page 208
Citation preview
.
.
1
BERNARD LAHIRE . ACULTURA DOS INDIVÍDUOS
i;,,
. ,._,_
l
.
j' 1
't :' ..
1
•
.
. •
•
-
,, . .... ;:
'
:·
,'
. . · ·-~,.:l
.. -·''"' ,. .-· /
/..
A CULTURA DOS INDIVÍDUOS -
t··~,. .J
•
,
•• : ·•
1 '
•
1
••
:
..
-
:
•
•.
'
. / . 1: .. ....,
e.:·:·· .
- ..
' (_ ::
'
- •J •
1
••
1:,. ... .
Í
,
. r· ,
,..
'---~' ·--::..
-
.. ... .·
····
.... ~ :
• •'1 • • • , • • _ . . .. ..
l'-.- - - - - -. . ... ,
. . , .: : ·
"·--·~·· .~,
..... , . . ..
S ocr,a coe-;lt (5() .ú J 1~4:r!J Ouvrage publié avec le concours·du Ministere Français de la Ctc lture - Centre National du Llvre
AL
Tradução publicada com auxílio do Ministério Francês da Culturn - Centro Nacional do Livro
.. I
'• • 1'
,/
,/
1'.
.I.
:__ y!;
\ ..:.
Sobre o autor Bernard Lahire é professor da École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines e Diretor do Grupo de Pesquisa sobre Socialização (CNRS / Universidade de Lyon 2). Tem publicado pela Aroned: Retratos sociológicos: disposições e variações individuais, 2004..
ABP--~&AB AB. AB:. t ._..~
AG,POEA
/\. PDEA Btullna ~
para
• Prolo?Q doo Dniioo Edltor\ob. RESPEITE O AUTOR N/.0 FAÇA CóPIA
www.abpdea.org.br
L183c
lahire, Bernard A cultura dos indivíduos / Bernard Lahire ; tradução Fátima Murad. - Porto Alegre : Artmed, 2006. 656 ip. ; 25 cm. ISBN 85-363-0593-2 1. Educação - Sociologia. I. Título.
CDU 37.015.4 Catalogação na publicação: Júlia Angst Coelho - CRB 10/1712
\
A CULTURA DOS INDIVÍDUOS BERNARD LAHIRE
~·
... •
·,-· 1
;.
..\
. ,,. '
l- . • • . • •
Tradução:
Fátima Murad Consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição:
Jaqueline Pasuch Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande d~Sul Professora da Universidade do Estado do Mato Grosso
2006
· ,1•1,ntmentc 1mblicada sob o título La culwre eles i11divldu.s: o1)nl ong li ,. . . d . disso11a11ces culturc cs cr- e rstrnctwn e so, e
ISBN 2-7071 -4222-0 © Editions LA DÉCOUVERTE, Paris, Prancc, 2004.
Capa Gustavo Macri Preparação do original Aline Pereira Leitura final Alexandre Müller Ribeiro Supervisão editorial Mônica Ballejo Canto Projeto e editoração Armazém Digital Editoração Eletrônica - Roberto Vieira
Reservados todos os direitos de publicação, em língua portuguesa, à ARTMED~ EmTORA S.A. Av. Jerônimo de Ornelas, 670 - Santana 90040-340 Porto Alegre RS Fone: (51) 3027-7000 Fax: (51) 3027-7070
É proi!Jída a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte.! sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecflnico, grnvnçno, fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissiio expressa cln Editora. SÃO PAULO Av, Angéllcn, 1091 - Hlgicnó,poiis 01227-100 Siio Pnulo SP
J7one: (11) 3665-'J 100 rnx: (11) 3667-'1333 SAC 0800 703-3444 IMPRESSO NO BRASIL PRIN'J'ED IN BIV\ZIL
-::
.
\.
• ,1
1
.:. : f'" \
m
\ ,
. .. • • •• • ,
. ': ', ·, ', -. . ,,
i
- • •
,
. :' ,/,._
eus primeiros agradecimentos são dirigidos ao Departamento de Estudos e da Prospectiva do ministério da Cultura e da Comunicação, em particular a Olivier Donnat, que me permitiu trabalhar sobre os dados da pesquisa "Práticas culturais dos Franceses 1997", no âmbito de uma resposta à licitação "Práticas e consumos culturais" entre janeiro de 2000 e abril de 2001. Esses dados constituem um dos principais pilares em que repousa o edifício da pesquisa que conduzi. Esta obra tampouco seria o que é sem a exploração singular dessa amostra representativa da população francesa de 15 anos e mais, realizada com a ajuda de Everest Pardell (engenheiro de estudos no GRS, UMR 5040 do CNRS). Paralelamente ao trabalho de tratamento da pesquisa quantitativa, foram feitas inúmeras entrevistas sobre as práticas e preferências culturais, primeiro com adultos (n = 81). Na ordem de importância do trabalho realizado (passagem e transcrição informática das entrevistas), meu reconhecimento vai, antes de tudo, para Sophie Denave e Christine Détrez, bastante eficazes e competentes. A primeira série de entrevistas também foi feita com a ajuda de participantes da oficina "O sentido da legitimidade cultural em questão", durante os anos acadêmicos de 2000-2001 e de 2001-2002 na ENS Letras e Ciências Humanas (Sandrine Clausier, François Devaux, Mathilde Gauvin, Véronique Gilet, Nathalie Manent, Olivier Vanhée e Emmanuelle Zolesio) e por alguns dos participantes do seminário "Socializações culturais" do DEA de Ciência Política do IEP de Lyon, "Mobilizações, Mediações, Representa-
Agradecimentos
ções, Regulações" (Sylvie Aebischer, Thomas Berjoan e Julien Fragnon). Durante o ano acadêmico de 2002-2003, a segunda série de entrevistas (n = 30) foi feita com adolescentes de 16 e 17 anos, principalmente na França (no âmbito da oficina "A interiorização das hierarquias culturais durante a adolescência", ENS Letras e Ciências Humanas, coordenada juntamente com Muriel Darmon e Christine Détrez), por Sylvie Aebischer, Julien Bertrand, Géraldine Bois, Anne-Laure Brion, Paul Costey, Virginie Cruveiller, Émilie Fabre, Véronique Gilet, Colin Giraud, Malounie Herbaut, Anne Lambert, Nellie Meunier, Fanny Rezig, Fanny Riou, Olivier Vanhée e Simon Virlogeux; secundariamente, na Suíça, (no âmbito do ensino de segundo ciclo "Processos de socialização na infância" na Universidade de Genebra, com Denise Morin) por Magali Figols-Osdoit, Rikke Offenberg Jensen, Mélanie Landolt, JeanBaptiste Magnin, Vita Nessi e Maude Roten. Nos dois casos, tratava-se de estudar as práticas culturais de adolescentes em sua relação com a família, com a escola e com grupos de pares, e de apreender suas categorias de percepção (e principalmente de hierarquização) das realidades culturais. Durante o ano acadêmico de 2001-2002, alguns campos de pesquisas foram abertos na oficina "O sentido da legitimidade cultural em questão" e no seminário de DEA de Ciência Política. Agradeço muito particularmente a Joseph Belletante por seu estudo de caso sobre André Rieu, que complementou em alguns pontos meu próprio trabalho de investigação sobre o tema; a Julie Frantz, Emmanuelle
~--~ • 1·- -
yj
AGRADECIMENTOS
gos), mediante entrevista observaç- d' . Adrien Gey, Tomoko Kawamura e Zo1es10, _ d ' ao 1retad ou com base em a . e Houria Oufkir, por suas observaçoes e saraus comportamentos . _ rqu1vos As mterpretaçoes que foram feitas às v ·. de caraoquê em bares, restaura~tes e boates, .d . ezes com. que permitiram dar corpo e. sent1d_o. aos da~os c1 em com as que tmham sido feitas inicialmente. Outras vezes, ocorre de serem d"f estatísticos; a Géraldine B01s, Valene Counol, . , . 1 erenFrançois Devaux e Véronique Gilet, por sua tes ou _contra.d 1tonas. ,Em todos os casos , esta análise dos convidados de dois programas de ob ra nao sena o que e se não tivesse contad televisão - Não se pode agradar a todo mundo com o conjunto disponível dessas produçõ 0 (Marc-Olivier Fogiel, France 3) e Todo mundo científicas empiricamente fundamentadas. es fala disso (Thierry Ardisson, France 2) -, que Agradecimentos especiais são dirigidos a acompanharam minhas pesquisas sobre as Hughes Jallon, diretor literário, por seu apoio, misturas de gêneros televisuais; a Julie Frantz, sua confiança e sua ajuda na finalização do lique me ajudou a analisar um programa de vro, a Muriel Darmon (GRS,CNRS), cujo traCampus (Guillaume Durand, France 2), consa- balho esclarecedor de releitura do manuscrito grado à história em quadrinhos; a Anne-Laure permitiu melhorar significativamente várias Brion e a Colin Giraud, por seu estudo de capas passagens, e a Yane Golay (GRS, CNRS), da revista Les Inrockuptibles e a Sophie Denave, revisora incansável. por ter feito um trabalho de prospecção do lado Finalmente, agradeço, por várias razões, do universo das produções musicais que mis- a Philippe Cibois (Universidade de Versaillesturam os gêneros rock e clássico (por exem- Saint-Quentin), Philippe Coulangeon (CESTAplo, as diversas misturas de heavy metal e de CNRS), Éric Darras (IEP de Toulouse), Jacques música clássica, ou as operações "Cartão bran- Dubois (Universidade de Liege), Francis Goyet co" que a Orquestra Lamoureux organizou com (Universidade de Grenoble 3), Michel Grossetti William Sheller, Rita Mitsouko ou Bernard (CERS-CNRS), Pierre Mercklé (ENS-LSH), Patrick Mignon (lNSEP), Jean-Claude Passeron Lavilliers). (EHESS, Marseille), Richard A. Peterson Mas numerosos dados empíricos sobre os (Vanderbilt University), Paul-André Rosental quais se apóia esta obra provêm também de (EHESS, Paris), Hugo Verdaasdonk (Tilburg vários outros levantamentos estatísticos (produzidos pelo INSEE, pelo Observatório Nacio- University), e à revista internacional Poetics, nal da Vida Estudantil, pelo DEP do Ministério belo exemplo de acumulação crítica de dados e da Cultura ou por diferentes equipes de soció1o- de modelos no campo da sociologia da cultura.
-. ..--· .... ,, .. ,
•
. l~
•
i ,,
Lista de siglas
' ' : --\
.. 1 1
.,
,' ·'
'
·- ' 1
BAC - (abreviatura de baccalauréat) Grau universitário conferido após os exames de conclusão do ensino médio (études secondaires); nome dato também a esses exames BEP - (Brevet d'Études Professionnelles) Diploma de Estudos Profissionais
BEPC - (Brevet d'Études Du Prémier Cycle) Diploma de Estudos do Primeiro Ciclo (de Sa a 8a série do ensino fundamental) BP - (Brevet Particulier) Diploma Particular
BT - (Brevet Technicien) Diploma Técnico
BTA - (Brevet Technitien Administrative) Diploma Técnico Administrativo
BTS - (Brevet de Technicien Supérieur) Diploma de Técnico Superior, que sanciona dois ou três anos de ensino superior em um âmbito muito especializado CAP - (Certificat d'Aptitude Professionnelle) Certi-
ficado de Aptidão Profissional CAPES - (Certificat d'Aptitude au Professorar d'Enseignement Secondaire) CAPET - (Certificat d'Aptitude au Professorar d'Enseignement Technique) CEP - (Certificar d'Études Primaires) Certificado de Estudos Primários, ou de ensino de primeiro grau (até a Sa série do ensino fundamental) CERS - (Centre d'Étude des Rationalités et des Savoirs) Centro de Estudo de Racionalidades e de Saberes
CESTA - (Centre de Sociologie du Travai! et des Arts) Centro de Sociologia do Trabalho e das Artes CGT - (Confederation Généralle des Travailleurs) Confederação Geral dos Trabalhadores
--
CPGE - (Classes Preparatoires aux Grands Écoles) Classes Preparatórias para as Grandes Escolas CPIS - (Cadres et Professions Intellectuelles Supérieures) Altos Funcionários e Profissões Intelectuais Superiores DDASS - (Direction Départamentale de l'Action Sanitaire et Sociale) Direção Departamental da Ação Sanitária e Social DEA - (Diplôme d'Études Approfundies) Diploma de Estudos Aprofundados, diploma de terceiro ciclo, prévio a um doutorado ou ao magistério. DEP - (Direction de l'Éducation Permanente) Direção da Educação Permanente, setor do Ministério da Educação Nacional DESS - (Diplôme d'Études Supérieures Specialisées) (BAC + 5) Diploma de Estudos Superiores Especializados, ou diploma de terceiro ciclo, que sanciona uma formação aplicada de alta especialização, preparando para a vida profissional
DEUG - (Diplôme d'Études Universitaires Générales) Diploma de Estudos Universitários Gerais, conferido ao final do primeiro ciclo do ensino superior DUT - (Diplôme Universitaire de Technologie) Diploma Universitário de Tecnologia, obtido em dois anos de ensino em instituto técnico após a conclusfa da, ensino médio EHESS - (École des Hautes Études en Sciences Sociales) Escola de Altos Estudos em Ciência Sociais
ENA - (École National de l'Administration) Escola Nacional da Administração, uma das "grandes écoles" (grandes escolas) que fazem parte do ensino superior francês
CNP - Rede de Cinema (Lyon e Paris)
ENS - (École Normale Supérieur) Escola Normal Superior, uma das "grandes écoles" (grandes escolas) que fazem parte do ensino superior francês
CNRS - (Centre National de la Recherche Scientifique) Centro Nacional da Pesquisa Científica
GRANDE ÉCOLE - Grande Escola, instituição que faz parte do ensino superior francês
yjjj
LISTA DE SIGLAS
GRS _ (Groupe de Recherche Scientifique) Grupo de Pesquisa Científica EC _ (Hautes Études Commerciales) Altos Estudos "eome reiais , uma das "grandes écoles" .(grandes esfr colas) que fazem parte do ensino supenor ances A
HLM _ (Habitation à Loyer Modéré) Habitação de Aluguel Moderado IEP - (Institut d'Études Politiques) Instituto de Es-
tudos Políticos INSA - (Institut National des Sciences Appliquées) Instituto Nacional das Ciências Aplicadas INSEE - (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Econômicos INSEP - (Institut National du Sport et de l'Education Physique) Instituto Nacional de Esporte e Educação Física IlIT - (Institut Universitaire de Technologie) Instituto Universitário de Tecnologia
LSH- (Lettres et Sciences Humaines) Letras e Ciências Humanas MAITRISE - Grau universitário que sanciona o segundo ciclo do ensino superior MJC - (Maison des Jeunes et de la Culture) Casa dos Jovens e da Cultura
OFCE - (Observatoire Français des Conjuctures Economiques) Observatório Francês de Conjunturas Econômicas
OL- (Olympique Lyonnais) Time de fut b 1 e o deLyon ONQ - (Ouvriers Non Qualifiés) 0 á. Qualificados per nos Não-
OS - (Ouvrier Specialisé) Operário E . . spec1alizado PCF - (Parti Communiste Français) Part'd 1 Comunista Francês
°
PCS - (Professionnels et Categories So . f . ) . . . c1opro es1 s1onne . . es Prof1ss1ona1s e Categorias Soe·lOpro fiIS· s1ona1s PSG - (Paris Saint Germain) (time de futebol) RMI - (Revenu Minimum d'Insertion) Renda Mínima de Inserção
SOFRES - Instituto de pesquisa com sede em Paris STS - (Science, Technologie et Sociologie) Ciência, Tecnologia e Sociologia TCL - (Transports en Commun de Lyon) Transportes Coletivos de Lyon
TNP - (Théâtre National Populaire) Teatro Nacional Popular
UFR - (Unité de Formation et de Recherche) Unidade de formação e de Pesquisa VIT- (Vélo Tout-Terrain) Bicicleta de Corrida
ZEP - (Zonne de l'Education Prioritaire) Zona de Educação Prioritária, onde a ação educativa é reforçada para combater o fracasso escolar
. ,., , '
.
• ' • ' ' 4' .. .
• f.
• I
'I
f" I
I' •
..~-·
Sumário '
_.,. ...
e·..: ·:~ ...-
. 1
•',
t
.
~
1'
• •
.,, /. ·. :
'
1;
'
... ...
'
l ,:
• • .: ··.1
- .. ·,
' • • ••
'
_-
Lista de siglas ....................................................................................................................... vii Introdução ............................................................................................................................. 13
Transformar o olhar ................................................................................................................ 15 A cultura em escala individual ................................................................................................ 18 Cifrar o singular ..................................... ················································································· 21 Quadros estatísticos com retratos individuais ......................................................................... 25 Distinção de si e vida digna de ser vivida ................................................................................ 28
PARTE 1 Legitimidade, dominação e crença
1.
Poderes e limites da teoria da legitimidade cultural ................................................ 35
Os elementos constitutivos da teoria da legitimidade cultural ....................................... 36 Crença e dominação ....................................................................................................... 39 Pluralidade de ordens de legitimidade cultural e variações intra-individuais ...................................................................................... 54 Hierarquias escolares, hierarquias culturais ................................................................... 58
2.
A produção histórica de hierarquias culturais ......................................................... 65
"Cultura fria" versus "cultura quente" ................... .- ......................................................... 65 Europeização da América, americanização da Europa ................................................... 68 Um francês na América ........... :...................................................................................... 76
3,
Medir a legitimidade cultural ...... :............................................................................... 83 O puro e o impuro . ............................................................ 87 Senhor L. .............. :::::: :::::::::::::::::::::::: :::: : ::::::::.: : ................. ·.. ·····. ·········· ···· ···· ··· ·········· ·· · 89
PARTE 11 Construir os perfis culturais individuais
s·º..h'a c1enc1a .• . social do ocu1lto ...................... ··.. ·.... ·......... ·...... ·.. ·· .. ·.... ·· .... ··.. ·.. ·...... ·· .... ·.. ···.. ..... . 102 103 Critica da razão pragmática ......................... ··...... ··......... ··.. ·.. ·· ···.... ·... ·· .. ·· ·... ·......... ··· ·.... ·· ..... ··..
4,
eategonas, . tipos . e pert·1s
....................................... :............. .................................... 101 107
Figuras ideal-típicas e caricaturização do mundo social ............................................ . Análise de correspondências e de ideal-tipos .............................................................. ~ Leituras na contramão ................... ·.... ·.. ·........... ·.... ·.............. ·· ............. ··· ................. ·· 119 Margens não-marginais .............................................................................................. .
i!
10
SUMÁRIO
nsferências imperfeitas ~·····:·····,.. :··········································· ............................. 122
5, Tra 1Iterar1a ...... · ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · ·.. ·.. · · ···· ···· ·............... .............. 125 os efeitos locais. d a socializaçao .
A associação de contrários ......................................................... '. ...._............................. 136 Retorno a La Distinction ............................................................................................... 140
6,
Perfis conso nantes , Perfl·s dissonantes ........... ···· ·· ·········· ······· ···· ·· ··· ·. ..... ·· ............. . 150 Um quadro não exclui o outro ..................................................................................... 150 Perfi s com t.reAs, quatro , c1·nco e seis variáveis.............................................. ·.····· .. ·..... .. 154 Perfis com três variáveis ............................................................................................ 154
Perfis com quatro variáveis ........................................ :··············: ............................... 157 Perfis com cinco ~ se~ variáveis ................_................................................................. 160 1
Perfis com sete variave1s .................................... :................................ 161 Variações interindividuais e singularidades individuais ................................................ 166 Perfis e categorias ......................................................................................................... 167 ! .........................
Quem compõe os diferentes tipos de perfis? ................................................................ 167 O horizonte dos prováveis ......................................................................................... 174
PARTE Ili Os perfis culturais em retratos
7, 8,
A homogeneidade por cima e por baixo ................................................................. 181 Perfis culturais consonant,es muito legítimos ................................................................ 181 Perfis culturais consonantes pouco legítimos ........................ :...................................... 193 As formas da heterogeneidade cultural individual ................................................ 213
Uma maneira de evitar o problema .............................................................................. 213 . · omvoros ' ' Uma meta'fora zool'og1ca. e umvoros ............................................................ . 217 Determinantes sociais dos perfis e variações intra-i~dividuais ..................................... 219
9, 10, 11,
Perfis culturais dissonantes nas classes superiores ............................................ 223 Perfis culturais dissonantes nas classes médias .................................................. 250 Perfis culturais dissonantes nas classes populares ............................................. 305
PARTE IV Mobilidades e influências
l2. 13,
14·
Pequenos e grandes deslocamentos sociais ......................................................... 351 Os efeitos da ascensão . .................. 360
················································································
Vidas culturais sob influências ................................................................................ 40 3 ~n~u~nc~as conjugais .................................................................................................... 405 ~ uenc1as de amigos ................................................................................................... 41; práticas de acompanhamento .................................................................................. 42 A ju.ventude é apenas uma palavra: a vida sob tripla coação ............................... 425 Perfis culturais dissonantes nas 1 .· e casses superiores .......................................... ............. 4337 P f. ....................... 45 er is culturais dissonantes nas -classes e'd· Perfil cultural dissonante nas clasc m 1 ias ........... ... ... ...... .... ....... .. . ............. 464 p fi ses popu ares .................................. ·.. ......... 69
er is culturais dissonantes de tendência pouco legítima nas classes populares ·......... 4
SUMÁRIO
11
PARTE V Desvalorização do capital literário e artfstico, diversão e mistura de gêneros
15,
Queda de intensidade da crença na cultura literária e artística ........................... 479 A queda do valor espírito .............................................................................................. 4 79 Uma queda mensurável ................................................................................................ 481 Cultura geral e culturas especializadas ........................................................................ 482 A boa distância da cultura literária e artística .............................................................. 486 Fronteiras mais flexíveis ............................................................................................... 516 Histórias em quadrinhos e séries de 1V: mesmo combate ............................................ 517
16,
Tensões e relaxamentos, no público e no privado ................................................ 524 Vidas estressantes ...................................................................... :.................................. 525 Caraoquê e liberação pública das tensões .................................................................... 527 Cultura no âmbito privado, gratuidade e enfraquecimento dos efeitos de legitimidade ........................................................... 533 Distensão versus abertura cultural ............................................................................ 533 Privatização da cultura e relação com as normas legítimas ....................................... 535 Gratuidade e engajamento de si: televi.são e cinema ................................................... 539
17,
Confusão ou mistura de gêneros? .......................................................................... 545 As misturas televisuais de gêneros ............................................................................... 546 . do "popu1ar A n dre' Rieu" ................................................................ 551 As sa'b.ias misturas Teoria estética da heterogeneidade e da mistura de gêneros ....................................... 554 . ,. d a situaçao ent::1cas ...................................................................................................... 558
Conclusão: As distinções individuais ................................................................................... 571 Hierarquias e julgamentos culturais ................................................................................. 572 As distinções interindividuais: o gosto dos outros ............................................................ 575 Distinção de si e luta de si contra si mesmo ..................................................................... 579 Ascetas improváveis: as funções sociais do ideal .............................................................. 584
Post-scriptum: Indivíduo e sociologia ................................................................................. 593 A ciência das variações mentais e comportamentais ........................................................ 594 Variações e realidades macros sociológicas ....................................................................... 595 Variações intercivilizações, interépocas e intersociedades ................................................ 595 Variações intra-sociedades: meio, grupo, classe e categoria ............................................ 596 O revés sofrido pelas variações individuais ...................................................................... 597 Personificação dos coletivos e exclusão do indivíduo ....................................................... 598 Indivíduo: universal demais ou singular demai.s ............................................................. 601 Lutar contra certos hábitos de pensamento ...................................................................... 608 Resi·sti·r ao ar dos tempos ............................................ ...................................................... 612 Apoios e contra-apoios científicos ......................... ·· ········ ·..................................................... . Adendo·. Proposi·ço-es ··········································································································· 626 Anexos metodolo'g·,cos ............................................................. 629 ········································ 6 Documentos escritos e audiovisuais explorados.............................................................. 31 Lista de pessoas entrevistadas ......................................................................................... 633 Os Convi. d ad os d e 1lodo mundo fiala ............................ .. ············... ··········... ···.. ····.. ···..... ···· 643 Li·sta de f·1 · t a dos quando das entrevistas com adultos ........ 64 7 1 mes sub meti·d os aos en trevis Refere· nc·, as ............................................................................................ ·.... ·... ·........ ·....... ·· 649
Introdução Sempre me pareceu que mesmo os bons autores erram ao se obstinar em formar de nós uma consta~te e sól!~ª contextura. Eles escolhem uma aparência universal e, seguindo essa imagem, ~ao cl~ss1f1cando einterpretando todas as ações de um personagem, e, se não conseguem distorce-_las suficientemente, vão submetendo-as à dissimulação. [... J Não tenho nada a dizer de mim mesmo, inteiramente, simplesmen,te esolidamente, sem confusão esem mistura, nem em uma palavra. Distingo é o componente mais universal de minha lógica. Montaigne, Ensaios, Livro segundo, capítulo 1
O
senhor W. nasceu em 1889. É oriundo de uma família da alta burguesia austríaca - seu pai era um rico industrial. Após estudos de engenharia mecânica, e depois pesquisas em aeronáutica, segue estudos de matemática e de fitosofia e tem uma experiência de ensino como professor primário na área rurat Torna-se professor de filosofia na Inglaterra, e é descrito unanimamente, por seu círculo na época, como uma pessoa muito ascética e austera, que manifesta uma preocupação muito particular em matéria de ordem, de pontualidade e de asseio. Nesse período de sua vida, vive muito modestamente, em uma atmosfera quase monástica, e detesta tudo que lhe possa parecer wperficial, fútil, mundano ou presunçoso. Entretanto, ele nem sempre vivera de maneira tão estrita e severa e, durante sua juventude, inclusive, fora visto como um jovem burguês esteta. Receoera uma e?ucação cultura¼ burguesa e apreciava a música clássica - seus compositores preferidos eram Mozart, Schubert e Brahms, amigo de seus pais. Como filósofo, sua reflexão espelhava ~ua austeridade na vida cotidiana: rigorosa e intelectualmente exigente, sendo compreendid~ por poucos colegas e alunos. O senhor W. nao era um filósofo mundano com inclinações
literárias que o levassem a publicar sobre os temas da moda. Ele pertencia mais a essa categoria de filósofos capazes de aconselhar a seus interlocutores ou a seus leitores palavras do tipo: "Os que esperam que lhes sirvam a filosofia em conchas [...] podem ir procurar em outro lugar. Graças a Deus, há negociadores de sopa filosófica em todas as esquinas" (C. S. Peirce). Por isso causa espanto a uma parte de seu círculo, assim como aos comentadores de sua biografia, a descoberta de que a mesma pessoa era apaixonada por westerns e revistas de histórias policiais (que ele qualificava favoravelmente de "vitaminas mentais"), ou que adorava as barracas de feira, a ponto de jogar com um prazer infantil certos jogos para ganhar prêmios. E causa mais assombro ainda saber que, apesar de sua educação burguesa e de sua vida no seio de uma família de melômanos, "elejamais dedicara à música a mesma atenção que dava aos filmes e aos romances policiais". 1 Aliás, ele próprio parecia surpreso pelo fascínio que podia ter por certas histórias policiais, que constituíam um gênero muito menor em sua época. Falando de uma história policial que apreciara particularmente, ele escreveu que ela lhe causara "tamanho prazer" que ele "deveria
14
BERNARD LAHIRE
escrever pessoalmente ao autor para lhe agraartificiais que fossem b decer", e acrescentava: "Se é isso que se chasua atenção· com . , a sorvesse inteiramente isso, procu . , ma de fascínio, eu mesmo fico tão surpreso com pouco seu espírito d rava hbertar um e um afluxO , isso quanto vocês podem ficar". 2 pensamentos que O to t continuo de r uravam e . Esse homem de comportamentos cultu0 exauriam. Gostava dos filmes am . encanas e rais contraditórios não é outro senão o filósotestava as produç·ões ingl . em geral de. esas. Tmha a t d' fo Ludwig Wittgen,stein, a propósito de quem cta de acreditar na impossibilid d d en enª e e que um · l' Jacques Bouveresse escreve: "Wittgenstein era fil me mg es pudesse ser um bo f'l 1 . m I me. Em gemanifestamente hostil a todas as formas de arte ra ' nao apreciava muito a mental1'd d d . 1 1 , . a e os mque acusava - com ou sem razão - de se deleig eses cu ~os e seus habitas intelectuais".s O tarem de forma artificial e forçada no sórdido mesmor Wittgenstein "adorava rever as barra. d e no patológico, e de contribuírem unicamencas e 1e1ra que se instalavam periodicamente te para desenvolvê-los e para agravá-los. Daí ~o gramado de Midsummer Common. Ele senessa predileção, um pouco surpreendente em tia grande prazer em jogar sua moeda de um um homem como ele, por gêneros inferiores penny para ganhar um prêmio".6 divertidos e 'populares', como o romance poHSe menciono aqui o caso de Wittgenstein cial ou o western". 3 Um de seu.s alunos, - como também poderia ter dado o exemplo Theodore Redpath, recorda igualmente essa de Jean-Paul Sartre, que confessava "ler com paixão por um cinema pouco "intelectual" e mais prazer os 'Série Noire' do que Wittgenspor histórias policiais, e confessa sua incapacitein", 7 e que, por muito tempo resistente à tedade de compreender o princípio disso: levisão, passou a assistir a ela regularmente a "Wittgenstein era louco por cinema. Ele ia com partir de 1975 para se distrair -,8 não é para muita freqüência assistir westerns e filmes noirs passar a idéia de que esta obra pretende "reveamericanos no Kinema, em Mill Road. Um dia, lar seu mistério", mas, ao contrário, para marele me disse que não imaginava como poderia car minha própria surpresa de sociólogo diante das freqüentes surpresas suscitadas por case privar disso. Ele também lia com gosto hissos desse tipo. O que intriga nessas histórias é tórias policiais em jornais como The Red Magazine. Esse tipo de alimento correspondia a al- a discrepância entre o que se sabe desses homens pelos retratos que se fazem deles como guma necessidade profunda de seu caráter; mas eu nunca compreendi verdadeiramente filósofos e o que se descobre sobre suas práticas e seus gostos culturais. Pergunta: Por que sua causa".4 · geralmente as pessoas _se mostram tão surpreO que se sabe sobre ele, principalmente por Norman Malcom, é que o cinema noir e os . sas diante de tais dissonâncias culturais? Rewesterns o ajudavam a relaxar e a se livrar de posta: Porque temos uma idéia muito ruim do reflexões filosóficas tortuosas e dolorosas para que são as socializações individuais. Pergunt!: Que modelo implídto do ator individual se poe ele: ''Ao final de cada exposição, relata Norman em cena ao se confessar desconcertado? ResMalcom, Wittgenstein ficava esgotado. Ele se posta: Um modelo da consonância ou ~a co.esentia profundamente desgostoso com si mesrência geral dos comportamentos indiv1dua1~. mo, de tudo o que tinha dito e de tudo o que Tão intelectualmente "exigente" (sutil, eru?inão soubera dizer. Muitas vezes, quando ter- " re1axad o,, (rude, popular) la ... to) aqm. e tao minava a aula, precipitava-se a um cinema. [ ... ] ' · perava Estranho! Quem faz esse comentano es 'Isso tem o efeito de umà boa ducha!', murmu, e fi uma escolha Ver de fato que O filoso10 zesserou certa noite, inclinando-se na minha dire· ematoção. Acompanhava atentamente a seqüência análoga em matéria de produçoes cm . gráficas ou iterárias à que tive~s_e feito ~~ das imagens, o corpo debruçado para a frente, âmbito filosófico. O modelo imphcito do ª , e quase não tirava os olhos da tela. Normalindividual em questão, em outras ª~asd: mente, não fazia nenhum comentário sobre os um modelo da transferência genera iza ~ episódios do filme e não gostava nenhum pou. . d m uma area certas disposições ev1denc1a as e , fi ) co que seu acompanhante o fizesse. Queria que lho filoso co . b d específica (no caso, o o tra a essa seqüência de imagens, por mais banais e
Pf
A CULTURA DOS INDIV/DUOS
Não se trata aqui de levantar qualquer hipótese sobre as razões da variação de interesses culturais de Ludwig Wittgenstein em função de momentos da prática (notaremos, por exemplo, que o cinema intervém após o intenso esforço intelectual) ou de campos de práticas (por exemplo, profissional versus extraprofissional), e essa não é a ambição desta obra. Sei apenas, como observador de comportamentos culturais, que esse tipo de variação não tem nada de extraordinário ou de atípico, que em nenhuma hipótese remete a um "mistério Wittgenstein", e que é uma ilusão achar que se trata de uma exceção estatística que confirma uma regra geral de coerência cultural; a idéia segundo a qual "a mera diversão", a "descontração um pouco besta" ou a "distração despretensiosa" vem "lavar" o espírito e o corpo de aborrecimentos, inquietações, cansaços e tensões (produzindo "o efeito de uma boa ducha" de que falava Wittgenstein) é um tema recorrente entre os "consumidores culturais", e estou absolutamente convencido de que esse tipo de variação não remete "a uma necessidade profunda de seu caráter", mas às múltiplas socializações (familiares, amistosas, militares, culturais, profissionais, etc.) do filósofo e às condições sociais de suas diversas práticas. Aquele que se surpreende diante da existência de tais variações não está longe de pensar, como Henry James, que ''ver uma obra através de um motivo único seria chegar a um único ponto de vista a partir do qual se revelaria sua unidade perfeita e seu completo acabamento" e que esse ponto de vista possibilitaria "ao mesmo tempo a compreensão absoluta e a satisfação total". Embora jamais tenha tido a tentação de propor qualquer teoria (psicológica ou sociológica) que fosse, Ludwig Wittgenstein pedia, entretanto, que se abandonassem tais pretensões: "Para Wittgenstein, ao contrário, ver a vida humana como uma multiplicidade de motivos infinitamente variados é livrar-se da obsessão de remetê-la inteiramente a uma i~éia, a um princípio, a um sistema; ou, para dizer de outro modo, livrar-se da ilusão de que todo o universo é feito para chegar a um livro ou.ª uma fórmula. Renunciar à totalização e à unificação pode ser frustrante. Mas é a visão sinóptica buscada por Wittgenstein que nos
15
manterá atentos à irredutível heterogeneidade dos fenômenos psicológicos [... ]". 9 É possível que.Wittgenstein soubesse exatamente do que estava falando.
TRANSFORMAR OOLHAR Esta obra encontra seu sentido no cruzamento de dois grandes desafios indissociavelmente científicos e políticos: um diz respeito à interpretação de práticas e de preferências culturais em sociedades diferenciadas (com forte divisão do trabalho e grande diferenciação de funções); o outro tem a ver com a observação do mundo social em escala individual, com a consideração das singularidades individuais e a construção sociológica do "indivíduo". As pessoas estão sociologicamente habituadas, desde meados dos anos de 1960, a pensar "a cultura" (o arbítrio cultural que se impõe e se faz reconhecer como a única "cultura legítima") em suas relações com as classes sociais ou com frações de classes, o que leva a denunciar as desigualdades sociais no acesso à "Cultura" (o uso freqüente da maiúscula ressalta sua grandeza). Destacam-se também as funções sociais da arte e da cultura em uma sociedade diferenciada e hierarquizada. Classes sociais e sua distância maior ou menor em relação à cultura, hierarquias culturais que ordenam os homens, os objetos e as práticas do mais legítimo ao menos legítimo, eis os elementos-chave do sentido sociológico atribuído à cultura há quarenta anos. Os grandes momentos dessa história científica foram marcados pela publicação das obras de Pierre Bourdieu e de seus diversos colaboradores: Les Héritiers, les étudiants et la culture (1964), Un
art moyen: essai sur les usages de la photograplzie (1965), L'Amour de l'art: les musées d'art européens et leur public (1969), La reproduction: élements pour une théorie du systeme d'enseignement (1970) e, naturalmente, La Distinction: critique sociale dujugement (1979). Essa história científica não deixa de ter ligação com a história política, e quase se es_q~ec,e q ue desde a criação, em 1959, de um m1mste, Assuntos Culturais encarregado de "torrio de nar acessíveis as obras capitais da hurnanida-
=~:.·. . ·-.-.
16
BERNARD LAHIAE
No ~?menta atual, somente uma . _ rimeiro lugar da França, ao maior part1C1pa dos benefícios das artes Uminor_1a de, e em p , l de franceses" (conforme os . . maaru número poss1ve 9 tocrac1a sempre pode comprar qu d : . d ·1 . a ros, mode 24 de julho de 195 , que reto dec d veis e est1 o, ouvir nandes con . . termos o , ) · 1 , P cert1stas . se segue à nomeação de And:·e M~,r~uxd, J~Sap1au d ir um bale na Opera ou qual ' Th ,A quer retificou-se grande parte da açao po i:ica e epresentaçao no eatre-Français p . . . , agar os mgressos para dar nsmhos tolos diant d mocratização com base na constata~ao de a~ro. P1casso no museu d'An ti'b es, ou admirar Oe e• . a-o pela elite (parisiense), considerada ma, 1 "S .. ses 1 ,, pnaç . "al petacu os on et Lum1ere" de Versailles. o ceitável, de produtos da mais ta cu tura . outros só podem ouvir rádio ou assistir a~ Inscritas desde a década de 1960 em uma desfile de 14 de julho. Não se poderia frustrar vontade declarada de "democratização cultuo povo por mais tempo. [...] A IV República ral", as políticas culturais dessa maneira ~esl~~deve se reerguer, tomar-se uma grande Repúcharam toda uma série de pesquisas soc10log1blica democrática e designar um ministro rescas críticas sobre as desigualdades culturais perponsável pela nobre missão de elevar o nível cultural da nação. i 1 sistentes, sobre os determinantes sociais dessas desigualdades e sobre as modalidades de Essa maneira crítica de considerar as prásua reprodução. Aferrando-se a essa tarefa crítiticas culturais do ponto de vista das desigualca, os sociólogos críticos aceitaram tacitamente o terreno problemático (no duplo sentido do dades sociais tornou-se a tal ponto endógena termo) que lhes era proposto e os limites metoque são os sucessivos ministérios de Assuntos Culturais, e depois da Cultura, que, por meio dológicos e interpretativos que lhes eram fixados. Entretanto, souberam traduzir as questões de reflexões e, posteriormente, das pesquisas _políticas de seu tempo em questionamentos e quantitativas (em 1973, 1981, 1989 e 1997), em conhecimentos científicos, invertendo uma lançam luz sobre as práticas culturais dos franparte das asserções políticas usuais: ·~rma-se ceses.12 A constatação sociológica da permaque a escola é democrática: ela é de fato reprodunência das distâncias sociais tornou-se uma tora"; ''.Afirma-se que o acesso à cultura está senconstatação política comum. Assim, pode-se ler do democratizado, ao pa.sso que na verdade as na obra de Patrick Bloche (deputado e consedistâncias culturais entre grupos se mantiveram, lheiro de Paris), Marc Gauchée ( ex-diretor de ou até aumentaram", etc. 10 A tendência atual a assuntos culturais de um município da região querer se desfazer a qualquer custo e urgenparisience) e Emmanuel Pierrat (advogado) temente desses modelos de análise, por lassi(2002) a síntese dessas análises: dão interpretativa, em alguns casos, ou por inclinação ideológica, em outros, mostra que uma Não obstante alguns resultados encorajadores, parte dos sociólogos se deixa levar, sem reagir a política da oferta teve poucos efeiros sobre a redução das desigualdades culturais. Desde os muito, por mudanças da atmosfera ideológica. resultados da primeira pesquisa do INSEE so· Originalmente, a crítica social é inclusive bre os lazeres dos franceses, em 1967, e a pointerna ao Estado, pois é em nome da luta conpularização da expressão "não-público" por ~a as desigualdades de acesso à "cultura" (de· fi1ca ev1"dente Francis Jeanson no ano segumte, signam-se então por "cultura" as obras de arte que as instinlições wlturais 11ão estão se demo· o patrir_nôni~, cultural ou as "obras capitais d~ , · sao - con'l''iscaclas cratizanclo, mas, ao contrario, humanidade ) que se luta pela implantação de · · 1 o 'lci · mos resulmdos por uma mmona soc1a . s u . . á · l1lturms uma verdadeira política de democratização da das pesquisas sobre as pr, ucas c ' ..dos - eloquen· cultura clássica legítima. Por exemplo, em defranceses em 1990 e em 1997, sao ' . . tes a esse respeito. Os meios soei.·ais· menos z~mbro de l 956, Robert Brichet (chefe do Ser. 1 - . , ,pcraram seu . l'b Presentes nn vida cultura 11c10 1 cci. · ais viço da _Juventude e da Educação Popular na fission. I eatraso. Altos funcionários e pro secretaria de Estado para a Juventude e para os .. rais continuam a frequentar ass1·c1u·,mente ' .. • os . . . 111 1·s r,-equencta Es~o,1:es) defende nos Cahiers de la République espaços culturms com m111to ª J ' d . e os emp1ega . dos · E' quand o a ideia de um "ministério das Artes" para ~ que os operários fi , . - d por . m ª apropnaçao ª arte por uma pequena elite: a freqüência dos open\rios e e1os emprega os
A CULTURA DOS INDIVÍDUOS
aumenta, a das profissões superiores aumenta no mínimo na mesma proporção.13
Foi precisamente a esse tipo de constatação, que não tem nada de exagerado nem de retórico, que chegou Olivier Donnat ao comparar os dados das pesquisas "Práticas culturais dos franceses" de 1973 e 1997: A constatação geral que se faz da leitura desses resultados não difere muito, em última análise, daquela da sociologia crítica dos anos de 1960: participar da vida cultural de maneira ao mesmo tempo regular e diversificada supõe, hoje como ontem, acumular um máximo de vantagens que favoreçam o acesso à cultura (nível de formação e de renda elevado, proximidade da oferta cultural, familiaridade precoce com o mundo da arte, modo de lazer voltado para o exterior do domicílio e a sociabilidade entre amigos ... ), e quem as detêm são prioritariamente os altos funcionários e, em menor escala, os profissionais intermediários. Aliás, a comparação dos resultados da última pesquisa com os de 1973 mostra que a freqüência aos equipamentos culturais, a despeito de uma tendência geral de alta, mais ou menos sensível conforme os âmbitos, não é marcada por nenhuma redução das distâncias entre PCS (profissionais e categorias socioprofissionais) _14 Apoiada em um material amplo e variado (dados estatísticos, entrevis~as com mais de uma centena de pessoas pesquisadas com propriedades sociais variadas, observação direta de comportamentos, documentos escritos e audiovisuais diversos, etc.), esta obra não tem como objetivo negar as constatações de desigualdades sociais em face da cultura legítima e apagar o quadro da realidade cultural pintado por quarenta anos de trabalhos sobre os usos sociais da cultura. Ela visa propor um outro ,quadro igualmente fundamentado empiricamente, um quadro que seria inimaginável sem 0 trabalho realizado pelas pinturas do passado, mas que não revela as mesmas formas. Esse novo quadro, que compõe de maneira diferente ª mesma realidade tornou-se possível graças a uma mudança de ' escala de observação: 1 e e oferece a imagem do mundo social que pode ser produzida por um olhar que começa por
17
examinar as diferenças internas de cada indivíduo (variações intra-individuais) antes de mudar o ângulo de visão e de enfocar as dife~enças entre classes sociais (as variações mterclasses). Através desse olhar; lança luz so-
bre um fato fundamental, ou seja, que afronteira entre a legitimidade cultural (a "alta cultura'') e a ilegitimidade cultural (a "subcultura" a "simples diversão'') não separa apenas as elas~ s:s, 7:1as partilha as diferentes práticas e prefe. rencias culturais dos mesmos indivíduos, em todas as classes da sociedade. De fato, em escala individual, o que primeiro salta aos olhos do observador é a freqüência estatística dos perfis culturais individuais compostos de elementos dissonantes: estes são absoluta ou relativamente majoritários em todos os grupos sociais (embora nitidamente mais prováveis nas classes médias e altas do que nas classes populares), em todos os níveis de formação (ainda que mais prováveis nos que concluíram no mínimo o ensino médio do que nos não formados) e em todas as faixas etárias (apesar de cada vez menos prováveis quando se vai dos mais jovens aos mais velhos). O que chama a atenção, em seguida, é a maior probabilidade para os indivíduos que compõem a população entrevistada de terem um perfil cultural convergente "por baixo" (de fraca legitimidade) do que "por cima" (de forte legitimidade). Finalmente, após ter construído essa série de novos fatos estatísticos referentes às dissonâncias e às consonâncias culturais, podem-se agregar à explicação sociológica variações intra-individuais de comportamentos culturais. Os "fatos" jamais impõem sua evidência. Eles sempre supõem um olhar (ou um ponto de vista) que os constituem. Como escrevia Marc Bloch: '~ntes de Boucher de Perthes, os silices abundavam, assim como hoje, nos aluviões da Somme. Mas faltava entrevistador e não havia pré-história".* 15 Ora, o olhar que foi operado ao longo deste trabalho é, por si só,
• N. de T. Jacques Boucher de Chévecoeur de Pe~es! hist.ori_a· dor francês O788. l 868), um dos fundadores da c1enC1a pr~-h1s. . S mme· departamento da França, na parte setentnonal tonca. o , da Bacia Parisiense, na Picardia.
18
BERNARD LAHIRE
verificação empírica d 1 um verdadeiro desafio científico , 1 lançado. às · , . e e ement fl exao •Andas sociais de hoje: traz a uz soc1ologica sob os de um c1e _ o carater , . . . . re o mund are. O social central das margens e das exceçoes estat1st1esca1a md1v1dual.17 Em vez de pr em fl uencia sistemática de u cas e mostra que as estruturas mais fundamenessupor a . m passad . 1n. . d tai; do mundo social manifestam-se tanto nos o necessariamente coerent b O Incorpora. . d. . e so re os t amen t os m indivíduos como nos grupos que eles compõem, 1viduais pre compor. . . sentes ma· d tanto nas variações intra-individuais e interinimaginar que todo nosso ' is o que . passado bl oco ou uma smtese dividuais quanto nas variações intergrupos. homog' ' como um Em um contexto ideológico de amplificade um sistema de disposiçõ:;~: ~~\ªforma ção dos discursos, positivos oiu negativos, sopesa a todo momento sobre tod alares), . . as as nossas . bre o individualismo, mas também em um contuaçoes v1v1das, o sociólogo pod . d sie m agar se texto erudito no qual teses mais ou menos funso b re o d esencadeamento ou O n- d · esenca. d eamen to, a implementação ou a aodamentadas empiricamente na situação do esta _ gnaçao . 1 mundo, profecias sobre seu desenvolvimento pe_ os diversos contextos de ação , de d.1spos1-.' d inelutável e julgamentos sobre os bons e os ço~s e e co1:1pet~~cias incorporadas. A plumaus aspectos da individualização crescente ralidade de d1.Sposiçoes e de competências , por dos costumes nunca foram tão entremeados, é u_m l~do, a varieda_de de contextos de sua efedifícil tentar emitir um ponto de vista minimativaçao, por outro, e que podem explicar sodomente racional sobre essas questões formulanlogicamente a variação de comportamentos de do o programa empírico de uma sociologia das um mesmo indivíduo, ou de um mesmo grupo socializações individuais. "Uma ciência empíri- de indivíduos, em função de campos de prática, escrevia Max Weber, não conseguiria ensicas, de propriedades do contexto de ação ou nar a quem quer que seja o que deve fazer, mas de circunstâncias mais singulares da prática. Com base em algumas pesquisas, e de apenas o que pode e - eventualmente - o que 16 maneira inteiramente experimental e intensiquer fazer." O quadro complexo e nuançado va (seis entrevistas longas com cada uma das (e geralmente menos caricaturado) de relações pessoas pesquisadas a fim de cobrir áreas de socialmente diferenciadas com a cultura que atividade e dimensões da existência suficienesta obra esboça a partir de uma observação temente diversificadas para entrar no detalhe do mundo em escala individual tem como prinde variações intra-individuais e questio~ar as cipal ambição renovar o conhecimento da sievidências sociológicas sobre os mecanismos tuação das relações dos franceses com os difede transferência de disposições), tive oportu· rentes registros culturais, dos mais eruditos aos · 1s de come· nidade em um trabalho anterior, mais populares, dos mais desinteressados aos ' . - . .fi t" va do grau çar a revelar a vanaçao signi ica 1 mais comerciais, dos mais legítimos aos mais · · lturais das pes· de legitimidade das praticas cu ' . , 1 i egítimos. Ele também pode tornar mais cons· - é v1s1ve por soas pesquisadas. Essa vana!ao o de det;lhar cientes das complexidades e das sutilezas da um lado, quando se tem o cmdad fere'ncias ordem cultural das coisas os atores que pre· · e as pre suficientemente as praticas ' 0 cultural e, tendem pôr em prática políticas de democratização cultural e aqueles que lutam para impor individuais dentro de cada campd concentrar d em vez e sua definição do que é culturalmente legítimo. Por outro lado, quan · · ocamp0 ou subcaíll· toda a atenção em um umc _, dos comporta· domínios culPo ' se acompanha a evoluçao d"f ·entes mentos individuais e~1 ~ :~uai que não tinha ACULTURA EM ESCALA INDIVIDUAL turais. Cada retrato md1v1 e' rupos, de elas· a função de ilustrar culturas d !rava bem qti~, O processo de trata mento de dados do ões de classe, mo ltural uni~evantamento estatístico sobre as "Práticas culses ou de fraç , ·scro cu longe de se limitar a u~ redg1 manifescavan1 turais dos franceses 1997", assim como o que t ev1sta as · denpres"diu a análise da longa série de entrevistas c o , as pessoas en·1r -es ou,alternâncias (111), possibilitou-me prosseguir o trabalho de ambivalências, osci aço A
•
•
°,
A CULTURA DOS INDIVÍDUOS
tro de cada campo (por exemplo, música clássica e música pop ou literatura clássica e literatura folhetinesca ou revistas people) e/ou de um campo cultural a outro (da leitura à música, da televisão aos programas culturais, etc.). E, nos diferentes estudos de caso, a análise já revelava uma série de elementos que, na maioria das vezes combinados entre si, explicavam essas variações nos comportamentos culturais: experiências socializadoras heterogêneas durante a infância ou a adolescência (entre família, escola, grupo de iguais e instituições culturais freqüentadas), mudanças importantes de condições materiais e/ou culturais de vida (por exemplo, casos de mobilidades sociais ascendentes ou declinantes), efeitos específicos e localizados de formações escolares muito especializadas (por exemplo, uma formação literária de alto nível que contrasta com a falta de competências em âmbitos que nem a primeira educação nem a insti= tuição escolar permitiram constituir), relações ambivalentes com sua própria cultura familiar de origem ligadas às condições de "transmissão" do capital cultural dos pais, influências conjugais que vêm modificar as disposições familiarmente adquiridas, relações de amizade que favorecem práticas distintas daquelas que são implementadas entre cônjuges, uma extensão e, sobretudo, uma variedade de laços de amizade que tornam possível uma distribuição de práticas heterogêneas em função de amigos freqüentados, de contextos bem delimitados do ponto de vista espacial e/ou temporal particularmente favoráveis (as práticas menos legítimas desenvolvendo-se, por exemplo, durante as férias, durante períodos de festas, durante períodos de descanso situados após um tempo de pressão profissional, etc.). Assim, o procedimento científico adotado ao longo de toda esta obra consistiu em sistematizar os primeiros elementos de análise tirados desses retratos sociológicos, tendo como principal objetivo mostrar que, longe de ser o produto interpretativo do estudo de casos mu_ito atípicos ou muito singulares, esses elementos enfatizavam não apenas um problema sociológico muito geral, mas também aspectos centrais de nossas fonnações sociais altamen-
19
te diferenciadas. Mais do que separar um pouco ingenuamente indivíduos e sociedade, mais do que aceitar as oposições seculares entre o individual (o particular ou o singular) e o geral (o coletivo) e, finalmente, mais do que decidir em favor do "geral" com a certeza de quem "sabe muito bem" que só há ciência do geral, o sociólogo pode contribuir para superar oposições prontas, que muitas vezes substituem o raciocínio e, em última análise, pensam em seu lugar. Inúmeros sociólogos parecem encontrarse hoje no mesmo estado de espírito que os psicólogos do século XIX, que pensavam - antes das premissas da psicologia diferencial iniciada por Francis Galton - que as variações intra e interindividuais dos fenômenos que estudavam eram "erros" ou "ruídos" que deviam ser eliminados em vista do estabelecimento de leis gerais. Pierre Bourdieu explicava a propósito da oposição indivíduo/sociedade: Ela está por toda parte, serve de tema de dissertação, mas não quer dizer nada estritamente, na medida em que cada indivíduo é uma sociedade que se tomou individual, uma sociedade que é individualizada pelo fato de ser transportada por um corpo, um corpo que é individual.19
A afirmação é banal, alguém dirá. Aliás, Pierre Bourdieu não era o único a ser movido por esse tipo de convicção. Assim como outros grandes sociólogos - entre os quais podemos mencionar sem hesitação Marcel Mauss, Maurice Halbwachs ou Norbert Elias-, ele era levado, pela própria lógica de suas pesquisas, a transgredir as fronteiras que separam (tanto nas instituições quanto nas representações) o campo da psicologia do campo da sociologia, o mental (ou o psíquico) do social, o individual do coletivo, etc. Afirmação aparentemente banal, porém tantas vezes contestada na prática por grande parte dos sociólogos em numerosos apelos à ordem disciplinar expressados sob a forma de argumentos aparentemente muito rigorosos, do tipo: não se pode trabalhar cientificamente sobre o "singular" (pressupondo que o nível individual das realidades sociais é necessariamente da ordem do "particular" em
20
BERNARD LAHIRE
sociais. Veremos, ao longo deste trabalh . _ ao geral) 20 os resultados só têm vali. . . d' 'd o, que opos1çao , . , . ,, b as vanaçoes mtra-m dade quando são "generahzavets (su ent~~. _ 1v1 uais dos comporta1 mentos cu tura1s sao o produto da inte raçao dendo o fato de que apenas a "representativientre, de um lado, a pluralidade de disp ._ dade estatística" permite "generalizar"), _traba_ d ~ . \ OS! çoes e e competenc1as cu turais incorporadas lhar sobre O nível individual das realidades (supondo a pluralidade de experiênci sociais implica a negação da existência de gruem matéria cultural) e, de 0~~ socializadoras pos sociais (supondo, por trá_s da escolha ~a tro, a diversidade de contextos culturais (camescala de observação das realidades culturais, po ou subcampo cultural, contextos relacionais uma preferência política oculta), é preciso diou circunstâncias da prática) nos quais os inferenciar-se dos psicólogos, etc. divíduos têm de fazer escolhas, onde praticam O "indivíduo" (realidade geralmente concebida, seguindo nisto a etimologia da pala- consomem, etc. Portanto, a origem e a lógica' vra como uma entidade in-divisível) não é um dessas variações são plenamente sociais. ' terreno reservado às diferentes psicologias (da Porém, alguém objetará, revelar as singularidades individuais supõe o uso de métopsicologia cognitiva à psicanálise, passando dos, procedimentos ou técnicas propriamente pela psicologia social e pela psicologia diferencial)? A sociologia não deve ocupar-se exclusi- psicológicas, que são o único meio de possibilitar o acesso ao "foro íntimo", à "interioridade" vamente das realidades coletivas (instituições, grupos, classes, movimentos, etc.)? De que ou à "economia psíquica". Uma tal objeção remaneira as variações individuais21 poderiam pousa, na verdade, no mesmo mau hábito constituir um objeto específico para a sociolo-· mental que consiste em opor o "interior" e o gia? Antes de começar a responder a essas per- "exterior", o "mental" e o "social", o "indivíguntas, poderíamos primeiro destacar que elas duo" e a "sociedade". A melhor maneira de ter sã,o dirigidas ao sociólogo, mas apenas muito acesso à inacessível "interioridade" é de fato objetivar o mais finamente possível os comraramente ao historiador, a quem se concede tacitamente o direito de estudar casos singu- portamentos individuais e, mais do que isso, lares, sabendo que o estudo de casos nos ensi- objetivar os comportamentos de um mesmo na coisas muito além dos casos em questão. 22 indivíduo em contextos diferentes da vida soDe fato, quem imaginaria perguntar a Jacques cial: a "verdade individual" não se encontra Le Goff, após a leitura de seu Saint Louis, se como que encerrada ou encapsulada nos limiele não estaria avançando de forma um pouco tes de um cérebro e de um corpo, mas revelaperigosa demais no terreno da psicologia ao se no desenvolvimento e na variedade (diacrônica e sincrônica) das ações e de práticas do se dedicar ao estudo de um único personagem? Que relação a sociologia mantém com o "cole- indivíduo em questão. Como muito bem escretivo" e com o "geral" para dar a impressão de ve Jean-Jacques Rosat: "Para conhecer melho,r uma traição lá onde o historiador - social Tartufo Dorine a criada, não entra como por ' 'em seu interior a fim de consscie~tis,t que volta seu olhar para o passado-, .mTombamento ª.º mves disso, atrai a compreensão, a simpa- tatar que ali não se encontra algo como O sentia e mesmo o respeito? timento piedoso. Simplesmente, em excessos A úni,c a maneira para o sociólogo responde zelo religioso, que Orgon ve• como a' expres· der a essa questão é trazendo à luz a natureza são de uma devoção excepcional, ela logo re- " :n Porsocial do que está estudando e, no caso, mos- conhece a encenação e a ostentaçao · _ trar que as realidades individuais são sociais e tanto, não héi necessidade de intros~ecç,~o - " reem-rentes sao su11· que são socialmente produzidas. Em suma, traquando as "observaçoes ta-se, para ele, de "explicar o social pelo so- dentemente precisas. ·o cial", segundo a célebre fórmula de Durkheim. Se pelas necessidades da ana'l'ise, .'a soei · ' . pnedades Ele deve justamente pôr em evidência o fato logia muitas vezes abstraiu as pro d · d hábito e rede que as variações individuais de comporta- sociais (este ou aque le tipo e ' . , ' ue - d e pratica, , . et c.) de 1·nd1v1duos q mentos e de atitudes têm origens ou causas presentaçao,
A CULTURA DOS INDIVIDUOS
eram seus portadores para melhor estudá-los, ela pode igualmente examinar um conjunto de propriedades combinadas/dispostas em cada indivíduo particular tendo em mente que "as características isoladas pela análise" não são "características que existem separadamente uma da outra no fenômeno", e que a abstração operada "não é uma análise em elementos existentes". 24 Ainda que se possa dizer que "a ciência é a análise" e, portanto, a separação, a descoberta de elementos mais simples, de propriedades dessingularizadas, etc., pode-se retomar de forma reflexiva à natureza da redução, da abstração ou da simplificação assim operadas para se perguntar o que se acrescentou, procedendo dessa maneira na compreensão do mundo social. Qualquer que seja seu grau de sofisticação ou de reflexividade, um modelo será sempre um modelo: necessariamente simplificador. Contudo, além de ser útil, é também necessário indagar-se sobre esse modelo quando ele se torna uma rotina intelectual coletivamente compartilhada, que continua a prestar serviços cognitivos de tal modo que não se percebem mais seus limites. A reflexividade torna-se uma necessidade quando sequer se imagina em que um modelo pode ser um obstáculo à apreensão de certas dimensões das realidades sociais, e particularmente à compreensão da variação intra-ind"vidual dos comportamentos sociais. Porém, a sociologia deveria se dar conta do fato de que o mundo social jamais se apresenta sob a forma de imposições sociais abstratas e separadas, mas enquanto combinações singulares de imposições (prescritivas e contextuais). Por outro lado, em suas interações com outros indivíduos, cada ator experimenta o mundo social sob a forma de combinações particulares de propriedades sociais incorporadas, sob a forma de "mesclas de estilos" (segundo a sugestiva expressão de Mikhail Bakhtin).
21
social em escala individual não restringe o pesquisador ao único estudo de caso. Antes de proceder às necessárias categorizações (categoria socioprofissional, nível de formação, sexo, idade, etc.) dos indivíduos entrevistados, pode-se procurar levar em conta, na medida do possível, as lógicas individuais que fazem com que cada indivíduo seja caracterizado por uma série de comportamentos não necessariamente homogêneos sob o ângulo do grau de legitimidade das práticas e das preferências culturais. O leitor poderá constatar que um tal procedimento não conduz o pesquisador a uma saída do raciocínio sociológico, mas a uma tentativa de raciocínio sociológico atento às realidades sociais sob sua forma individualizada. Não se trata mais de renunciar a classificação dos indivíduos em grupos ou em categorias em razão de um pretenso "desaparecimento" de grupos ou classes (terna bem conhecido e que hoje, infelizmente, faz parte do senso comum muito pouco científico de que se nutre uma parte dos sociólogos franceses e norte-americanos). E trata-se menos ainda de acrescentar uma voz adicional ao coro, já bastante forte, que entona regularmente o canto do individualismo contemporâneo. Imaginar que construir cientificamente uma sociologia das socializações individuais é incompatível com uma teod a das classes sociais seria tão sutil quanto imaginar que o estudo dos átomos ou das moléculas implica, logicamente, a negação da existência dos corpos ou dos planetas. 25 O objetivo da série de pesquisas na origem desta obra foi produzir um conhecimento sociológico das práticas culturais francesas que preserve uma forte base individual ou, em outras palavras, que leve em consideração, na medida do possível (e do ·nterpretável), a escala especificamente individual da vida social (é o mesmo indivíduo que pratica isto e aquilo, que gosta disto, mas também daquilo, que freqüenta uma ,determinada instituição cultural ao mesmo tempo que freqüenta um outro local de espetáculo, etc.), possibilitando assim avanCIFRAR OSINGULAR çar na captação, por um ~ado, dos patrimônios O trabalho de tratamento da pesquisa individuais de disposições e de competências ,quantitativa foi realizado, portanto, com a in- culturais incorporadas ma~s ou menos homotenção de mostrar que uma reflexão sobre o gêneas ou heterogêneas, e, por outro lado, das
22
BERNARD LAHIRE
nª farnfl1a . exclusivamente propriedades dos diversos conte..Ytos de práticas e. · . 11vresãodorne'st· po CllJosusosd que entram mais ou menos em harmonia ou dos pela televisão 27ICOS e gera Irncntc d o te. rn. em contradição com esses patrimônios indivi. orn1na. duais de disposições e de competências. Do _Esse tipo de constata ã . mesmo modo que se pode perguntar sobre o . imagmar no âmbito e t . ç o sena difícil d acúmulo (ou o não-acúmulo) de competências 1 . . . s nto de u e eg1t1m1dade cultural qu e normalmma teoria da culturais, 26 os dados da pesquisa podem ser . aos atores um senfd . ente propor. solicitados a partir da questão da variação c10na e Ih d . . I o muito cl .. . aro, e sem contextual do grau de legitimidade cultural das 1a. a, a d1stmção , da le g1t1m1dad mdade cultural. A dignidade d e.o.u da dig. preferências ou das atividades individuais. de Cruzando as variáveis "nível de formação museu o impediria, por ex emp1ºo v1s1tante de fr .. do entrevistado" ou "categoria socioprofissional tar os parques de atrações ou de ' . . equena filmes de ação de grande assistir na TV do entrevistado" com os diferentes indicado- . sucesso u . · ma tal res de consumos culturais (preferência por um mterpretação . ' que não é ne cessanamem d esv10 da teoria da lecritimidad e um gênero, freqüência a um tipo de programa cul0 • e cu Itural lev entao a supor, por uma intensificação pu ' a tural, etc.), a sociologia do consumo cultural t · · ' · d . ramene imaginaria .e mvestimentos e de con hec1-. constata de maneira bastante geral o fato da culturais, que todos os consu m1'd ores probabilidade desigual de acesso a (de gosto e mentos . de interesse por) esta ou aquela categoria de mai~ ?atados cul.turalmente são comparáveis a profissionais da cultu ra . bens ou de instituições culturais. Estabelece a a cnticosd culturais, d existência de uma correspondência estatística o~ a ver a eiros apaixonados. Qualquer que bastante forte entre a hierarquia das artes (e, seJa o contexto (com quem? em que momendentro de cada arte, a hierarquia de gêneros) e to? para quê?), qualquer que seja a atividade cultural em questão (cinema, televisão, literaa hierarquia social ( ou cultural) dos consumidores (ou públicos). Uma tal leitura da rea- tura, música, pintura, etc.), as disposições cullidade das práticas culturais não é, evidente- tivadas seriam mais fortes que tudo e agiriam como verdadeiras maquininhas de perpétua me~te, condenável por si mesma. O problema triagem do trigo cultural e do joio vulgar. esta apenas na sua rotinização, na medida em O comentário teórico que alinha sem dique leva a mascarar outras leituras possíveis ficuldade as propriedades culturais e as dispo~os m~smo.s dados de pesquisas. Mas será que sições sociais associadas ao gosto dominante e poss1vel mdagar sobre as práticas culturais (ódio da massa, da simples diversão, do vulde outra maneira que não seja estabelecendo gar, etc.) funciona muito melhor quando não ess~ correspondência entre grupos culturais ( ou vai ao encontro de contra-e..x:emplos ou de situasocioprofissionais) e produtos culturais? Uma - nuança das que po denam . Po·r. em .dúvida çoes .. ma~eira que, sem esquecer os grupos e cate- sua validade empírica. Contudo, e muno di~i"fuga" SIS· gonas, respeitasse mais as especificidades dos cil encontrar índices claros de ,,uma ' dos d "horror percursos e dos perfis individuais? O levantatemática de "diversões comuns , ? _, 2s ou mento eS tatíStic0 pode se prestar a outras in- ajuntamentos vulgares" e da "eSreuzaça~. ·/ dagações? 1 " azeres ,ace1 ' inversamente, do gosto pe os pr _ ,, ou pela Olivier Donnat assinalava que pelo "divertimento sem pretensao do se . 'd d omuns, quan auvi a es e d pCS dos ir ª0 concerto e estar em uma discoteca visi- participação em . .b . - segun o a raoquê, a t~r um museu e visitar um parque de' atra- considera a d1stn Uiçao, ' · como oca entrevistados, de prancas . . audiçao ç~es, ~a~er teatro amador e fazer footing não 'd m Jogo ou a sao atividades nem incompatíveis e nem mes- ida à discoteca, a i a ª u , · roe k.29 de musica mo ºPº st ªs, no âmbito da sociedade francesa . . mpre na Jo'gica em seu c~njunto; elas tendem, inclusive, a esPoderíamos, inclusive - se Jos ou de , . d contra-exernP ro tar associadas, pois tanto umas como outras da busca heunsuca e . ômO dOS _' Jeva · 111 fazem parte de um modo de lazer que na es- exemplos pelo menos m: r as elites co cala da p~pulação francesa, opõe-se 'ao das paradoxo até o ponto de JU 1ga pessoas cuJa sociabilidade é fraca ou centrada
A CULTURA DOS INDIVfDUOS
23
Práticas-preferências segundo a PCS da pessoa entrevistada (%)
Agricultores Patrões da indústria e do comércio Altos funcionários e prol,issionals liberais Funcionários médios Empregados Operários qualificados e contramestres Operários especializados, trabalhadores braçais e pessoal de serviço Estudantes universitários, alunos de escola Mulheres inativas com menos de 60 anos Inativos com mais de 60 anos Outros inativos
..
Caraoquô
Discoteca
Baile público
Jogo
Rock (preferência)
17,8 27,3 30,0 29,9 33,3 26,8
17,3 28,4 28,9 30,5 36,5 34
51,9 33,3 30 30,9 31,3 35,8
28,8 27,5 31 ,6 30,9 21,7 37,9
1,9 7,8 8,9 10,7 5,4 9,3
32,6 47,5 12,4 4,7 19,9
34 60,3 15,4 2,6 30,8
38,5 37 25,4 18,8 23, 1
23 45,2 13,2 10,9 21,2
6 11,2 3,9 0,3 4,8
Fonte: pesquisa "Praticas culliura1s dos franceses-1997". Leitura; % de cada categoria que pratica tal progranaa ou prefere o rock entre o conjunto de gêneros musicais. Para os programas culturais, os dados correspo~dem_ ~s res~ostas à pergunta referente à existência de uma pràtica "durante os últimos 12 meses", exceto para a participação em um caraoque (pratica mais recente) para a qual se retiverana as respostas à questão referente ã existência de uma prática "durante toda a vida" do entrevistado.
base em certas afirmações sustentadas por entrevistados de meios populares. Compararíamos, por exemplo, os 69% da faixa de 15 a 19 anos, filhos de altos funcionários e profissionais intelectuais superiores que, em 1989, declaram dançar em uma discoteca ou em uma boate, com os discursos de certos jovens "em situação de aprendizagem precária" e de origem popular que rejeitam a casa noturna com argumentos que, colocados na boca daqueles de boa formação, leva?iam o sociólogo a dissertar sobre o desprezo do popular, do vulgar, do coletivo e da pura diversão sem contexto cultural: "É muita fanfarronice, hein!"; "Tem gente demais, é muito empurra-empurra, fico transpirando, não gosto de transpirar"; "Na boate, a gente fica de saco cheio, nas boates eles ficam de saco cheio; de fato, o que acontece quando você vai à boate: 'Veja, lá o senhor paga 60 francos, entra, dança e às cinco da manhã, fora'. Você não ganha nada, não conheceu ninguém, nada de nada. Então prefiro mil vezes quando sa~o à noite, convido amigos, a gente discute, come, discute: 'O que você anda fazendo? de onde vem? de que país? cultura? como vive? e sua vida cotidiana?', a gente discute, isso acrescenta alguma coisa, o que não acontece nas boates. É isso, você fica lá, bebe,
dança e às 5 horas da manhã o gerente diz: 'Vamos fechar a boate', vamos andando, como carneiros, vamos. O que é que você aprendeu? Nada."3º Do mesmo modo, poderíamos interpretar a grande proporção de altos funcionários e profissionais liberais que participaram pelo menos uma vez na vida de um caraoquê (30% contra apenas 26,8% dos operários qualificados e contramestres), a partir de afirmações muito legitimistas dessa pesquisa no meio popular com baixo capital escolar: '1\.cho isso ridículo inclusive. Pois cantar é uma coisa bonita, mas copiar os outros, imitar os outros e se olhar, não, isso é o tipo de coisa que acho verdadeiramente brega*. Enfim, é uma questão de gosto. Não porque eu não saiba cantar, mas quando você os vê fazendo isso, as pessoas, eles causam pena, eu acho. Bem, enfim, isso é uma questão de gosto. Eu não gosto" (E63, 31 contramestre, ensino médio completo). A existência de tais contra-exemplos já justifica (se é que isso é necessário) o fato de que se possa indagar sobre as variações intra-
'N. de R.T. No original, o termo empregado é brauf. Essa expressão, que é muito 1i1tilizada no francês popu.Jar, adquire um sentido pejorativo de algo que se despreza.
.·.::-......
24
BERNARD LAHIRE
. d comportamentos culturais, e · d' idua1s os . m. iv_ !mente tentar captar nuanças culturais · i·n P . nncipa . 'd uais, · i·sto é, as vanaçoes, par·a cada md1VI , . f e . 'd o de gostos e de praticas, con orme o d lVl U , . ipo de prática cons1'd era do, rescampo ou O t . 't do assim um pouco mais do que de cospe1 an ,. . d d' e a complexidade dos patrimomos e ispotum . . d' 'd . sições e de competências culturais m ivi ums, por um lado, e a variedade de cont~tos nos quais os indivíduos inserem suas açoes, por oun·o lado. Essas questões só foram abordadas a propósito de trânsfugas de classe (pessoas em situação de forte mobilidade social ascendente) pela via escolar que, conforme o campo de prática considerado, podem implementar disposições familiarmente adquiridas (em um meio popular) ou disposições escolarmente e/ou profissionalmente adquiridas. 32 "Populares" em alguns de seus consumos (por exemplo, alimentares ou de vestimentas), eles podem, no entanto, voltar-se a certos produtos culturais muito legítimos (por exemplo, em matéria de leitura literária), mas também fazer escolhas um pouco menos "puras" em outros âmbitos (por exemplo, cinematográficos ou televisivos). Quanto mais se aproxima dos terrenos em que a escola (e às vezes a profissão e a sociabilidade que a acompanha) exerceu sua influência (como é o caso da literatura, um pouco menos da música e da pintura, etc.), mais o trânsfuga põe em prática categorias escolares de percepção e de classificação e, portanto, um sentido da legitimidade cultural. Em contrapartida, quanto mais se afasta, mais as disposições sociais, os gostos, as categorias de classificação, etc. ativadas podem
tornar-se populares. 33 Os comportamentos desses indivíduos em situação de mobilidade s?c!al ascendente são menos previsíveis esta-
tisticamente que os dos imóveis, que perpetuam em .sua vida adulta as condições sociais e culturais originais. O fato de fazerem escolhas leg~imas (~u pouco legítimas) em um campo nao permite antever facilmente seus comportamentos em outros campos culturais. 34 O procedimento metodológico adotado com base nos dados da pesquisa estatística comport?u tres " grandes fases. Trata-se primei·
r~ classicamente, de ordenar as práticas e os produtos de acordo com seu grau de legitimi-
-
dade cultural. Em um segundo ---.. - -moment curou-se reconstrmr p e r ~ r o . - ---·- . ura1s mais ~enos m~tl~a. o~ ºl!-_~omQg~_ne_o_s do--; ou vista_da legipm1dade _c1:1J_t_ural. Con/~0 d~ possivel evidenciar indivídUÕscõ-::---_ · ás?, foi " . 1 . m pr trcas e pre ferencias cu tura1s muito disson ·-- -- - - --- antes (po exell'!J.)lo, . r --;-o caso, daq . ueles - -- nue··aprec~ -i_ ___ 1am a hteratur~ -1!1ª1-~_!egi! i~ q_u~-o~_vêlllprõgramas de.,~~s~c~ ~~p fr_anc~sa, ~u ae apreciadores de m~~~ca_~_~assica que ~~~cam_.!:1-~~~elevisãõõu vão ao cmema para ver os produtos menõsíegítimos), med1a~amente dissonantes ou mistos Çve~ os mfl~xo_es do_grau de legitimidade cultuJ.ª!.-9~ misturas de leg~ des fortes e fracas em certos camp_os de prátic ã ) ~u~~nt~ consonantes (&.q:ueles gue não cometem nenhuma "falta" de legiti~ade inversamente, aqueles que, muito distantes das instituições culturais mais legítimas, consomem apenas_2rodutos "populares .,'). ----·-~= < Finalmente, retomando aos determinantes sociais classicamente destacados, indagouse sobre a probabilidade de tais perfis aparecerem em função do sexo, da idade, da PCS, do nível de formação e da origem social. Perguntou-se particularmente quais são as categorias que fornecem os perfis mais coerentes e as que contam com os perfis mais contraditórios ou ambivalentes. Uma das hipóteses que foi possível formular desde o início da pesquisa e que, de resto, logo se revelou pertinente, é que os públicos com práticas e com preferências culturais mais homogêneas ocupam posições totalmente opostas no espaço sociã~: a homogeneização pode ser o produto da carência cultural e material; inversamente, pod~ · e "naturahser fruto de uma inserção antiga ,. 35 zada" nos âmbitos culturais mais legitimo:· ·d· Erving Em A representação da vida coti wn~ . . , , cte alguns 6offmanJ_ç1la do estilo anstocrnnco - -· ·1 or urna o-rupos sociais q_ue se caractenzaD: P -: _ o ~- . - -·--· . . " . dos os ms ate~Çfü), _UIJ1