Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade do séc. 19
Ensaio filosófico onde Antero de Quental aprecia a orientação das correntes de pensamento suas contemporâneas, como o he
198 57 687KB
Portuguese Pages 66 [60] Year 2014
Polecaj historie
Citation preview
Antero de Quental
TENDÊNCIAS GERAIS DA FILOSOFIA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX
Publicado originalmente em 1889 2014 © Centaur Editions [email protected]
1
A filosofia é eterna como o pensamento humano: mas, porque é eterna como ele, é que é como ele continuamente instável e flutuante, suscetível de progresso e sujeita ao retrocesso, desenvolvendo-se, como todas as coisas vivas, segundo uma linha sinuosa e complicada, que representa ao mesmo tempo a diretriz da força íntima inicial e a ação mais ou menos perturbadora das forças concomitantes que lhe condicionam a expansão. Sempre igual a si mesma, no fundo, mas num fundo envolto, inconsciente e quase impenetrável, é continuamente diversa de si mesma nas suas manifestações, nas afirmações conscientes e sistemáticas do misterioso princípio ideal que forceja por exprimir e que, a cada ensaio de expressão definida, encobre quase tanto quanto revela. Ela representa assim, neste seu fieri incessante, o que há de absoluto no pensamento humano e o que há de relativo na consciência que o pensamento humano tem de si mesmo: uma potência infinita e um ato limitado: o segredo sublime das coisas gaguejado numa linguagem deficiente e bárbara, cheia de lacunas e obscuridades: e esta sua incurável imperfeição é justamente a condição da sua indestrutível vitalidade, da sua fecunda e incansável atividade. A filosofia alimenta-se das suas próprias dúvidas. Duvidar não é só uma maneira de propor os grandes problemas: é já um começo de resolução deles, porque é a dúvida que lhes circunscreve o terreno e que os define: ora, um problema circunscrito e definido é já uma certa verdade adquirida e uma preciosa indicação para muitas outras verdades possíveis. É pela dúvida que a filosofia concebe, é a dúvida que a torna fecunda e a sua relatividade é, afinal, toda a sua razão de ser. Iludem-se então os que procuram a verdade na filosofia? Sim e não. Iludem-se, por certo, se procuram na filosofia a verdade total e definitiva, a fórmula completa, nítida e inalterável da lei suprema das coisas, esse segredo transcendental, que, uma vez conhecido, se isso fosse possível, os tornaria deuses, segundo a expressão bíblica, ou, segundo o nosso modo de ver, os tornaria inertes, ininteligentes, moralmente decrépitos, adormecidos beatificamente à sombra da árvore da ciência. Saber tudo equivaleria a nada saber. Uma filosofia definitiva, feita e assente uma vez para todo o sempre, implicaria a imobilidade do pensamento humano: o absoluto anestesiá-lo-ia. Essa tal verdade, aspiração ingénua de espíritos incultos, pode animar os crentes e exaltar os entusiastas; nos domínios do puro pensamento nunca produzirá
senão vertigem e ilusão. Mas a verdade filosófica, com ser outra, nem por isso deixa de existir e ser verdade. A sua relatividade não implica erro, mas só limitação. É simbólica. Imagem imperfeita da verdade incognoscível, apresenta todavia alguns traços, alguns vagos lineamentos do inatingível original. Não é o absoluto, mas participa da natureza do absoluto e tem em si, como diz o poeta, parte alguma de infinito. O sol, visto através do nevoeiro, é ainda o sol, e as propriedades físicas e químicas da sua luz, diminuídas e alteradas, são todavia as propriedades fundamentais da luz solar. Se nunca o pudéssemos ver senão através desse meio ofuscante, poderíamos ainda assim estudá-lo e conhecê-lo. É assim que cada esboço, cada tentativa de definição da verdade filosófica contém em si, apesar das alterações inerentes ao nosso indissipável nevoeiro, a indicação preciosa dalguma propriedade fundamental da verdade absoluta. O que é então a filosofia? É a equação do pensamento e da realidade, numa dada fase do desenvolvimento daquele e num dado período do conhecimento desta: o equilíbrio momentâneo entre a reflexão e a experiência: a adaptação possível em cada momento histórico (da história da ciência e do pensamento) dos factos conhecidos às ideias diretoras da razão, e a definição correlativa dessas ideias, não por esses factos, mas em vista deles. É por isso que a cada período histórico corresponde a sua filosofia: e, se o espírito humano parece condenado a mover-se dentro de um certo número de fórmulas fixas, de tipos fundamentais de compreensão, sempre os mesmos e como que inquebrantáveis, esses tipos apresentam todavia uma feição particular em cada período histórico, e os sistemas, que os traduzem, repetem-se sem serem idênticos. O idealismo indiano distingue-se do idealismo grego e de ambos se distingue o idealismo germânico: o conceptualismo de Kant não é o conceptualismo de Sócrates, assim como o nous de Anaxágoras se não confunde com o espírito de Descartes, que todavia lhe corresponde, e o atomismo de Demócrito pareceria bem extravagante no nosso século, sem que isso impeça que o nosso século tenha, e muito legitimamente, a sua escola atomística. A razão é, em si, a mesma sempre e em todos os tempos: mas a experiência, em virtude da qual a razão define, coordena e sistematiza as suas conceções, é que varia continuamente. É por isso que, entre os vários sistemas, que em cada idade se repetem, sistemas tipicamente distintos e, ao que parece, irredutíveis entre si, há o que quer que é
comum e como que um ar de família. O espírito da época penetra-os a todos: o génio da raça e da civilização, que os viu nascer, imprimiu em todos igualmente o seu cunho indelével. A Academia e o Pórtico podem combater-se: são todavia irmãos. Entre Plotino e Aristóteles, por exemplo, ou entre Bacon e Leibniz, há certas afinidades, certa obscura concordância, que a crítica filosófica só vagamente logra rastrear, mas que se sentem e são muito reais. Haverá, em cada época, em cada civilização, uma metafísica latente, mais profunda que a que se formula nos diversos sistemas e tão profunda que a todos escapa, mas que influa insentida em todos e de que cada um murmure muito confusamente um vago eco? E estará essa metafísica latente em relação perfeita com o estado íntimo psicológico de cada período da civilização humana, influenciando-se reciprocamente, formando em comum o stratum mais fundo da alma coletiva de cada idade, de tal sorte que as grandes criações espirituais, mergulhando as últimas radículas nessas profundezas, tragam de lá aquele elemento comum, que lhes dá, no meio dos seus mais patentes contrastes, aquela indefinível conformidade? É possível que assim seja. Em todo o caso, neste ponto de vista, que é aliás indiferente à exatidão ou inexatidão das explicações que se possam dar ao facto, os diferentes sistemas têm de ser considerados, dentro de cada período histórico, como os aspetos diversos de uma mesma figura, de que são, entre si, os traços complementares, quero dizer, como momentos e modalidades do espírito geral e total do período. Sem o quererem, completam-se uns aos outros, e é só no conjunto deles que o espírito que anima a idade, o ciclo humano que os produziu, se encontra inteiro e pode ser bem estudado e compreendido. A expressão completa desse espírito seria pois uma teoria geral do universo, que formulasse superiormente, reduzindo-os à sua unidade, todos aqueles pontos de vista parciais, aqueles momentos limitados de compreensão, que cada sistema representa isolada e divergentemente. Seria essa a síntese do pensamento da época e a sua verdadeira filosofia. Será possível tal síntese? Decidi-lo a priori seria talvez arrojo, conquanto a unidade fundamental da razão e os contínuos esforços que faz para se possuir na sua inteireza e simplicidade constituam uma grave presunção no sentido afirmativo. Por outro lado, havemos de reconhecer que a experiência histórica (e o seu testemunho é sem dúvida de grande peso) está longe de ser favorável a esta suposição, antes parece indicar no espírito humano a incapacidade de se elevar tão alto, de reunir num feixe compacto todas as suas conceções, apresentando-o quase como condenado a um certo fracionamento, ou, pelo menos, ao vago e à indeterminação nos pontos verdadeiramente capitais. Mas admitindo ainda que essa síntese por assim dizer
cíclica não seja possível, ou, pelo menos, reconhecendo, pois é um facto, que não o tem sido até hoje, nem por isso é menos evidente o fenómeno histórico de uma convergência gradual dos sistemas uns para os outros, tendência em que se patenteia a invencível necessidade de unidade que há na inteligência humana, e que, se não logrou ainda realizar-se em parte alguma, tem chegado entretanto a produzir quase por toda a parte uma espécie de penetração recíproca das diversas doutrinas, de aproximação dos diferentes pontos de vista, um ecletismo ou um sincretismo mais ou menos sistemático. O sincretismo aparece pois como o possível sucedâneo daquela síntese irrealizável. O cansaço que resulta de discussões intermináveis, em que os contendores não avançam nem recuam um só passo; o aparecimento correlativo do ceticismo, que, ameaçando cada escola, parece ameaçar o próprio pensamento filosófico; o mesmo desenvolvimento de cada sistema, que se complica com o andar do tempo, vindo a perder a nitidez da sua estrutura primitiva; a erudição, que invade gradualmente o terreno da pura especulação e acaba por se lhe substituir em parte; talvez uma surda elaboração geral na região mais funda das ideias metafísicas; finalmente, o espírito prático das multidões não filosofantes, indiferentes às exigências de rigor lógico dos iniciados e às suas subtilezas, mas que precisam de afirmações dogmáticas para a direção da vida e por isso exigem resultados e não disputas: tudo isto concorre, nos últimos tempos de um grande ciclo histórico, para aplanar o terreno entre as escolas, aproximá-las e como que fundi-las no sincretismo. Foi o que se viu nos últimos tempos da civilização antiga, no período alexandrino, quando Pitagóricos, Platónicos, Estoicos e até Peripatéticos se uniram, como que pressentindo a morte próxima, para redigirem em comum o testamento do génio helénico, uma última fórmula, menos nítida mas talvez mais ampla, subtil e profunda, daquele racionalismo idealista, que, juntamente com o humanismo da arte, da poesia e da política, criou o tipo mais belo, mais rico e mais acabado da vida moral dos Árias. Foi ainda o que se viu no declinar da Idade Média, quando Tomás de Aquino, recolhendo a herança de três séculos de meditações e encarniçadas disputas, a herança de Anselmo, de Abeilardo, de Lanfranco, de Alberto, joeirando, por assim dizer, as ideias da complicada Escolástica, formulou na gigantesca Summa, se não uma verdadeira síntese, pelo menos a redução a uma unidade sistemática das tendências das tendências das várias correntes do espírito medieval, mais ou menos confundidas ou harmonizadas no seu sábio ecletismo. Hoje, ao cabo de quatro séculos de elaboração do pensamento moderno, parece dar-se alguma coisa semelhante. Desde a hora genesíaca da Renascença até aos nossos dias, o espírito moderno tem produzido, repetindo a seu modo os ciclos
anteriores, pode dizer-se, todos os grandes sistemas representativos daquelas maneiras fundamentais ou tipos de compreensão, dentro dos quais até hoje a inteligência humana se tem sempre e invariavelmente movido. Foi mais uma vez idealista, espiritualista, panteísta, materialista; e não lhe faltou também o ceticismo comprazendo-se em opor aquelas afirmações dogmáticas umas às outras, para as destruir umas pelas outras e, com elas, a possibilidade de qualquer filosofia. Na esfera das grandes construções sistemáticas, o seu poder criador parece esgotado e extinta, nesse terreno, a sua originalidade. E também de todos os lados o espírito prático, debatendo-se no meio da confusão moral da sociedade contemporânea, aspirando, como no período greco-romano, a uma direção segura, pede mais uma vez aos filósofos resultados e não disputas. A hora do joeiramento das verdades adquiridas, da crítica e coordenação dos diversos pontos de vista e da conciliação dos sistemas parece ter soado para a filosofia moderna. Entre os muitos sintomas, que o indicam, um dos mais frisantes é por certo o gradual enfraquecimento do espírito de sistema, do fanatismo dogmático. Não só se não criam já novos sistemas, verdadeiramente originais e inteiriços, mas todos os homens realmente inteligentes, inclinando-se, como é natural, mais ou menos para certas soluções gerais, forcejam entretanto por se conservarem sempre acessíveis a outras influências, venham elas donde vierem, contanto que sejam racionais. O adepto de uma escola, segundo os velhos moldes, absoluto e intransigente, faz-nos hoje muito proximamente o efeito de uma inteligência acanhada, às vezes quase de um extravagante. Um largo criticismo vai rapidamente substituindo o antigo dogmatismo. Por este lado ainda, tudo indica que somos entrados no que se pode chamar o período alexandrino do pensamento moderno. Até que ponto poderá ir essa conciliação dos sistemas? Haverá afinidades íntimas, que permitam uma penetração recíproca dos pontos de vista tidos por divergentes? Existirá algum princípio de unidade capaz de se impor superiormente e de dar ao todo aquela coesão sistemática sem a qual não há verdadeira filosofia? Numa palavra, caminha-se para uma verdadeira síntese, ou simplesmente para um ecletismo mais ou menos bem ordenado, mais ou menos compreensivo? É a questão a que só a história da filosofia moderna, analisada criticamente nas suas três grandes fases características, pode responder: e essa resposta é que é efetivamente para alguma coisa como uma síntese do pensamento moderno que parece caminhar-se. A história mostra-nos, com efeito, a existência de um substratum de noções
metafísicas comuns a toda a filosofia moderna, que penetram mais ou menos profundamente os diversos sistemas, e não só os sistemas mas ainda todas as criações espirituais dos povos modernos, afeiçoam os seus processos de pensar, inspiram as teorias gerais das suas ciências como determinam as tendências típicas da sua arte, da sua poesia, da sua política, modificam a sua religiosidade, infiltram-se no sentir geral, constituindo por assim dizer a atmosfera intelectual e psicológica do mundo moderno, ao qual dão a sua feição histórica particular e a sua unidade fundamental. Essas noções capitais são as de força, de lei, de imanência ou espontaneidade e de desenvolvimento: quatro palavras que, para o comum da gente, não parecem ter grande significação, porque, sendo já habituais, geralmente não se lhes mede o alcance, mas que representam, tanto em amplitude como em profundeza, a maior revolução intelectual da humanidade. É em virtude destas noções que o pensar moderno se distingue do pensar antigo, e não acidentalmente mas sistematicamente, opondo a um mundo de ideias outro mundo de ideias, a uma direção lógica, outra direção lógica, a pontos de vista fundamentais outros pontos de vista fundamentais, a uma compreensão da natureza íntima das coisas outra compreensão radical e sistematicamente diversa. Se o pensamento antigo se inclinava todo para a abstração e para reduzir o problema do universo a uma espécie de formalismo dialético, o pensamento moderno, pelo contrário, pende para um decidido realismo, pela sua maneira de propor o problema das ideias e de encarar a relação das ideias com o mundo objetivo. Se, no pensamento antigo, a metafísica era quase uma derivação da lógica, no pensamento moderno a lógica é que tende a ser dominada e determinada pela metafísica. Se, para o pensamento antigo, a realidade aparecia como uma emanação do ser em si absoluto e só verdadeiramente existente, para o pensamento moderno é a realidade o fieri incessante de um ser em si só potencialmente existente e que só realizando-se atinge a plenitude. Se, segundo o pensamento antigo, o princípio da energia e propriedades dos seres lhes era exterior e como que neles infundido, e radical a distinção da matéria e da forma, segundo o pensamento moderno matéria e forma são indissolúveis, fundem-se na natureza autónoma dos seres, cujo princípio de energia lhes é próprio, ou antes, constitui a sua mesma essência. Se, para o pensar antigo, o movimento das coisas aparecia como a recorrência, num grande círculo fatal, dos mesmos tipos, inalteráveis e fixos desde toda a eternidade, para o pensar moderno a fórmula desse movimento é uma criação em permanência, a transformação e renovação incessantes. Se a necessidade dos factos aparecia ao pensamento antigo como um decreto superior, imposto aos seres e, porque imposto, determinando-lhes a natureza, essa necessidade aparece ao pensamento moderno como a expressão da mesma natureza dos seres, como a
sua lei, isto é, como a forma adequada da sua espontânea atividade. O pensar antigo via a realidade fracionada num certo número de divisões e categorias, géneros ou espécies, substâncias incomunicáveis e irredutíveis entre si, de tal sorte que cada secção do universo, cada categoria de seres, fechada no seu tipo como numa prisão, se movia eternamente num círculo prescrito, sem influir nem poder ser influída pelas outras: o pensar moderno quebra essas prisões lógicas, faz circular através dos tipos pretendidos irredutíveis uma vida comum, vê na realidade o ato único de uma substância omnímoda, por virtude da qual todos os seres, momentos e modalidades dela, comunicam continuamente entre si, influenciando-se mutuamente, opondo-se e, por essa constante e universal oposição, realizando, não a recíproca anulação, mas a integração de todos os momentos na unidade, cujas diversas potências manifestam. Finalmente, o pensamento antigo fazia do universo uma máquina, cuja estrutura obedecia a um plano preconcebido: o pensamento moderno faz do universo um ser vivo, cuja forma de atividade não obedece senão às tendências espontâneas do seu próprio desenvolvimento. Um levava ao imobilismo, o outro leva ao movimento. Um, para achar a unidade, tinha de a ir buscar fora do universo: o outro encontra a unidade imanente na mesma diversidade. A existência de um conjunto de conceções fundamentais, de que se inspiram, ou, pelo menos, de que partilham todos os sistemas modernos, é pois um facto de evidência histórica. É por elas que se estabelece a linha de demarcação entre o pensamento antigo e o moderno: e este contraste, fazendo sobressair nitidamente os traços característicos de um e doutro, evidencia bem a realidade de um terreno comum, que torna possível a síntese das ideias modernas. Resta ver se essa síntese tende efetivamente a realizar-se. As noções fundamentais do espírito moderno foram propostas, logo ao alvorecer da Renascença, por aqueles seus filósofos-profetas que como que filosofavam por inspiração — Nicolau de Cusa, o precursor de Copérnico, Cardano, Telésio, Agrippa de Nettesheim e Paracelso, os cabalistas, Pomponazzi, Serveto, um pouco depois Jordão Bruno — e quase imediatamente encontraram, para se apoiarem, as memoráveis descobertas da astronomia e da física na segunda metade do século XVI. De facto, a filosofia e a ciência dos modernos têm caminhado sempre de mãos dadas, apoiando-se, inspirando-se e corrigindo-se mutuamente: cada passo para diante no terreno da especulação provoca logo no campo das ciências uma remodelação das suas teorias gerais, assim como a fundação de mais uma ciência, ou simplesmente o levantamento de mais uma secção no edifício de qualquer delas, propondo à especulação um mundo novo
de factos, obriga a filosofia, que tem de os interpretar superiormente, a aprofundar ou definir melhor os seus princípios. No século XVI despontavam apenas as ciências modernas, e o filosofar era mais um sonho genial do que um operar rigoroso e firme do entendimento. A Renascença foi simplesmente a profetiza do espírito novo. Entreviu as ideias fundamentais do período moderno, anunciou-as em frases confusas e entrecortadas como as das sibilas, não lhe foi dado formulá-las. Essas ideias, incubadas nos primórdios da filosofia moderna, só gradualmente se haviam de ir desentranhando, e o formulá-las tinha de ser a obra comum de todas as escolas, obra histórica e coletiva, da qual cada sistema é apenas um fator, cada grande filósofo apenas um obreiro. E é justamente esse caráter coletivo e cíclico que faz com que a filosofia moderna tenha verdadeiramente uma história, isto é, uma unidade de desenvolvimento. É no século XVII, com Descartes, Bacon, Leibniz e Spinosa, com Galileu também e a fundação da física moderna, assim como com o triunfo das ideias de Copérnico sobre o sistema do mundo, o que tudo importava uma revolução enorme na compreensão dos primeiros princípios do movimento e da matéria, é só então que a filosofia moderna começa a tomar verdadeira consistência. O Cartesianismo, considerado de uma maneira geral e no seu valor histórico — e só assim o devemos considerar aqui — não é uma menor afirmação da ideia de força do que a Monadologia de Leibniz. O cogito ergo sum não é somente a carta de alforria da inteligência moderna: estabelecendo a absoluta unidade e autonomia do princípio pensante, estabelece implicitamente a unidade do mundo pensado (que a física cartesiana, reduzindo a matéria à extensão, afirmava ainda por outro lado) e leva forçosamente à conclusão da “identidade do ser e do saber”, assim como à da autonomia de um universo que, análogo no fundo ao espírito, só pelas suas ideias imanentes existe e se governa. Que importa que Descartes, preso ainda pelo sentimento e por uma certa timidez, se não prudência, aos credos tradicionais, não se atrevesse ou não pudesse tirar nítidas as últimas consequências dos seus princípios? Tirou-as Spinosa e o panteísmo saiu do Cartesianismo, necessário e irresistível, apesar dos protestos dos cartesianos amedrontados. A reprovação universal, que então pesou sobre o pobre Spinosa, não impediu que ficasse assente por suas mãos uma das pedras angulares da filosofia do futuro. Por seu lado Leibniz, na Monadologia, fazia da força a essência comum da matéria e do espírito: revolucionava, por certo muito mais profundamente do que supunha, a velha conceção dualista e, com a sua harmonia preestabelecida, reconhecia, embora sob uma forma que o futuro havia de rejeitar, a completa autonomia dos seres, pois outra coisa não significava
afirmar a espontaneidade das energias a que reduzira a sua essência. Espiritualista por um lado, mecanista por outro, reunia no seu pensamento duas tendências que pareciam contraditórias, mas que o futuro há de ir mostrando, à medida que as desembaraçar das fórmulas ainda estreitas do século XVII, que são perfeitamente redutíveis a um princípio comum. A Monadologia é toda ela uma grande afirmação da ideia de lei: essa ideia saía ao mesmo tempo da elaboração das ciências físicas; e, com a dupla autoridade da ciência e da filosofia, penetrava no espírito moderno para nunca mais dele sair. Assim, num período de pouco mais de cem anos, a conceção moderna do universo, vaga ainda e inconsistente no século XVI, alarga-se e adquire estabilidade: alarga-se, com Spinosa, como infinito e imanência: com Galileu, Kepler e Newton, com Descartes, Leibniz e Bacon, torna-se estável como força e lei. A natureza aparecia-lhes já quase como a nós nos aparece. Quase: a fecundála, a dar-lhe plasticidade e vida, faltava ainda alguma coisa à conceção do século XVII: faltava-lhe a ideia de desenvolvimento. Trouxe-a o grande século revolucionário, o século XVIII. Trouxe isso, e trouxe ainda alguma coisa mais. A ideia de desenvolvimento é a consequência e o complemento natural das ideias de força e imanência. Saindo da evolução lógica delas, é o último elo da grande cadeia das conceções modernas fundamentais. Apareceu pois no seu tempo e no seu lugar. Com efeito, se a essência da força é a atividade, a sua existência pressupõe uma série contínua de atos, atos que, sucedendo-se e apoiando-se cada um no anterior e como que envolvendo-o, não podem ser a simples repetição do mesmo ato (pois a repetição do mesmo ato reduz-se, metafisicamente, a um ato único) mas um avanço do posterior relativamente ao anterior, que nele vem contido, um alargamento da esfera de ação da força, isto é, um desenvolvimento. Todo o ser tende para a afirmação de si mesmo, isto é, para a expansão e realização da sua essência. Se essa essência, que exprime a sua mesma existência, lhe é imanente, a sua potência ou virtualidade de expansão e de realização é necessariamente ilimitada, pois no momento em que encontrasse um limite absoluto a essência do ser estaria em contradição consigo mesma: realizar-se, e realizar-se numa sucessão ilimitada de momentos, em que cada um abrange o anterior e por isso compreende mais do que ele, tal é a sua lei. Ainda por este lado chegamos à ideia de desenvolvimento. O universo aparece-nos agora não já somente como o grande ser autónomo e eternamente ativo, mas como o ser de ilimitada e infinita expansão, tirando de si mesmo, da sua inesgotável virtualidade, de momento para momento, criações cada vez mais completas, mais ricas de energia, vida e
expressão, envolvendo-se e desdobrando-se, em voltas cada vez mais largas e sinuosas, na espiral sem termo do seu maravilhoso desenvolvimento. Divino e real ao mesmo tempo, manifesta a si mesmo a sua essência prodigiosa, contempla-se numa infinidade de espelhos e em cada um sob um aspeto diverso, desenrolando a sua eterna existência numa série de panoramas, desde as forças elementares e puramente mecânicas, as mil afinidades da matéria bruta, até ao instinto que sonha, à inteligência que observa e compara, à razão que ordena, ao sentimento que fecunda, até à contemplação e à virtude dos sábios e dos santos. Esta sublime ideia rebenta por todos os lados, do chão fecundo do espírito moderno, na segunda metade do século XVIII. Ela inspira o naturalismo de Diderot, o panteísmo de Lessing, o idealismo de Vico, o deísmo de Herder, assim como o humanismo poético de Goethe e Schiller, anima a paixão revolucionária de Rousseau e faz-se até sentir no seco racionalismo de Voltaire. Por outro lado, sai naturalmente das ciências que então se criam ou recebem forma nova: na química, na geologia, na botânica, na zoologia, a ideia de desenvolvimento evidencia-se por tal modo, que se impõe irresistivelmente às suas teorias fundamentais. E a história, que então começa a aprofundar-se pelo estudo das origens e das instituições, a linguística, que desponta, vêm oferecer mais um ponto de apoio às especulações dos filósofos. Mas, disse eu atrás, o século XVIII, trazendo a ideia de desenvolvimento, trouxe ainda alguma coisa mais. Afirmara-se com efeito a força, a sua imanência e o seu desenvolvimento governado por leis necessárias. Mas a força, em si, o que é? E essas leis, qual é o seu tipo? Se é pela razão que conhecemos uma e outras, que relação há entre essas realidades e as ideias por meio das quais só as percebemos? Serão estas efetivamente adequadas à realidade, e não meras ilusões subjetivas? O que é então conhecer? Qual é a natureza do sujeito pensante, e que grau de confiança devem merecer-nos, no ponto de vista do seu valor representativo, as nossas próprias ideias? Aqui aparece-nos a grande figura de Kant. Kant representa na filosofia moderna um papel muito análogo ao de Sócrates na filosofia antiga. Ao conceptualismo de um corresponde o criticismo do outro. conceptualismo e criticismo foram para ambos o instrumento com que, depois de um período de fecunda elaboração de ideias, mas elaboração como que cega, inspirada por uma absoluta confiança na autoridade da inteligência e dominada pelo mais intemperante dogmatismo, sondaram as bases do conhecimento, pesaram, por assim dizer, uma por uma as faculdades da razão e, parecendo
proscrever toda a especulação metafísica, avigoraram-na de facto, disciplinandoa e abrindo-lhe horizontes novos. Da revisão severa a que ambos submeteram as ideias do seu tempo resultou um deslocamento do terreno da especulação, e esse deslocamento foi, em ambos os casos, um aprofundamento, porque a metafísica, obrigada por eles a refluir para a sua origem, retemperou-se, concentrou-se, e tendo nessa concentração alcançado uma maior intimidade com os seus próprios princípios, uma maior compenetração de si mesma, transportou essa maior capacidade de compreensão e penetração para o mundo objetivo, que, visto a essa luz nova, pareceu ampliado e como que outro. O criticismo de Kant está muito longe de ser simplesmente uma nova forma do ceticismo, como pareceu e parece ainda hoje a muita gente. Não o era na sua intenção e muito menos ainda o é de facto. Nem tão-pouco vai de encontro às tendências metafísicas do pensamento moderno: pelo contrário, submetendo-as a uma verificação rigorosa depura-as e firma-as; sondando a razão nos seus últimos elementos, amplia-as e é, tudo bem considerado, um passo mais no sentido dessas mesmas tendências. O que pretende, com efeito, Kant? Assentar as verdadeiras bases da certeza dos nossos conhecimentos. E essas bases onde as encontra? No espírito e só no espírito. O espírito é pois para Kant, quer ele o saiba ou não, o verdadeiro noumenon, o espírito é o ser tipo, medida de todos os seres, revelação da sua mais íntima natureza. As leis do espírito são as leis do universo na sua forma mais perfeita, e é partindo do espírito que se há de conhecer o mundo objetivo, não partindo do mundo objetivo que se há de conhecer o espírito. Mas quem não vê nesta maneira de propor a questão das ideias uma nova afirmação, e a mais enérgica de todas, da autonomia da força e da sua imanência? O universo, no Kantismo, reflui todo para a consciência e some-se nela, mas para de lá sair transformado, análogo ao espírito ou idêntico com o espírito. O subjetivismo de Kant é pois, ou coisa alguma — a impossibilidade de qualquer conhecimento além do da mesma faculdade de conhecer, neste caso sem objeto — ou então, como o entenderam Fichte, Schelling e Hegel, o reconhecimento da “identidade do ser e do saber”, a generalização do espírito a todo o universo, um idealismo realista, que, ao mesmo tempo que subordina todos os seres às leis da razão, põe a razão e as suas leis latentes em todos os seres, ainda os mais elementares. Sendo isto assim, e não parece que possa ser doutro modo, a crítica de Kant veio, pelo rodeio do ceticismo, confirmar e ampliar prodigiosamente as ideias fundamentais do pensamento moderno, levando-as, pode dizer-se, até às suas últimas conclusões. É necessário distinguir no Kantismo os propósitos do seu autor, o que ele julgava
fazer e provar, e aquilo que realmente fez, o alcance, que em grande parte lhe escapou, das suas próprias ideias. As ideias de um grande pensador, cujo largo âmbito ele raríssimas vezes mede bem, não são o que ele quis ou pretendeu que elas fossem, mas sim aquilo que de facto representam na evolução do pensamento geral a que se ligam. Assim, a verdadeira significação histórica do Kantismo é aquilo que legitimamente saiu dele, o realismo transcendental de Schelling e Hegel. Como de Sócrates saiu Platão, um pitagórico e eleata, mas pitagórico e eleata corrigido e afinado pela subtil dialética do mestre, assim de Kant saíram Schelling e Hegel, repetindo o naturalismo e o panteísmo do período anterior, mas repetindo-os no ponto de vista do novo idealismo implicitamente contido na Crítica da Razão Pura, refundindo-os e apresentandoos com uma fisionomia inteiramente outra. Repetição que é mais ainda do que uma renovação: é alargamento das bases, é aprofundação das ideias mães, é concentração de todos os elementos do ponto de vista até ali dispersos. A nova filosofia fundada sobre a “identidade do ser e do saber” leva as ideias fundamentais do espírito moderno, as ideias de força, de imanência e de desenvolvimento, até ao máximo grau de condensação. Schelling e Hegel fundaram definitivamente a doutrina da evolução, e fundaram-na na mais alta região das ideias, donde ela domina todo o pensamento do nosso século. A evolução, vista dessa altura, não é somente o processo mecânico e obscuro da realidade: é o próprio processo dialético do ser, tem as suas raízes, comuns com as raízes da razão, na inconsciente mas fundíssima aspiração da natureza a um fim soberano, a consciência de si mesma, a plenitude do ser e a ideal perfeição. A lei suprema das coisas confunde-se com a sua finalidade e essa finalidade é espiritual. Com Schelling e Hegel a filosofia da natureza compenetra-se dos seus verdadeiros princípios metafísicos: o mecanismo dissolve-se no dinamismo, cujo tipo último é o espírito. O universo, à luz do realismo transcendental dos dois grandes sucessores de Kant, transfigura-se: o seu movimento aparece como uma sucessão e encadeamento de ideias e a sua imanência define-se como a da alma infinita das coisas.
2
O Hegelianismo tinha de ser a última grande explosão do dogmatismo na filosofia moderna. Era inevitável uma reação. E direi mais: essa reação era salutar. As ideias fundamentais do espírito moderno tinham sido afirmadas pelos grandes filósofos alemães do primeiro quartel deste século com uma pujança incomparável: tinham eles escavado o chão do pensamento a uma profundidade enorme, para lhes procurarem alicerces mais firmes: tinham-nas ligado entre si com a cadeia de uma dedução lógica de resistência sem exemplo: tinham-lhes, finalmente, feito abranger, no seu prodigioso circuito, um âmbito igual ao do próprio universo. Todavia aquela gigantesca construção não podia sustentar-se por muito tempo de pé e inteiriça. Se as ideias eram as do espírito moderno, a forma rigidamente sistemática que revestiam é que o não era. Ao espírito moderno repugnam-lhe tais sistemas fechados e inflexíveis. Recebe deles, de mãos abertas, quanto eles podem dar de bom e novo, mas com a condição de os abandonar depois. O realismo, que o penetra, leva-o a identificar-se com os aspetos cambiantes das coisas, a comprazer-se com a linha sinuosa das realidades; e, se não prescinde de modo algum das ideias como fio condutor no labirinto da natureza e até, pelo contrário, o seu naturalismo está todo impregnado de idealismo, não quer todavia que esse fio condutor das ideias se transformem numa pesada cadeia, a tolher-lhe a liberdade dos movimentos. Quer receber as suas inspirações imediatamente da realidade, e que essas inspirações então, por uma lenta e surda elaboração, se transformem em ideias e teorias, de que é, de resto, ávido: mas não quer que ideias e teorias lhe caiam já feitas e concatenadas de nenhum laboratório especial de tais produtos. Quer que a sua filosofia tenha alguma coisa de espontâneo e orgânico, como a mesma natureza que a inspira. Vê-se, afinal, muito mais genuinamente representado por um homem como Goethe, poeta, artista, naturalista, por cima disso viajante e homem do mundo, tendo também uma clara orientação filosófica, mas seguindoa livre e humanamente, do que por um pesado e tenaz construtor de silogismos, sejam embora esses silogismos gigantescos e chame-se Hegel o prodigioso construtor deles. Por tudo isto, já uma reação contra o dogmatismo da filosofia alemã do primeiro quartel deste século era inevitável. Mas havia mais alguma coisa e mais grave. O
apriorismo absoluto da filosofia transcendental, aquela pretensão exorbitante de construir o universo dedutivamente e só com o poder da dialética, e de reduzir todas as esferas do conhecimento a casos particulares das suas fórmulas supremas e inquebrantáveis, pareceu (e devemos dizer que não foi sem razão) um verdadeiro atentado contra as ciências modernas, levantadas, com um labor de três séculos, pedra a pedra, pela paciente observação e pela indução cautelosa. O ilustre Humboldt, esse naturalista enciclopédico, protestava já contra a impertinência daqueles filósofos, que, nas suas cátedras de Iena e Berlim, “pretendiam fazer química sem molharem as pontas dos dedos”. Era efetivamente arrogância excessiva: era pior, era um profundo erro. A ciência é irmã da filosofia, não sua serva. O terreno da especulação está limitado aos primeiros princípios das coisas e à análise das ideias fundamentais: o grande e variado mundo dos factos pertence inteiro à observação, à experiência e à indução. A hipótese, que, geradora da teoria, fecunda a ciência, é por certo filha legítima da especulação: mas a hipótese não se impõe à ciência, alumia-a; nem, em todo o caso, se lhe substitui. É necessário que a observação, governada pelos métodos especiais de cada ciência, confirme a hipótese, para que ela tenha então foros de verdade científica. A hipótese é pois simplesmente o ponto de contacto e de interseção da filosofia com a ciência. É por meio dela que as ideias metafísicas de uma época, as suas noções fundamentais, penetram nas ciências, afeiçoam as suas teorias gerais e lhes fornecem pontos de vista para o seu ulterior desenvolvimento. Outra espécie de influência, influência direta e particular da filosofia nos domínios da ciência, é contra a natureza das coisas, que fez com que filosofia e ciência nascessem no mesmo dia, logo ao alvorecer do pensamento refletido, irmãs e iguais, cada uma com sua feição, seus predicados e sua missão bem definida. A cada ciência, isto é, ao estudo de cada ordem de fenómenos, preside uma ideia fundamental. Pode a filosofia, e é essa uma das suas funções, apropriar-se dessa ideia e de todas elas, para as tornar matéria das suas especulações: mas o desenvolvimento real dessas ideias no mundo dos fenómenos só a ciência o pode seguir e determinar metodicamente, porque só ela tem instrumentos e autoridade para isso. A ciência, a missão de desenhar, com os traços firmes das leis positivas, o quadro do universo na sua variedade e complexidade fenomenal: à filosofia, a missão de interpretar superiormente a significação desse quadro e de descobrir ou tentar descobrir a chave do grande enigma. E quando ousava a “filosofia transcendental” invadir os domínios da ciência e impor ou pretender impor as suas construções dialéticas à observação e à experiência? Exatamente quando as ciências modernas, tomando novo fôlego na
sua carreira três vezes secular, inventariando à pressa as riquezas já adquiridas, viam alargar-se diante da sua ambição um novo e imenso horizonte e se precipitavam naquela direção com a alacridade de quem conta com o triunfo. Aí por 1830, que maravilhoso espetáculo! Um novo período, com efeito, se abria na história das ciências, e abria-o justamente a grande ideia filosófico-científica do século, a ideia de evolução. Ela irrompia, quase ao mesmo tempo, no chão de todas as ciências, desde a astronomia, que, passando da mecânica para a física celeste, e dos movimentos no espaço para as transformações no tempo, se inspirava dela na grande hipótese cosmogónica da condensação da nebulosa primitiva, até à antropologia, a etnografia e a linguística apontando em comum, na história do homem, das suas raças, costumes e línguas, uma série de desenvolvimentos e um progresso, que, por ser muitas vezes tortuoso, não é por isso, no conjunto, menos patente. A física, banindo a velha opinião dos fluidos imponderáveis, encaminhava-se já para a doutrina capital da unidade e correlação das forças físicas e, restaurando a hipótese cartesiana do éter, ia darlhe, ligando-a àquela doutrina, um alcance imprevisto: enquanto a química, não contente com ter surpreendido as afinidades íntimas da matéria, as dominava e como que disciplinava, passando da análise à síntese, e pelas mãos de Berzelius, Dumas, Davy, Gay-Lussac, Liebig, criava corpos, corpos inorgânicos a princípio, mais tarde corpos inorgânicos, demonstrando assim praticamente a circulação, no universo, de uma mesma matéria disfarçada na variedade das formas. Mas é no campo da geologia e das ciências da organização que a renovação intelectual provocada pela ideia de evolução se torna mais evidente. A geologia, depois de Cuvier, Leopoldo de Buch, Alex. de Humboldt, E. de Beaumont, Buckland, Lyell, C. Prévost, encontra a base da sua construção teórica e torna-se essencialmente geogenia, isto é, a ciência de uma evolução: o globo é quase um ser vivo, que se desenvolve. E pela paleontologia, que é um dos seus ramos, liga-se a geologia às ciências da organização, onde a ideia de evolução ia provocar a mais fecunda das revoluções. Os grandes precursores de Darwin, Lamarck e Geoffroy Saint-Hilaire, tinham já aparecido: e se o transformismo se não precisava ainda no rigor das suas leis mecânicas, a teoria estava já todavia esboçada e a famosa discussão, na Academia das Ciências de Paris, entre Cuvier e Saint-Hilaire, revelou ao mundo científico o poder e alcance da nova doutrina. Finalmente, a antropologia transformava-se numa verdadeira ciência natural e começavam a aparecer irrecusáveis os testemunhos das origens animais do homem, enquanto a linguística, na sua subtil análise e caminhando de indução em indução, apontava, na linguagem humana, para um período remoto em que à simplicidade e pobreza extrema das formas de expressão devia corresponder a rudeza primordial do pensamento, todo
dominado ainda pelo instinto. O vasto quadro do universo e da humanidade, desenhado pela mão da ciência, completava-se rapidamente com traços cada vez mais firmes, e uma conceção geral da natureza, animando o quadro, dava-lhe uma expressão não só de vida mas de alta inteligência. As ciências, na segunda metade do século XIX, tendo-se assenhoreado de ideias capitais e fecundíssimas, possuindo métodos próprios e de grande rigor assim como uma lógica sua, a da indução, julgavam achar-se com direito e com força bastante para desenharem esse quadro segundo as suas próprias inspirações. Reconheçamos que era, pelo menos, mal escolhido o momento pela filosofia transcendental para vir impor a essas diligentes e poderosas obreiras os seus planos a priori. Mas não eram só as ciências positivas que repeliam as pretensões da nova metafísica. A história, que durante a primeira metade deste século se tinha apossado de um domínio imenso deixado quase vacante pelos séculos anteriores; que renovara os seus métodos e com esses métodos renovados abrira um largo sulco de luz no tenebroso passado, ressuscitando civilizações esquecidas e interpretando-as com uma lucidez imprevista, com um espírito novo, nas suas instituições, no seu sentir, no seu génio, e estava então representada por homens como Guizot e Thierry, como Niebuhr, Savigny, Boeckh, Bunsen, Movers, Ewald, Voigt, Baur, Ranke, Otfried Müller — para só nomear os mais ilustres; a história protestava contra a imposição das inflexíveis construções, pretendidas históricas, de Hegel e da sua escola. A história tinha encontrado, é certo, nesse seu revolver de tanta poeira humana, leis naturais e leis morais, uma certa regularidade e necessidade na grande trajetória dos factos: mas, ao lado disso, encontrara também alguma coisa que não parecia depender de lei ou necessidade conhecida e que teoria alguma da humanidade, por mais ampla e complexa, lograria nunca prever: tinha encontrado o fortuito. Providência? Acaso? Liberdade humana? Tudo é possível: mas o certo é que estava aí um elemento irredutível à teoria, elemento considerável, de mais a mais, mas ainda que o não fosse, bastante, só pelo facto de existir, para despedaçar os sistemas históricos mais bem construídos e para inibir qualquer espírito reto de se embrenhar no estudo do passado com ideias preconcebidas e sistemáticas. Não há filosofia da história, diziam esses grandes historiadores: ou, se uma filosofia da história é possível, será só pela análise e comparação dos factos, pela inspiração imediata do génio da humanidade, latente nas suas obras, e por uma vasta cadeia de induções, que ela poderá ser estabelecida. As civilizações sucedem-se: mas onde está a necessidade dessa sucessão? Em virtude de que lei é que uma raça virgem aparece, à hora precisa e no lugar marcado, para adir a herança doutra raça que desfalece no caminho da civilização? E os grandes homens, agentes livres no
drama da história, que necessidade os faz nascer no momento aprazado e lhes protege a existência, durante a infância e depois, para que não desapareçam antes de terem cumprido a sua missão? Se Napoleão tivesse morrido em Arcole? Se Alexandre não tivesse contraído uma febre paludosa bordejando nos charcos da Babilónia? Se Paulo, o verdadeiro fundador do Cristianismo, na sua vida errante de operário, nunca tivesse ouvido falar em Jesus de Nazaré? Se os Persas tivessem vencido em Maratona? Se um ciclone tivesse afundado o navio de Colombo no meio do gulf-stream? Se... se... se...? Onde está a necessidade em tudo isto? E todavia, a teia da história é urdida com estes acidentes. Se deles abstrairmos, poderá ainda subsistir uma história, mas por certo tão outra do que é e tem sido, tão essencialmente outra, que nem sequer conseguimos formar uma ideia do que possa ser uma história necessária como o desenvolvimento de um silogismo ou de uma equação. Assim diziam aqueles grandes historiadores, e diziam bem. Hegel, decididamente, não tinha razão. A história não é a metafísica. As ideias metafísicas dominam e penetram a história, não a fazem. Na ordem dos factos, não se pode construir a priori o que não se conheça já a posteriori. Sem direção metafísica não poderá nunca haver verdadeira e superior compreensão da história: mas, com tudo isso, os historiadores continuarão a procurar o encadeamento e a lei real dos factos no estudo crítico dos mesmos factos e deixarão sempre uma larga margem àquele fator — necessário, sem dúvida, como tudo, mas de uma necessidade que escapa à razão, embora provavelmente não esteja fora da razão — a que chamarão, cada um conforme a cambiante filosófica do seu pensamento, Providência, acaso, liberdade, ou simplesmente, o desconhecido. Se a história protestava em nome do que há de não-necessário na ordem dos factos humanos, contra a grande construção hegeliana, protestava contra ela a psicologia em nome da liberdade moral e da consciência. Protesto de significação bem grave! Aquela voz da consciência, obscura e sumida como parece no meio dos mil rumores do mundo, se pôde sempre, e às vezes quase só com um suspiro, fazer cair algemas e derrubar bastilhas seculares, será potente bastante para desmanchar e dissolver os sistemas mais tenazmente entretecidos dos filósofos. Ora a ciência que pretende, escutando às portas da consciência, revelar ao mundo os seus mais íntimos segredos, chama-se a psicologia. É a ciência da alma. Mas o que é a alma? Todos o sentem mais ou menos vagamente, mas ninguém logrou ainda definir com clareza essa misteriosa entidade, nem até dissipar completamente as dúvidas que sempre tem havido a respeito da sua
existência. Não pensavam por certo assim os graves Escoceses, que, durante a segunda metade do século passado, fundaram a mais ilustre entre as escolas da psicologia moderna Reid, Dugald-Stewart e os discípulos destes. Puritanos convictos, excelentes cidadãos, pais de família exemplares, homens de fé ao mesmo tempo que homens de meditação, a alma para eles não era uma hipótese, flutuando ao capricho das argúcias dos sofistas, mas uma realidade, uma suprema realidade, que afirmavam continuamente, tanto na virtude das suas vidas sãs e retas, como nas imortais esperanças de uma outra existência. Professores de uma universidade protestante afamada pela honestidade da sua disciplina intelectual, quiseram pôr um dique à onda de ceticismo, que, depois de Locke e Hume, ameaçava, no seu entender, subverter os bons princípios e, com eles, os bons costumes. A isso mesmo os convidava a sua fé de cristãos e o seu zelo de patriotas. E como eram, ao mesmo tempo, homens de grande saber e espíritos penetrantes e meditativos, resolveram fazer uma ciência dessa voz do próprio sentimento íntimo. Fecharam os livros e interrogaram a consciência. A consciência respondeu-lhes, como era de esperar que respondesse a tais homens, confirmando-os em todos os seus nobres sentimentos, afirmando a existência, autonomia, espiritualidade e imortalidade da alma, afirmando o dever e a liberdade humana. Eram grandes afirmações estas, sem dúvida alguma, mas não bastavam a constituir uma ciência. Responderia com igual clareza a consciência interrogada sobre as diversas faculdades da alma, a sua essência, a sua relação com o corpo a que anda ligada, a origem das ideias, a determinação da vontade pela razão e a conciliação desse determinismo com a liberdade, a raiz da moral, finalmente, e a sua sanção? Infelizmente não respondeu. A psicologia escocesa perdeu-se num dédalo de distinções, divisões e subdivisões, de análises subtis e contraditórias, e o que parecia simples acabou por se tornar extremamente obscuro e duvidoso. A famosa ciência não se constitui e a psicologia escocesa ficou-se afinal numa espécie de metafísica vaga, acanhada e, para tudo dizer, inferior. Não importa. Não se tinha constituído uma ciência da alma e, pelo caminho da observação direta da consciência, resolvido o problema do ser. Mas em face do ceticismo e do sensualismo, um momento triunfantes, em face também do fatalismo das ciências da natureza, que já deixavam adivinhar as suas tendências, e desse outro fatalismo mais sedutor dos sistemas metafísicos, que iam surgir em breve, não foi perdido aquele protesto da consciência. O que ficara líquido, se era pouco comparado com as ambições de uma ciência definitiva do espírito, era ainda assim alguma coisa, era até muito, humana e historicamente falando: era o reconhecimento da unidade e autonomia do eu e daquele fundo sentimento da
sua própria liberdade e íntima dignidade moral, que, sob pena de decadência e degradação, nunca no homem se poderá obliterar. E quem bem considerar talvez encontre que ainda nesta esfera reservada do sentimento íntimo se fazia sentir a influência omnipotente das noções capitais de força e imanência: infiltrando-se, do pensar geral, nessa região profunda, elas teriam, não inspirado, por certo, mas estimulado o sentimento inato da autonomia e da liberdade doeu. Pouco importa que, cientificamente, a psicologia dos Escoceses tivesse um valor só muito relativo: ela representa entretanto um facto histórico considerável, uma grave afirmação da alma moderna reivindicando, por assim dizer, o seu direito sobre si mesma, proclamando-se obreira do seu próprio destino, criadora da sua própria finalidade, espontânea nas suas determinações, e repelindo, como sugestões degradantes, as ideias ainda as mais subtis e engenhosas, que possam entibiar a sua energia moral. Ora, se o sentimento moral não é a filosofia nem se pode substituir à filosofia, é muito certo também que filosofia alguma, que o sentimento moral reprove, poderá prevalecer contra ele. Neste sentido, pode dizer-se que os Escoceses conseguiram o seu fim. Uma grande nação, que acabava de dar ao mundo um exemplo assombroso daquela energia que a paixão do direito inspira e que tem no sentimento moral as suas raízes mais fundas, mas que, esquecendo bem depressa esses ditames do senso íntimo, ébria com a própria força e cega de orgulho, precipitando-se através de terríveis aventuras, caíra afinal sob o peso da reprovação geral e sob o peso maior ainda da sua má consciência, essa grande nação, desnorteada, duvidando de si, duvidando do direito, revoltada ainda, mas já inclinada à contrição, foi buscar às suas plácidas cátedras de Edimburgo e Aberdeen aqueles mestres graves e meditativos e quis fazer deles seus diretores espirituais. Precisava com efeito de uma direção prudente e temperada e de ser aplacado pela voz dos sábios aquele espírito dorido mas sempre inquieto. Servia-lhe, naquela hora de incerteza, o ensinamento humano e calmante dos pensadores da Escócia. Mas como a França, que imita quase sempre, é sempre original na sua maneira de imitar, sucedeu que o discípulo não tomou do mestre senão aquilo que lhe agradou e pareceu convir-lhe. Tinha por outro lado em casa, na tradição do seu grande século XVII, alguma coisa que se parecia um pouco com as doutrinas dos Escoceses e que, em todo o caso, ia bem com elas: tinha Descartes, Malebranche, Fénelon. Misturando uma coisa com a outra, criou aquele produto curioso e bem francês, frágil mas elegante, de pouco peso mas de boa aparência e útil cómodo: o espiritualismo do século XIX. Não desdenhemos todavia desse espiritualismo. A fé filosófica de homens como Royer-Collard, Maine de Biran, Jouffroy, Cousin, Ravaisson, não é para provocar desdéns. Inspirou um grande e
brilhante ciclo literário: amparou milhares de consciências vacilantes, num período de transição cheio de incerteza, de amargos pesares, de inquietas aspirações: criou uma escola de moralistas eloquentes: identificou-se com as causas mais nobres, pugnando pelo direito e pela liberdade dos povos: forneceu o pão do espírito, não só em França mas por toda a Europa latina, a duas gerações por certo não indignas da história. Nada disto é para provocar desdéns. Mas, em suma, esse espiritualismo nunca chegou a ser uma filosofia. Em primeiro lugar, não tem método. Ecletismo para uns, psicologia para outros, ora invocando o processo da análise íntima (os famosos factos de consciência), ora o processo histórico, ficou sempre no estado de tendência, sem poder definir rigorosamente a sua verdadeira direção. Depois, o que é uma filosofia que se concentra toda no estudo do homem moral e numa ontologia de mitos e abstrações realizadas, Deus, a alma, o finito, o infinito? Dir-se-ia que para tais filósofos não existiam corpos, nem natureza, nem leis naturais. O espiritualismo de Descartes, justamente porque era sistemático e porque era de natureza metafísica, levou-o à física, procurando aquela inteligência penetrante encontrar ali a comprovação dos seus princípios transcendentes, e encontrando-a, pois foi um dos fundadores da física moderna. Estes seus pretendidos discípulos, não sendo nem metafísicos nem sistemáticos veem-se condenados a ignorar o universo real, que entregam, como coisa estranha à filosofia, aos homens de ciência, escapando-lhes assim a compreensão e até quase a noção das ideias capitais do espírito moderno. Compreende-se a indiferença ou o desdém com que o espiritualismo da escola de Cousin foi sempre olhado pelos homens da ciência. Nada lhes dizia: era para eles, segundo a expressão de Taine, “uma filosofia literária”. Mas essa psicologia, na qual, a bem dizer, se concentrava isso que os espiritualistas denominavam tão vaga quanto ambiciosamente “ciências filosóficas” (como se todas as ciências não fossem filosóficas, ou houvesse algumas que o fossem mais especialmente), era ela ao menos uma verdadeira ciência? E, supondo a afirmativa, por que razão ainda assim seria ela, essa ciência do mundo tão particular de fenómenos, a reguladora de todos os nossos conhecimentos e a chave da abóbada da filosofia? Mas a psicologia, tal como os espiritualistas a conceberam, nem sequer era uma ciência. O seu método, a análise íntima e imediata, é uma pura ilusão: ninguém pode sentir e estudar ao mesmo tempo cientificamente os próprios sentimentos. E depois, quando pudesse, onde estava a verificação? Como era ela possível? Os famosos “factos de consciência” reduzem-se pois a um certo número de afirmações fundamentais do senso moral ou de operações simples, constantes e frequentes do
entendimento, do sentimento ou da vontade, chão mil vezes trilhado, mil vezes explorado, desde a Antiguidade, por filósofos, moralistas, literatos e poetas, e onde por certo não há descobertas a fazer. Resta a ideologia propriamente dita: mas nesse terreno, que os levaria à metafísica, nunca os espiritualistas ousaram dar um passo. Finalmente, o seu dualismo, em vez de ser, como o de Descartes, preciso e fecundo em aplicações, porque radical e sistemático, é vago e por conseguinte estéril. O seu Deus é um Deus de poetas, não de filósofos. E nem bem de poetas: faltou-lhes, para o fazerem tal, o vigor da imaginação rica e independente, o calor do sentir virgem, a liberdade do grande sonho poético. Por um lado, a religião positiva constrangia-os, obrigava-os a uma prudente reserva: pelo outro, as ciências, pouco crédulas, intimidavam-nos, gelavam-nos. Só puderam produzir um mito de escola e um simples Deus oficial. Quer isto dizer, por conseguinte, que seja de pouco alcance e pouco peso o protesto lavrado pelos espiritualistas, em nome da consciência, contra as tendências fatalistas e o panlogismo da nova filosofia alemã? De modo algum. Para falar em nome da consciência humana lesada, não é necessário ser-se filósofo. Tal protesto, ainda na boca do homem mais rude, deveria sempre ser escutado com respeito. A autoridade das consciências não se pesa na balança das escolas. Para falar em nome do que é essencialmente humano basta ser-se homem. Mas, além disso, esses que erguiam a voz contra as temeridades da nova filosofia alemã eram não só inteligências cultíssimas, mas altos e nobres espíritos muitos deles, carateres retos, homens em quem a humanidade podia bem delegar os seus poderes e achar-se dignamente representada. Tanto bastava e era até já de sobejo. A verdade é que, no fundo desta questão de filósofos, estava uma questão humana, de larga e fundamental importância humana. A metafísica, na sua absorvente dialética, é atreita a esquecer que os indivíduos não são abstrações, simples determinações lógicas de uma ideia, mas seres reais, autónomos, cujo princípio de ação reside nas profundezas da sua própria natureza, constituindo um verdadeiro em si, distinto e irredutível, e não um momento transitório dalguma substância só e verdadeiramente existente na sua vaga universalidade. Pelo menos, tal tem sido sempre a universal afirmação da consciência humana, e não parece que dialética alguma possa destruir no homem este íntimo e enérgico sentimento. Mais do que outro qualquer sistema metafísico, o da nova filosofia alemã, arrastando e como que triturando todos os seres na sua poderosa engrenagem, substituindo à realidade a dialética, parecia anular os indivíduos, fundidos na absoluta unidade do ser-ideia, e suprimir a liberdade como incompatível com a necessidade lógica dos desenvolvimentos desse ser. Por muito profunda que fosse a conceção hegeliana da história, da
política, da ética — e era-o, sem dúvida alguma —, por muito subtis que fossem as suas distinções — e eram-no também —, esta objeção surgia irresistivelmente e, ainda quando não ia até condenar o sistema em globo, apontava em todo o caso para uma lacuna gravíssima, um aleijão de nascença que tornava suspeita a sanidade de todo o organismo. E, torno a dizê-lo, essa objeção não era só filosófica: era humana: daí a sua grande força. Em face dessa necessidade superior dos desenvolvimentos do ser-ideia, substituindo-se nos indivíduos ao seu princípio íntimo de ação, onde ficavam, o que eram o esforço intrépido dos heróis, as lutas secretas da virtude e os seus dolorosos triunfos, a abnegação sublime dos mártires, a renúncia voluntária dos bons e dos justos, onde ficava o dever e a liberdade e toda a nobreza moral que estas duas palavras exprimem? Coisa curiosa, aqui nesta profunda região do senso íntimo e da verdadeira realidade humana, os espiritualistas, pouco filósofos, nada metafísicos, pareciam representar mais genuinamente essas ideias de força e imanência, de que o Hegelianismo é a mais vasta e poderosa sistematização, do que o mesmo Hegel e o seu sistema! Dentro de que limites exatos têm razão os espiritualistas contra a metafísica? É o que logo verei se posso precisar. Mas abre-se aqui uma questão mais vasta. Esse protesto da consciência abrangia não só a filosofia transcendental dos Alemães e, em geral, toda a metafísica sistemática, como, por outro lado, as tendências mecanistas e deterministas das ciências. Era pois uma verdadeira crise do pensamento contemporâneo que se manifestava. Metafísica e ciência, uma pelo caminho da dedução, a outra da indução, chegaram ambas a um resultado, que, aos olhos dos espiritualistas — representantes neste particular, deve reconhecerse, do sentir mais geral da maioria não filosofante mas entretanto pensante — parece pôr em risco as verdades mais caras ao sentimento moral e dever envenenar as mesmas fontes da vida espiritual dos homens. A crise pode exprimir-se por esta antítese: espiritualismo e liberdade, de um lado, mecanismo e determinismo, do outro. Poderá resolver-se esta formidável antítese? E, se não pode, onde fica então aquela síntese do pensamento moderno, que eu atrás não só declarei possível mas até anunciei como altamente provável? Talvez o problema não seja tão difícil como parece à primeira vista. Em todo o caso, antes de entrarmos no coração dele e de nos precipitarmos in medias res, convirá examinar mais de perto a situação presente e ver com que elementos devemos contar. Os dois factos mais consideráveis da história da filosofia na segunda metade do século atual são, por um lado, o descrédito da especulação metafísica sistemática
e das ambiciosas construções a priori, e o consequente predomínio do processo indutivo e do espírito científico; por outro lado, a transformação ou antes visceral renovação do caduco espiritualismo, retemperado no criticismo kantiano e numa psicologia de tendências verdadeiramente científicas. Dois factos do maior alcance. Comecemos pelo primeiro. O descrédito em que caiu o apriorismo, representado sobretudo pela “filosofia transcendental” dos Alemães era justificadíssimo. Já atrás disse o que às suas exorbitantes pretensões opunha tenazmente o espírito científico. Acrescentarei agora que, ainda no campo dos metafísicos, ele provocava, e com razão, vivos protestos. Não está tudo, com efeito, em admitir a “identidade do ser e do saber”, esse como que dogma da moderna metafísica. Para que, em virtude dessa identidade, nos considerássemos autorizados a extrair do saber (a razão), dedutivamente e sem recorrer a outra fonte do conhecimento, o ser (o mundo objetivo), fora ainda necessário que essa razão, que se sabe, se soubesse completamente e com igual segurança e nitidez em todas as suas esferas, de tal sorte que não só visse em si mesma o ser (o que se admitia), mas o visse igualmente claro em todos os seus elementos e na ordem e relações necessárias deles. Ora era isso o que não se admitia. A razão não tem de si mesma esse conhecimento total e infalível. Seria sempre temerário supô-lo; mas a temeridade tomava proporções inauditas em contemporâneos e discípulos de Kant, do homem que, vindo depois de mais de 2500 anos de sondagem filosófica do entendimento e tendo chegado mais ao fundo do que todos os seus antecessores, acabava de mostrar quanta incerteza e quanta ignorância se envolve nesse conhecimento que a razão tem de si própria. A verdade, tudo o atesta, é que a razão só imperfeitissimamente se conhece: com uma certa intimidade, só nos seus elementos fundamentais, nas suas grandes faculdades e noções. E, se ela é a expressão superior do ser, isso mesmo nos leva a crer que, imensa como deve ter sido a sua evolução até esse ponto culminante, estará tão longe daquela região inferior, que é o mundo objetivo (e ainda do subjetivo das sensações, das paixões e dos sentimentos, que para a razão é também objeto), que a noção dos estudos obscuros e rudimentares donde partiu, mas que lhe ficam tanto para trás, se deve ter obliterado e confundido na sua atual consciência superior: da mesma forma, se é lícita a comparação, que um homem adulto só muito vagamente conserva a noção (quando a conserva) das ideias e sentimentos da sua primeira meninice. Evidentemente a metafísica, arrastada no voo da poderosa imaginação poética alemã, extraviara-se e era necessário chamá-la cautelosamente ao bom caminho. Mas este descrédito das grandes construções a priori não significava falta de
confiança no poder e autoridade da razão, nem implicava uma renúncia à especulação e à filosofia. Pelo contrário, pode bem dizer-se que um recrudescimento de espírito filosófico é uma das características da segunda metade do nosso século. Somente, a par com esse recrudescimento, dá-se uma mudança no temperamento da filosofia: de metafísica torna-se científica; de transcendental, realista; de dedutiva, indutiva. Querem-se ideias, mas que as ideias se adaptem o mais perfeitamente possível aos factos, não que pairem, em largo voo, por cima deles. É esta nova tendência que se patenteia na Filosofia Positiva de Auguste Comte, na Filosofia da Evolução de Herbert Spencer, na Lógica de Stuart Mill, no livro Da Inteligência de Taine e noutras obras consideráveis deste tempo. Procura-se chegar à síntese pelo caminho da indução; procura-se até construir a metafísica partindo da experiência só e dos factos. Todos almejam por imprimir à especulação um caráter positivo. E se os filósofos se fazem homens de ciência, os homens de ciência dão-se resolutamente a filosofar. As ciências, no decurso do século atual e particularmente depois de 1830, tendo completado o seu imenso quadro coletivo e senhora cada qual das ideias fundamentais e do método próprio da ordem de fenómenos que estuda, adultas, apoiando-se umas nas outras e cada uma na base prodigiosa de miríades de factos acumulados e classificados, as ciências acharam-se robustas bastante para empreenderem no seu próprio terreno uma larga generalização, concatenando entre si os seus princípios capitais. Ou antes, esta generalização e sistematização dos princípios das ciências fez-se por si e espontaneamente, saiu como que por um processo orgânico do mesmo desenvolvimento do espírito científico chegado à sua idade adulta e tomando plena consciência de si mesmo. Brotou assim, do chão das ciências, como seu espontâneo produto, uma filosofia da natureza bem diversa daquela a que os metafísicos nos tinham acostumado. Se na outra circulava um sopro de idealismo, que tudo penetrava e vivificava, nesta o realismo é o caráter dominante, é a sua mesma alma. Filha da ciência, reproduz as feições da sua austera mãe. Dessas feições a mais fundamental é o mecanismo. A ciência é levada, pela mesma natureza das faculdades que a geram, a procurar os elementos irredutíveis dos fenómenos complexos, decompondo a aparência enganosa das coisas e resolvendo-a em factos últimos, os únicos que podem ser apreciados com rigor, até ao ponto de entrarem em fórmulas matemáticas, expressão completa da perfeição científica. Explica pois o complexo pelo simples. Mas esses factos últimos, justamente porque foram despojados das qualidades
segundas que revestem os fenómenos, caem completa e exclusivamente no domínio da mecânica. O resíduo objetivo de toda a sensação é sempre, em última análise, um movimento: os factos últimos da ciência são pois simples movimentos, forças elementares, nada mais. Tal é a razão da inevitável tendência mecanista da ciência, tendência que uma filosofia científica da natureza não podia deixar de reproduzir. Mas do mecanismo sai necessariamente o determinismo, e é essa com efeito a segunda feição característica que a nova filosofia da natureza herdou da ciência, sua mãe. O mundo da mecânica é o mundo da necessidade. Reina ali, de uma maneira absoluta, o princípio da causalidade mecânica. Não se concebe movimento que não tenha atrás de si outro movimento: nenhum se cria, assim como nenhum se destrói. Uma ação é provocada por outra e a sua intensidade é medida pela intensidade da que a provocou. Tudo ali se passa segundo leis simples e férreas, nem há lá lugar para o acaso ou a Providência, assim como o não há para a espontaneidade: uma série de factos chama outra série de factos, e os fenómenos sucedem-se numa ordem invariável e fatal, ordem que por isso mesmo pode ser rigorosamente conhecida, descrita e prevista. A precisão da ciência funda-se nesta âncora, e uma filosofia científica da natureza tinha de ser determinista, pela mesma razão por que tinha de ser mecanista. Se os factos últimos a que a ciência chega, como ao seu fundo alicerce, são simples e uniformes, os fenómenos que deles resultam é que são todavia complexos e variadíssimos. Mas esse mundo fenomenal, múltiplo nos seus aspetos, é ao mesmo tempo regular. Os fenómenos apresentam-se em séries, e estas conservam-se entre si numa ordem determinada. As séries encadeiam-se e sucedem-se, saindo cada uma da anterior e apoiando-se nela. O mais simples precede o mais complexo, este é uma transformação daquele. A forma geral do universo é pois a de uma evolução. As ciências, na sua série hierárquica, desde a matemática até à sociologia, representam abstratamente essa evolução e, como um espelho, refletem a ordem e desenvolvimento do mundo fenomenal. Uma filosofia científica da natureza tinha pois de ser uma filosofia evolucionista, e é esta com efeito a terceira feição característica da grande generalização científica dos nossos dias. Mas há duas maneiras de compreender a evolução. A dos metafísicos alemães caminhava sim do simples para o complexo, mas ajuntando, em cada momento da evolução, ao tipo inferior, para o fazer passar a superior, um elemento novo, um aumento de ser, que lhe provinha da virtualidade infinita da ideia (da substância) no seu processo de desenvolvimento. A evolução tinha pois, segundo eles, um conteúdo verdadeiro, era essencialmente substancial. Para a filosofia científica da natureza, porém, não há tal virtualidade, visto não
haver tal ideia. O seu ponto de partida não é nenhuma substância metafisicamente concebida e previamente dotada de um poder de renovação incessante de si mesma nas suas manifestações, mas sim só aqueles factos últimos da ciência, elementos mecânicos simples, nada contendo em si além da sua mesma natureza mecânica e por isso destituídos de toda a virtualidade. Ela tem pois, fiel mais uma vez ao espírito da ciência, de explicar o superior pelo inferior, o que equivale, no fundo, a reduzir o superior ao inferior, e de conceber o complexo como resultando puramente de uma acumulação de simples, o que equivale ainda a admitir que o mesmo ajuntado ao mesmo produz o diverso. A evolução, neste ponto de vista, é propriamente um estado progressivo de complicação e nada mais. É, por conseguinte, só formal. No fundo, a evolução, segundo a filosofia científica da natureza, é uma aparência e nada contém em si de substancial: o substancial e o verdadeiramente existente são só aqueles elementos mecânicos de que tudo é feito, em que tudo se resolve e cuja complicação gera a fantasmagoria do mundo fenomenal. Arrastados nas espirais sem termo de um turbilhão incessante, esses elementos chocam-se, reagem, agregam-se e desagregam-se, encadeiam os seus movimentos, combinam-se mais e mais: mas, considerados em si mesmos, conservam-se sempre simples, uniformes, inalteráveis e estranhos, por assim dizer, à diversidade e riqueza de aspetos que produzem, diversidade e riqueza que só são tais no espírito de quem as contempla, em si não existentes, puro fenómeno. Reduzido assim a uma ilusão subjetiva o que dava à evolução a sua substancialidade, excluído qualquer aumento de ser, qualquer superioridade verdadeira, o universo, agregado uniforme regido por leis matemáticas, dissolve-se numa vasta mecânica de forças elementares. Esta conceção do universo, resultado da elaboração científica de quatro séculos, aparece-nos como alguma coisa simples e grandiosa e, ao mesmo tempo, tenebrosa e desolada. É imensa e todavia falta-nos o ar. É que esta conceção não é o produto harmónico de todas as faculdades do espírito humano, mas somente o produto especial de certas. O que lhe falta é o que falta à inteligência científica. A inteligência científica, sendo positiva, tem de se colocar, e sem nunca sair dele, no terreno dos factos; sendo precisa, tem de ir procurar debaixo dos fenómenos complexos e cambiantes aqueles elementos irredutíveis e constantes, os únicos suscetíveis de avaliação rigorosa; sendo realista tem de aceitar esses elementos tais como se lhe apresentam, sem indagar se nessa ideia imediata que deles forma não haverá porventura alguma grande ilusão, se ela não envolve algum fundo problema ontológico, que lhe escapa. Desta sua atitude em face da realidade resulta um ponto de vista limitado, o que quer dizer incompleto. É a
experiência no seu máximo de organização, mas é sempre a experiência. A base do seu edifício é estreita: generaliza impressões e delas tira inferências, mas os resultados mais elaborados desse processo lá trazem sempre o cunho da origem, que é sensual. Daí o ponto de vista por excelência sensual, o do mecanismo. O mecanismo é o máximo grau de abstração de que a inteligência é capaz dentro dos limites e com os dados da sensibilidade, mas é só isso. Reduzindo tudo, por este processo, a elementos mecânicos, reduziu tudo aos elementos primitivos da sensibilidade e nada mais. Limitou por conseguinte o ser à sua esfera primeira e inferior. Por mais que faça e quanto mais fizer é só isso o que há de achar no fundo do seu formidável cadinho. O universo da ciência, feito à imagem dessa inteligência que opera só sobre dados primitivos e elementares, é pois um universo inferior e elementar: foi como que amputado dos seus órgãos mais nobres. É, pela mesma razão, um universo abstrato. A verdadeira realidade, concreta, viva, espontânea, falta-lhe: faltam-lhe as ideias superiores, as que alumiam, interpretando-as, as inferiores, as fornecidas pela sensibilidade. É por isso que as grandes explicações da ciência, no fundo nada explicam. Um profundo mistério continua a envolver o universo que ela acaba de explicar: o mistério das ideias, que é o mistério do que na consciência está para além da sensibilidade, região obscura onde assentam essas explicações. Assim como o movimento, a que tudo reduz, é um movimento sem causa e sem fim, e a necessidade, a que tudo submete, é destituída de razão e incompreensível, assim também a evolução, em cuja espiral faz mover-se esse mundo cego e fatal, privada de verdadeira substância, explicando o concreto pelo simples e reduzindo o superior ao inferior, não tem realidade própria e é, no fundo, uma aparência vã e uma pura ilusão subjetiva. De tudo isto resulta uma conceção das coisas extremamente precisa, mas limitada à esfera inferior do ser e por isso abstrata e inexpressiva. Daí o que quer que é de glaciar e morto na sua lucidez. É um universo que se move nas trevas, sem saber porquê nem para onde. Não o alumia a luz das ideias, não lhe dá vida a circulação do espírito. Paira sobre ele um mudo fatalismo. A inerte serenidade, que inspira a sua contemplação, é muito semelhante ao desespero. A sua beleza puramente geométrica tem alguma coisa de sinistro. Nada nos diz ao coração, nada que responda às mais ardentes aspirações do nosso sentimento moral. Para quê, um tal universo? e para quê, viver nele? Nada alimenta tanto o mórbido pessimismo dos nossos dias como este gélido fatalismo soprado pela ciência sobre o coração do homem. Esta desoladora impressão quão bem a exprimiu o poeta das Quimeras nestes versos admiráveis:
Dieu n’est plus! Tout est mort! J’ai parcouru les mondes, Et j’ai perdu mon vol dans leurs chemins lactés, Aussi loin que la vie, en ses veines fécondes, Répand des sables d’or et des flots argentés:
Partout le sol désert côtoyé par des ondes, Des tourbillons confus d’océans agités... Un souffle vague émeut les sphères vagabondes, Mais nul esprit n’existe en ces immensités.
En cherchant l’œil de Dieu, je n’ai vu qu’une orbite Vaste, noire et sans fond, d’où la nuit qui l’habite Rayonne sur le monde et s’épaissit toujours;
Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, Seuil de l’ancien chaos dont le néant est l’ombre, Spirale engloutissant les mondes et les jours!
Nesse abismo, “onde se engolfam os mundos e os dias”, quantos hoje, desesperando das divinas promessas da voz interior, que tudo parece contradizer, não desejam afundar-se e sumir-se, esquivando-se à cadeia fatal dos seres e
fugindo para sempre ao fantasma gigante da necessidade e às suas férreas leis!
Mais si rien ne répond, dans l'immense étendue, Que le stérile écho de l’éternel désir, Adieu, déserts où l’âme ouvre une aile éperdue! Adieu, songe sublime, impossible à saisir!
Et toi, divine Mort, où tout rentre et s’efface, Accueille tes enfants dans ton sein étoilé; Affranchis-nous du temps, du nombre et de l’espace, Et rends-nous le repos que la vie a troublé.
(Leconte de Lislè)
É pois um erro, uma ilusão monstruosa esta conceção mecânica do universo, que resulta da grande síntese científica dos últimos 40 anos? De modo algum. É uma verdade fundamental, mas circunscrita, positiva dentro dos seus limites, mas incompleta na medida da estreiteza desses limites. Já vimos que estes são os da mesma inteligência científica. E assim como os dados empíricos sobre que opera a inteligência científica são o substratum sobre que assentam as mais altas operações da razão, assim a sua conceção mecânica será o substratum do conhecimento racional do universo. Esse quadro rígido do mecanismo universal exprime a dinâmica das coisas no que ela tem de exterior e abstrato, por isso mesmo de simples e fixo. É necessário, porque é elementar: e, porque é elementar, é incompleto. Mas, em si, sendo a fórmula definitiva da experiência, é verdadeiro, e verdade alguma superior pode prescindir dos dados positivos por
ele fornecidos. Tal como é, representa um resultado enorme: a síntese do espírito moderno no terreno do conhecimento científico. Outros elementos do mesmo espírito, que aqui faltam e que, pela própria natureza das coisas, aqui deviam faltar, mas que abundam noutra esfera, virão ampliá-lo, fecundá-lo, alumiá-lo com a penetrante luz transcendental, que necessariamente lhe falece. Mas antes de vermos como isso pode realizar-se, viremo-nos agora para o outro grande facto filosófico contemporâneo acima indicado, a transformação do velho espiritualismo.
3
Em face dos resultados positivos das ciências, da constituição de uma psicologia de orientação bem diversa da dos Escoceses e, sobretudo, do trabalho de exploração e sondagem intelectual do criticismo, que, depois de Kant, tomara uma atividade e direção novas, o velho espiritualismo, ao qual sem desacato ousaremos chamar mitológico, não podia manter-se. O seu dualismo, renovado de Descartes, tornara-se, no tocante à sua conceção da matéria, insustentável perante a física moderna: no outro pólo desse dualismo, o seu Deus real e pessoal, abalado pelas ciências da natureza, caía às mãos do criticismo, que não podia ver nele mais do que uma ideia pura a “categoria do ideal”, segundo Kant e o tipo da vida espiritual. A mesma análise despojava a alma daquela personalidade realista, com que só a imaginação primitiva a dotara, e que os espiritualistas apenas subtilizavam e refinavam, mantendo-a no fundo, quando definiam a alma como uma substância sui generis, um ser espiritual oposto a um ser material e só momentaneamente (e incompreensivelmente) a ele ligado. O criticismo, porém, assim como a nova psicologia não podiam ver na alma essa substância de natureza excepcionalíssima e todavia real, mas apenas a unidade, quando não simplesmente a soma dos factos íntimos da consciência. O influxo do Kantismo é bem sensível em todo este processo de dissolução do velho espiritualismo. E o seu subjetivismo e a sua inexorável análise que deitam abaixo, como pulverizado, o realismo dogmático em que se apoiavam as substâncias e os princípios dos novos escolásticos. Todas essas entidades fantásticas são reduzidas a um facto único, a uma única realidade: a consciência. Através da poeira de muitas discussões, creio que é este o resultado líquido da evolução da psicologia e do criticismo nos últimos quarenta anos. Desfeitos assim os mitos em que se consubstanciara, caiu pois aniquilado o espiritualismo? Não caiu. Sofreu uma crise profunda, mas saiu dela renovado e mais sólido. A consciência, que aquela névoa mitológica obscurecia envolvendoa, apareceu mais nítida: reduzida a um facto íntimo, esse facto ficou inabalável e soberano. A dificuldade capital, que surgia irresistivelmente da conceção realista da alma a união incompreensível de duas substâncias radicalmente diversas e a dependência em que a alma está do organismo essa dificuldade desapareceu com aquela personificação, que a gerara. Neste novo terreno, assim limpo da antiga vegetação parasita, a realidade e autonomia do espírito não oferecem já lado
algum vulnerável, tanto faz ao ceticismo como ao materialismo. Ao ceticismo opõe a nova doutrina espiritualista o testemunho da consciência, e não precisa de mais. Ao materialismo opõe a impossibilidade racional de fazer sair da matéria, não se diz já uma ideia ou uma volição, mas o facto de consciência o mais elementar, uma simples sensação. A acumulação de extensão não pode dar senão extensão: a acumulação de movimento não pode dar senão movimento. Do mesmo não se pode extrair senão o mesmo, nunca o diverso. Ora, na mais elementar sensação há já implicada alguma coisa que não é a extensão nem o movimento, que não é, por conseguinte, matéria. Assim pois, não só é impossível extrair da noção de matéria (extensão e movimento) a noção de espírito, mas o mesmo ponto de partida do materialismo, a sensação, que ele toma confiadamente na sua forma concreta, como se fosse um dado simples e irredutível, pressupõe e envolve um estado mais íntimo e profundo do ser, pressupõe essa realidade de ordem e compreensão superior, que é o espírito. Neste sentido, o materialismo pode dizer-se a confirmação e até o melhor argumento do espiritualismo. Laplace, numa página justamente célebre do seu Ensaio Filosófico sobre as Probabilidades, exprime-se assim: “Os acontecimentos atuais têm, com os precedentes, uma ligação fundada sobre este princípio evidente: coisa alguma pode começar de ser, sem uma causa que a produza. Este axioma aplica-se às ações ainda as mais indiferentes. A vontade a mais livre não pode dar-lhes nascimento sem um motivo determinante; porquanto, sendo todas as circunstâncias de duas posições exatamente as mesmas, se a vontade atuasse num caso e no outro se abstivesse de atuar, a sua determinação seria um efeito sem causa. A opinião contrária é uma ilusão do espírito, que, perdendo de vista as razões fugitivas da determinação da vontade nas coisas indiferentes, acaba por se persuadir de que ela se determinou por si mesma e sem motivos. Devemos pois encarar o estado presente do universo como o efeito do seu estado anterior e como a causa daquele que se lhe há de seguir. Uma inteligência, que, num momento dado, conhecesse todas as forças que animam a natureza, e a situação respetiva dos seres que a compõem, se além disso fosse assaz poderosa para submeter esses dados à análise, abrangeria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os dos átomos os mais ténues: nada para ela seria incerto, e futuro como passado seria a seus olhos presente. O espírito humano oferece na perfeição que conseguiu dar à astronomia um leve esboço desta inteligência. As suas descobertas em mecânica e em geometria, conjuntamente com a da gravidade, tornaram-lhe possível compreender nas mesmas expressões analíticas os estados passados e futuros do sistema do
mundo. Aplicando o mesmo método a outros objetos dos seus conhecimentos, conseguiu reduzir a leis gerais os fenómenos observados, e prever aqueles que em dadas circunstâncias se devem produzir. Todos os seus esforços na pesquisa da verdade tendem a aproximá-lo sem cessar da inteligência que acabamos de conceber, mas da qual ficará sempre infinitamente afastado. Esta tendência racional da espécie humana é o que a torna superior aos animais; e os seus progressos neste género distinguem as nações e os séculos e fundam a sua verdadeira glória”. O ilustre matemático e astrónomo, definindo admiravelmente nesta página o ideal e a mais alta potência do conhecimento mecânico, marcou ao mesmo tempo, com não menor precisão, a natureza e os limites desse conhecimento. A intensidade, a direção e o encadeamento das forças que num dado momento atuam no universo, eis tudo quanto o mecanismo sabe, ou antes, quanto pode aspirar a saber. Ora nessa prodigiosa cadeia de movimentos matematicamente concatenados, o que o mecanismo ignora e ignorará sempre são as vontades, os pensamentos, os sentimentos, numa palavra, a atividade interna de todos esses seres, elementares ou não elementares, arrastados no giro da causalidade mecânica. Porque caiu esta pedra? Porque a sua energia passou do estado potencial ao de força viva. E porque passou? porque uma energia maior atuou sobre ela, desmanchando o equilíbrio anterior. Mas que relação de verdadeira causalidade há entre um facto e o outro? Porque atua uma força sobre a outra força? Porque gera um movimento outro movimento? Que misteriosa influência é essa dos elementos mecânicos uns sobre os outros? E essa mesma energia, origem dos movimentos, donde provém ela? Há aqui um elemento fundamental e primordial — um facto íntimo do ser — que a mecânica pressupõe, mas que inteiramente desconhece. Desconhecendo-o, tem de ignorar eternamente a relação que existe entre a natureza profunda dos seres e essas energias reais, cujo desenvolvimento as suas fórmulas compreendem e avaliam rigorosamente, mas cuja origem absolutamente lhe escapa. Conhece pois a mecânica os movimentos, mas não a causa do movimento. Conhece as ações dos seres, mas não a atividade interna que as produz. Conhece o universo como série de factos abstratos, não como série de realidades verdadeiramente substanciais. Ora, isso que a mecânica ignora — as verdadeiras causas, o ser íntimo e a realidade substancial das coisas — é justamente o que conhece a consciência. E conhece-o, não pelo mundo, mas por si mesma, porque só nela reside a noção do que não é sensível, mas que o sensível pressupõe, só ela tem a perceção imediata desse estrato mais fundo do ser, inacessível da região superficial da pura
sensibilidade. O espírito, com efeito, não é já para a consciência uma atividade obscura e indeterminada, percebida só por fora, só nas suas relações exteriores, como mero movimento e resistência, mas uma atividade que se percebe no íntimo do seu próprio ser, que mergulha nas profundezas da sua natureza e se possui na totalidade dos seus movimentos: é uma força consciente e na plenitude da sua realidade, a força tipo. Na consciência temos o sentimento claro e evidente de que a nossa verdadeira individualidade é essa energia simples, autónoma e espontânea: sentimos que em esfera alguma do seu ser, ainda nas mais inferiores, em momento algum do seu desenvolvimento, ainda nos mais elementares, o espírito é puramente passivo. A espontaneidade é a sua essência, e ainda as impressões exteriores que o modificam, modificam-no segundo as suas mesmas leis: uma sensação é uma modificação da sua substância, assim como uma ideia é uma modalidade dessa substância, assim como uma volição é uma determinação do seu mesmo ser. O espírito percebe o universo, não adaptando-se a ele, mas adaptando-o a si. O universo, tal como ele se nos representa, é, no fundo, uma criação do espírito: se existe para nós, é porque o concebemos: aparece-nos, não refletido na inteligência, mas verdadeiramente visto nela. Todos os factos do universo acumulados não produzem uma ideia. Os factos são o ponto de partida das ideias, cuja virtualidade está no espírito: em si são inertes e inexpressivos. O que lhes dá expressão e verdadeiro ser é a inteligência, em cujas categorias entram, fundidos pela elaboração mental, como em outros tantos moldes, ordenando-se nelas e por elas. O conhecimento é pois um facto íntimo e próprio do espírito, e o universo conhecido o produto da sua espontânea atividade. E assim como o espírito é espontâneo na esfera do conhecimento, não o é menos na da vontade. Determina-se esta em vista de motivos, mas não a determinam eles. Tem em si a raiz última das suas determinações. Ser causa é a própria essência da vontade. Não há volição, ainda a mais elementar, que seja absolutamente passiva: a determinação da vontade nunca é assimilável à determinação mecânica, porque tem um fim, e esse fim (em última análise) está nela mesma. Por detrás da determinação limitada está uma virtualidade ilimitada. O ser que ali momentaneamente se determina, obedecendo, dir-se-ia passivamente, a um motivo, é, em si, sempre idêntico consigo mesmo, e não há motivo algum, ainda no instante em que o determina, que o possa privar desta comunicação constante com a parte espontânea e infinita da sua natureza e impedi-lo de tender, seja por que caminho for, para a realização do seu fim, que é a plena afirmação dessa natureza infinita. Assim como na esfera das ideias, assim também nesta da vontade o mundo objetivo não fornece ao espírito mais do que um ponto de partida e a ocasião do seu espontâneo desenvolvimento.
O espírito é pois uma força espontânea: mas é, por cima disso, uma força consciente. É esse predicado que vem completar a sua plenitude e fazer dele a força tipo. Conhecendo-se, possui-se na identidade fundamental de todos os seus momentos, vê-se na sua unidade e propõe a si mesmo o seu próprio fim. Este conhecer-se tem graus: é mais ou menos íntimo: mas, ainda nos ínfimos graus, a unidade do espírito aparece já, encerrando o mais elementar a virtualidade do mais pleno. Fazendo-se toda a evolução do espírito dentro da sua própria natureza e não sendo mais do que a gradual realização de si mesmo em si mesmo, há oposição entre as sucessivas esferas do seu desenvolvimento, nunca contradição. É assim que o espírito, sem sair de si, se cria e fecunda continuamente, compenetrando-se cada vez mais com a sua própria essência, extraindo dela, da sua infinita virtualidade, momentos cada vez mais complexos e ricos de ser, até atingir a mais alta consciência de si. Reconhece-se então idêntico com o eu absoluto e independente de toda a fenomenalidade: concebe Deus como o tipo da sua mesma plenitude, concebe e sente a vida moral como a esfera da realização desse ideal. A realização desse ideal aparece-lhe agora como o seu fim último, aquele de que os fins anteriormente propostos, limitados e transitórios, eram só imagem e preparação. Este fim último, porém, sendo imanente, confunde-se com a perfeição do seu mesmo ser: na atração dele reconhece a causa de toda a sua evolução, que só para realizá-lo tendia. Pela realização dele é livre — livre na medida exata em que o realiza — porque, quanto mais o realiza, mais realiza a potência e a perfeição do seu próprio ser. Reunindo deste modo na sua unidade, agora consciente a causa e o fim, a sua autonomia é completa. Assim pois, segundo o novo espiritualismo, o espírito define-se como uma força autónoma, que se conhece na sua íntima natureza, que é causa dos seus próprios factos e só às suas próprias leis obedece, que a essas leis submete os factos objetivos e só assim lhes dá significação e realidade, que a si mesma determina o seu próprio fim, que existe em si e em si encontra a sua plenitude. Sendo a força autónoma, consciente e plena, é a força por excelência, a força tipo. O espiritualismo resolve-se pois num dinamismo psíquico, assim como o materialismo da filosofia científica da natureza se resolvera num dinamismo mecânico. Na simples aproximação destes dois termos: dinamismo mecânico e dinamismo psíquico, estão indicadas ao mesmo tempo a posição atual do problema filosófico e a sua resolução. Se a síntese do pensamento moderno é possível, não pode ela realizar-se senão neste terreno do dinamismo, que é justamente o da
ideia moderna fundamental, a ideia de força. Partindo de pólos opostos e seguindo cada qual as suas naturais tendências, ciência e especulação vêm encontrar-se num mesmo ponto. Para uma como para a outra, o verdadeiro ser, a causa e substância deste complicado mundo de aparências é essencialmente força: um sistema de forças é em que, para ambas, se resolve toda a realidade. Somente, enquanto para a ciência essas forças são abstratas, cegas e passivas, são elas para a especulação concretas, racionais e espontâneas. Por conseguinte: forças imperfeitas num caso, perfeitas no outro. Ora, como é a força perfeita que é o tipo da força imperfeita, é esta naturalmente que tem de ser explicada por aquela: é a forma superior do ser, que fará compreender a inferior, e não o inverso. O dinamismo psíquico será pois a chave do dinamismo mecânico. O espiritualismo dará ao materialismo o que lhe falta, completando-se, por esta insuflação do espírito na matéria, a compreensão ao mesmo tempo positiva e especulativa do universo. Esta especulação da essência oculta do mundo fenomenal pela essência do espírito, patente na consciência, é perfeitamente legítima. Não é uma generalização arbitrária, ou apenas mais ou menos plausível, mas a forma rigorosa e completa do processo necessário de indução, que resulta da mesma constituição do nosso entendimento. Pensar sobre o mundo é já supor nele alguma coisa de fundamentalmente análogo aos princípios da razão, é supô-lo racional. Ora, esta suposição implica a da identidade fundamental do objeto e do sujeito. Suposição também: é verdade; mas suposição necessária, absolutamente irresistível, sem a qual não haveria pensamento possível sobre a realidade, nem propriamente haveria realidade, e que por isso se não deve considerar como um problema (o famoso problema da certeza), mas como um facto último, irredutível e como tal, expressão da mesma natureza das coisas. O “problema da certeza” não é propriamente problema, porque consiste em procurar a demonstração categórica de um facto primordial, que é indemonstrável no terreno da dialética, mas que na espontaneidade da consciência tem o caráter da evidência. O puro subjetivismo de Kant, já atrás o disse, ou é nada, sendo meramente negativo, ou então envolve, como Fichte, Schelling e Hegel o entenderam, a afirmação e o que se poderia chamar a demonstração imediata e intuitiva da “identidade do ser e do saber”. Essa demonstração está contida no mesmo ato do pensamento, e é quanto basta. Mas, se pensar é afirmar a racionalidade do universo, e se, por outro lado, a razão está contida na unidade do espírito e é dela indissolúvel como o ato é indissolúvel da sua substância a racionalidade do universo pressupõe necessariamente uma semelhante unidade. A razão do universo pressupõe por conseguinte uma substância de que seja ato, e
essa substância não pode ser concebida senão como fundamentalmente análoga ao espírito. Vê-se pois que, se é legítimo o emprego dos princípios da razão como medida do mundo objetivo, tem de sê-lo igualmente a generalização das noções do nosso ser íntimo, isto é, dos elementos fundamentais do espírito tomado na sua unidade, como processo de interpretação da substância oculta desse mesmo mundo. Aquele misterioso noumenon, que Kant procurou em vão pelo caminho da crítica e declarou inatingível, existe em nós mesmos, contém-se no espírito, ou antes, é o próprio espírito. Será pois com a segurança da mais bem fundada indução e na região mais alta em que o processo indutivo pode ser empregado, que a síntese do pensamento moderno partirá do conhecimento do espírito para o conhecimento do verdadeiro ser dessa aparência fenomenal, que a conceção científica apenas deixa ver pelo seu lado exterior e mecânico. Voltamos então, por este caminho, ao idealismo transcendental e ao método de construção da filosofia alemã do princípio do século? Não voltamos. A crítica desse método está feita, e tão bem feita que não é crível que o apriorismo possa ainda seduzir mais uma vez o pensamento moderno. Atrás deixei já expostos os principais argumentos dessa crítica. Em todo o caso, o processo indicado nas tendências do espiritualismo renovado e do neokantismo, que acima tentei esboçar, bem longe de ser uma volta ao apriorismo transcendental, procede justamente da reação do criticismo que o condenou. Em primeiro lugar, esse processo, como há pouco disse, é essencialmente indutivo; e, dada a natureza sui generis do problema da certeza, isto é, dada a constituição do entendimento humano, essa indução é não só legítima, mas necessária. Em segundo lugar, essa indução, não sendo mais do que uma indicação geral, não pode substituir uma construção puramente especulativa aos factos da experiência: tem, pelo contrário, de se deixar guiar por esses factos, recebendo-os na ordem e relações em que a experiência, na sua forma sistemática e definitiva, isto é, a ciência, os apresenta. Resulta de tudo isto que este processo constitui propriamente uma interpretação da realidade no ponto de vista do espírito, e nada mais. O universo não é criado pela especulação: é anterior a ela e é a experiência que lho fornece; mas fornece-lho como um símbolo obscuro que ela, a especulação, tem de interpretar à luz das noções da consciência. Assim como só a consciência explica a sensação, ponto de partida da ciência, assim também só o espiritualismo, que parte da consciência, pode explicar a conceção mecânica do universo, último resultado da elaboração científica. A metafísica e a ciência não são pois rivais, mas colaboradoras na obra do conhecimento, e a conceção metafísica e a científica não devem ser representadas como duas esferas opostas, mas como dois círculos concêntricos. Finalmente, e como consequência do que fica dito, só
este processo tem o caráter do verdadeiro realismo: ele constitui o saber total, ao mesmo tempo positivo e metafísico, experimental e especulativo, tomando o ser na sua unidade, da qual o espírito só arbitrária e violentamente pode ser amputado, e na ordem de desenvolvimento dos seus momentos, dos quais o espírito é o superior e típico. Temos pois conhecido já o terreno da síntese do pensamento moderno, o dinamismo, e o processo adequado à realização dela, a interpretação do mecanismo pelo psiquismo. Ora, o ponto nodal dessa síntese (já por certo o leitor o percebeu) é aquela formidável antítese determinismo-liberdade, que atrás indiquei ao esboçar a situação atual do problema filosófico. Mas esta antítese, considerando-se bem, está longe de ser tão formidável como parece à primeira vista, e o que já ficou dito da verdadeira natureza do espírito faz pressentir o sentido da solução. O que vimos nós, com efeito? Vimos, em primeiro lugar, que a noção de espírito envolve as de força e de causa e vimos, em seguida, que esta força-causa é aquele tipo de força, do qual, no ponto de vista sintético a que somos chegados, temos de induzir a natureza íntima de todas as forças, ainda as mais elementares e, na aparência, mais completamente passivas. Por outras palavras: se todas as forças do universo são, no fundo, análogas ao espírito (à força-espírito) e participantes, em grau mais ou menos pleno, da sua essência, todas elas, sem exceção, têm de ser concebidas como essencialmente forçascausas. Ora dizer força-causa é dizer força cujas determinações partem radicalmente da sua mesma natureza e têm, para dentro da esfera dos motivos externos, aparentes e mecânicos, por verdadeiros motivos estados íntimos. É dizer, por conseguinte, força espontânea. É pois no terreno da ideia de espontaneidade que se resolve a antítese determinismo-liberdade. Não há ser totalmente passivo e em cujos atos se não envolva algum elemento, por ínfimo que seja, da sua natureza absoluta: não há ser completamente determinado por outro e reduzido a uma mera forma sem essência. Palpita em tudo uma vontade própria, a vontade de realizar o próprio fim. Há pois alguma coisa de espontâneo e um acordo do ser com a sua verdade profunda e com a sua infinita virtualidade ainda nos fenómenos mais elementares da matéria, onde o determinismo mecânico parece triunfar. Ainda aí se mantém aquela comunicação do ato com a virtualidade e, no grau ínfimo do ser, se entrevê a ideia e o fim soberano. A pedra que cai para o centro da terra, a molécula que se une a outra molécula, a gota de água que se vaporiza, o vapor que se condensa, não obedecem passivamente às condições que determinam essas formas de atividade, porque não são as condições que criam essa atividade em si mesma, nem ainda modalidade alguma dela, mas é a natureza autónoma dos seres que, em dadas
condições, produz aquela forma de atividade que a elas corresponde, e está de acordo com as condições justamente porque está de acordo consigo mesma. Por outras palavras: o fenómeno antecedente não cria o consequente, é só condição para que ele se produza. A causa do fenómeno está na mesma natureza do ser onde ele se dá, ou antes, do qual ele é essencial modalidade. A necessidade da determinação é pois interna e a lei, na sua constância, exprime apenas a constância daquele acordo do ser consigo mesmo, que, em idênticas relações, se manifesta por idênticas modalidades. No fundo, o ser, ainda apertado no círculo mais estreito da condicionalidade exterior, é sempre causa: a sua ideia latente, a virtualidade da afirmação plena de si mesmo, que é o seu fim último, vem já envolvida, como um pressentimento, como um sonho obscuro, mas tenacíssimo, nas suas determinações mais elementares. É bem pouco ainda: as condições desse seu infinito desenvolvimento não dispõe delas o ser nessas esferas ínfimas da realidade, não as cria, tirando-as de si mesmo, são-lhe dadas de fora e impostas: a sua espontaneidade tem de se afirmar dentro desses estreitíssimos limites. Esse pouco, porém, é quanto basta para aluir a esmagadora fatalidade do determinismo mecânico e para introduzir no seu mundo tenebroso e passivo um raio de luz e um sopro de vida. Não é ainda a liberdade, no alto sentido espiritual desta palavra: mas é o prenúncio dela e o seu germe. Na espontaneidade inconsciente da matéria está a raiz do que na consciência e na razão se chama verdadeiramente liberdade. A liberdade, no rigoroso sentido da palavra, é pois a espontaneidade quando plena, isto é, quando o ser, não já espontâneo apenas na sua atividade exteriormente condicionada (o que sempre é, como acabamos de ver) o é ainda nessa mesma condicionalidade, criando conscientemente os motivos das suas determinações e criando-os em vista do próprio fim. Neste ponto culminante, o motivo da determinação identifica-se com a essência e o fim do ser que se determina: este, conformando-se com o motivo, conforma-se exclusivamente consigo mesmo. A sua determinação é agora um facto absolutamente seu, é ele mesmo, na plenitude da sua essência, refletindo-se na realidade, é essa essência, substituindo-se a todas as leis exteriores, feita lei única da sua atividade. Agora, quanto mais se determina, mais livre é, porque as suas determinações, motivadas só pelo seu próprio fim, não envolvendo elemento algum estranho à sua substância e tirando dela a sua matéria e a sua forma, são atos perfeitamente adequados à sua potência e outras tantas realizações da sua mesma unidade. Agora, o determinar-se já não é limitar-se; é expandir-se, é desdobrar-se indefinidamente numa íntima atividade, que, criando um mundo seu, se cria ao mesmo tempo com esse mundo. Mais um passo ainda e, nesse estado sublime, o
universo fenomenal desaparece como uma fantasmagoria: a realidade única verdadeira é agora o ato simples de um ser todo ele ideia pura e causa e fim da própria ideia, criador em todos os seus momentos e em cada um deles pleno e uno, como se a sua infinita virtualidade estivesse presente toda inteira em cada uma das suas determinações. Este ser, que está todo em cada um dos seus atos, cuja essência se substitui ao universo e cuja atividade não reconhece outros limites senão as leis da sua própria natureza, realiza por certo o ideal do ser livre. É por isso também que é um ser ideal. Deus, se Deus fosse possível, seria esse ser absolutamente livre. Mas, por isso que não é real, é que é verdadeiro. Ele é o tipo da plenitude do ser, tipo de que a nossa liberdade moral, aquela que com tamanhos esforços conseguimos realizar, é só vaga imagem, longínqua semelhança. Esse ideal da nossa essência, esse eu do nosso eu, último e mais profundo, é o centro de atração de toda a vida espiritual: é na união com ele que nos sentimos livres, livres na medida exata dessa união. Segredo mais íntimo do ser, mas tão sepulto na inconsciência das coisas, não o descobre o mundo: revela-o a consciência e é a razão o seu intérprete soberano. Só pela razão somos verdadeiramente. Por ela se nos torna patente o mistério da nossa íntima atividade e nos conhecemos como força simples, espontânea e criadora das próprias determinações. Na plenitude dessa espontaneidade reconhecemos o nosso verdadeiro fim: ele se substitui, como motivo interno, último e absoluto motivo, aos motivos exteriores. A vontade, condicionada agora só pela sua própria essência, é livre. A lei da causalidade reduziu-se à lei da razão, dessa razão, que, exprimindo a vontade total do nosso ser, é ela mesma o mundo da liberdade. Liberdade, é certo, só virtualmente perfeita. Mas o ato limitado tem a sua raiz nessa virtualidade infinita; e quanto mais pela razão a vontade comunica com essa região profunda e se identifica com o seu fim absoluto, tanto mais rica de elementos de elementos próprios é a sua determinação e tanto mais livre é. Fixando em si esses elementos do seu próprio ideal, esses princípios geradores do seu espontâneo desenvolvimento, este pobre eu que somos, ou parecemos ser, tão estreitamente condicionado pelo organismo, pelos instintos, pelas relações exteriores que o comprimem num círculo fatal, este pobre eu, que assim começa cativo e quase esmagado, transpõe gradualmente esses limites, transborda, por assim dizer, sobre o mundo que o continha, substitui motivos próprios aos motivos alheios, faz-se fim onde era meio e, de particular e limitado, transformase finalmente no que se diria um outro eu, impessoal, absoluto, todo razão e vontade pura. Identificado com o próprio ideal, só agora é ele mesmo. Não concebemos que outra coisa seja ser livre.
A liberdade tem pois graus. Se é só na consciência que a conhecemos, o inconsciente não é todavia absolutamente destituído de razão. Deve pois encontrar-se já nele algum elemento de liberdade, por ínfimo, por diminuto que seja. Entre os dois extremos a distância é enorme, mas não tal que a inteligência não possa transpô-la. Já vimos que a transpõe e por que caminho: não repetiremos o que ficou dito. Chamemos-lhe só espontaneidade, pois assim convém, a esse impulso obscuro que determina os movimentos moleculares, as simples atrações materiais: mas não esqueçamos que esse impulso parte do centro do ser e que a espontaneidade é a própria raiz da liberdade. Assim pois, a distância que vai da vaga espontaneidade da molécula, que vibra na atração ou repulsão doutra molécula, à liberdade do homem que se determina pela razão, não é incomensurável: ela é a medida exata da distância que vai do momento inferior do ser ao superior, da força elementar e abstrata à força complexa e completa. A todas elas, elementares ou complexas, conscientes ou inconscientes, uma mesma vontade as anima: transpor o limite fatal, ascender mais um grau na grande escala da realização da sua infinita virtualidade. Eterno, imoto, absorvente, um mesmo tipo de perfeição e plenitude, só diversamente entrevisto — sonho, pressentimento, ideia pura — é o centro comum de atração de todas as vontades dispersas, de todos os movimentos do universo. A cadeia universal das existências, na sua prodigiosa espiral de espirais, aparece-nos como a ascensão dos seres à liberdade, na qual descobrimos a causa-final de tudo. Assim se dissipa, à luz do espírito, a grande ilusão do mecanismo. Fórmula da perceção elementar, dando só o aspeto abstrato das coisas, reduz-se propriamente ao sistema das condições exteriores da atividade dos seres e à ordem das suas relações formais. Para além desta abstração do mecanismo, está a vida própria dos seres, a sua substância ativa, o mundo das causas efetivas, a razão concreta daquela ordem formal e o fim imanente na espontaneidade das forças. Onde o mecanismo vê transformação de forças, vê a razão correlação de estados, que derivam de energias íntimas e as exprimem como modalidades suas, momentos lógicos do seu desenvolvimento. Tanto basta para que o quadro da realidade desenhado pela filosofia científica da natureza, visto a uma luz nova, nos apareça como que transfigurado. Os traços são os mesmos, a expressão é inteiramente outra. Interpretado pelo espírito, espiritualizou-se. A evolução universal só agora é inteligível: parte de uma verdadeira causa — a virtualidade infinita do ser; dirige-se a um fim — a realização dessa virtualidade, a plenitude e perfeição do ser. A sua lei não é fatal, cega, inexpressiva: análoga à razão, é uma lei racional. Porque é uma razão imanente que preside a esse universal movimento, que se exprime nele, que nele palpita. Uma ideia instintiva lateja surdamente, como
uma pulsação de vida, nesse universo que a ciência mede e pesa, mas não explica: é a aspiração profunda de liberdade, que abala as moles estelares como agita cada uma das suas moléculas, que anima o protoplasma indeciso como dirige a vontade dos seres conscientes. É esse fim soberano, realizado em esferas cada vez mais largas, que torna efetiva a evolução das coisas. Por ele, essa evolução, não já puramente formal e aparente, mas real substancial, é um verdadeiro progresso: cada nova esfera de desenvolvimento traduz um aumento de ser, algum novo elemento, até então só virtual, adicionado agora à realidade, feito forma, ação e lei no universo. Por um gradual desdobramento da sua infinita virtualidade, o ser-causa, imanente nas formas limitadas, junta ao tipo inferior preexistente esse quid novo e diverso, com que produz o tipo superior. Este não o é só formalmente, ou só na ordem de sucessão: é-o substancialmente e em toda a verdade, porque é mais rico de ideia, mais completo de relações e mais livre, porque realiza mais plenamente o fim comum, porque, numa palavra, contém mais ser. É só assim que o concreto pode sair do abstrato, o complexo do simples; não porque o concreto e o complexo sejam, como os representa a abstração materialista, uma mera acumulação de simples e abstrato e já neles se contivessem, mas pela virtude daquele princípio de diversidade e superioridade, desentranhado das profundezas do ser, que se lhe veio juntar a fecundá-los. É pois o tipo superior que explica o inferior: é para aquele que este gravita, é a sua irresistível atração que o faz mover-se, procurando realizar a ideia mais alta que ele representa. A evolução não é apenas uma complicação crescente de forças elementares: é um alargamento de ideias, isto é, de existência verdadeira. E se o ideal supremo, que a tudo atrai, para que tudo gravita, é razão, vontade pura, plena liberdade, a evolução só será perfeitamente compreendida definindo-se como a espiritualização gradual e sistemática do universo. Ei-la pois desfeita, aquela cadeia de elementos cegos, sem vida própria, que a abstração materialista fazia girar sem termo no mesmo círculo fatal. Compreendida a necessidade como lei e a lei como a expressão do desenvolvimento íntimo e espontâneo dos seres, reconhece-se que a fatalidade é só a máscara da razão: sob aquela máscara terrível, ela conduz o universo, por mil caminhos sombrios, para a luz e a liberdade. E já também, em face desse universo onde lateja a razão, onde circula a seiva da ideia, não experimenta o coração do homem aquela impressão de vacuidade e morte, aquela tristeza fúnebre, que o mundo fatal e eternamente mudo do materialismo lhe infundia. O espírito humano sente agora palpitar nas coisas o que quer que é análogo à sua própria essência. Isolado como no vértice de pirâmide prodigiosa, sente-se todavia em comunicação com a mole imensa que o suporta. Já não é o enigma
incompreensível, desesperador, que a si mesmo parecia, quando olhando em volta via em tudo a negação do seu pensamento, do seu ideal, da sua essência: pelo contrário, ele próprio é que é agora a chave do enigma universal; só ele conhece a causa e o fim de tudo, e esse segredo sublime é a sua verdade mais íntima, e o seu mesmo ser. O universo aspira com efeito à liberdade, mas só no espírito humano a realiza. É por isso que a história é especialmente o teatro da liberdade. Os que veem na história um simples prolongamento da natureza, um fenómeno natural, só mais complexo, desconhecem inteiramente o verdadeiro caráter da evolução. O direito, devemos supô-lo, é já a aspiração inconsciente do animal: mas só às sociedades humanas preside efetivamente o direito. Esta linha de demarcação está dizendo que com a humanidade se entrou num mundo novo. A razão, dando um passo decisivo, deixou cair de vez a máscara da fatalidade. Dormente e profundamente soterrada no mundo inorgânico, meio acordada já, mas só instintiva no mundo orgânico, é nos seres conscientes, é na sociedade humana que a razão encontra o seu órgão. O progresso da humanidade é pois essencialmente um facto de ordem moral: a obra tão maravilhosamente começada pelo inconsciente só pela consciência podia ser levada a cabo. Tendo o seu ponto de partida na pura animalidade, na esfera da paixão e do instinto, a humanidade substitui gradualmente, à medida que se revela a si mesma na sua natureza e no seu fim, àqueles impulsos originários energias espirituais, elementos cada vez mais ricos e puros, desentranhados dessa esfera racional em que vai penetrando, e o direito, intérprete da razão na sociedade, é a lei desse mundo novo que surge. O progresso pressupõe o ato constante daquelas energias: sem o esforço sempre renovado do pensamento para a razão, da vontade para a justiça, de todo o ser social para o ideal e a liberdade, o caminho andado escorrega debaixo dos pés e a animalidade toma outra vez posse do terreno onde o espírito, adormecendo, não soube manter-se. Enganam-se pois singularmente os que sonham um progresso como que mecânico, caminhando por si e beatificando os homens independentemente da energia moral deles: por outras palavras, um progresso realizado fora do espírito e sem a sua intervenção. Enganam-se, porque a essência do progresso está justamente nessa intervenção, cada vez mais larga e intensa, do espírito na humanidade. A natureza é o teatro da história, não o seu agente. As leis da história têm a sua última raiz nas leis da consciência. A criação da ordem racional e o alargamento indefinido do domínio da justiça, tal é a definição do progresso. Facto da liberdade, ele consiste intimamente num desdobramento incessante da energia moral, numa reação contínua da vontade sob o estímulo do ideal, e é por isso que a virtude é a
verdadeira medida do progresso das sociedades. Mas a ordem criada pelo direito, ampla e harmónica como é e com toda a soma de moralidade e liberdade que já em si contém, é ainda assim só formal. Não é esse ainda o fim último, mas apenas condição para a realização dele. Na consciência individual é que este se realiza, nela só tem o seu desfecho o drama divino do universo. Nela e por ela se conhece a força universal na sua pura essência, nela e por ela consegue a perfeita identificação consigo mesma: despojando-se das formas que sucessivamente revestira na sua longa ascensão, formas limitadas, relativas e nunca isentas, ainda nos degraus superiores da evolução, ainda na própria ordem social e jurídica, do cunho de fatalidade, é agora verdadeiramente, porque só agora é puramente espírito. No mundo da consciência dissolvem-se todas as leis naturais e sociais na única lei moral. A lei moral, criada pelo espírito para si mesmo, ou melhor, expressão da unidade final realizada pelo espírito em si mesmo, da inteira compenetração da vontade com o seu ideal, é lei perfeita de liberdade, porque o próprio dever, à medida que a sua ideia se aprofunda, perde gradualmente o rígido caráter de obrigação, que lhe dava não sei que longes de fatalidade, e transforma-se em atração pura, puro amor. A autonomia da vontade, só virtual até este momento, é agora real e completa: determinação, motivo e condicionalidade confundem-se com o seu próprio ser. Só agora é plenamente causa, porque só agora é plenamente fim de si mesma. Esta perfeita identificação do eu com a sua essência absoluta, por onde a sua primitiva espontaneidade se define finalmente como liberdade, é que é a essência do bem. O bem é o momento final e mais íntimo da evolução do ser, em que o espírito se liberta na consciência de todas as limitações, criando em si, de si e para si um mundo completo, transcendente e definitivo. O indivíduo natural subsiste ainda, mas subsiste apenas como o ponto em que se dá este processo espiritual. O eu limitado, refluindo, se assim se pode dizer, para o seu centro verdadeiro, dissolve-se nalguma coisa de absoluto, já não individualizado mas ainda ligado ao indivíduo: transição do ser para o não-ser, que equivale, quanto cabe na realidade, à plenitude e perfeição do ser. É o que, na linguagem (que para nós não pode ser senão simbólica) do misticismo, se chama a união da alma com Deus: nós diremos simplesmente que é a união do eu com o seu tipo de perfeição, ou, talvez com a maior simplicidade ainda, a realização na consciência do seu momento último e mais verdadeiro. É por isso que só as obras do bem são verdadeiras na sua totalidade: em tudo mais há sempre uma parte maior ou menor de limitação, de necessidade, de erro, e, para tudo dizer numa palavra, de não-existência. Só quem, dissolvendo a
própria vontade na vontade absoluta e identificando-se com ela, renuncia ao eu limitado e a tudo quanto é dele — o seu egoísmo, as suas paixões, o seu erro profundo e a sua inenarrável miséria —, só esse alcançou a vida eterna. Confundido com o que sempre permanece, com o que é em si e por si, entrou no ilimitado, no inalterável, e subsiste como ele eternamente. Esta renúncia, verdadeira imortalidade, é por isso mesmo a fonte de toda a virtude. O justo, na sua união com o ser perfeito, só vê no indivíduo limitado, que é segundo a natureza, um resto de escravidão, de particularismo, de erro, que o impede, até onde subsiste, de realizar plenamente aquela união: é renunciando a ele que torna essa união efetiva, tanto mais efetiva quanto mais constante, mais completa for a renúncia. A renúncia a todo o egoísmo é para ele o caminho direito que o leva à liberdade, à perfeição, à beatitude. Como não há de então o justo dar-se aos outros, dar-se a todos os seres, se com cada ato de dedicação conquista e firma a própria beatitude? Libertando-os, liberta-se; aperfeiçoando-os, aperfeiçoa-se; beatificando-os, beatifica-se. Para conseguir o próprio bem, tem de se fazer como que o instrumento do bem universal. E nem verdadeiramente para conseguir o próprio bem: porque, despojado de personalidade e egoísmo, morto para o eu individual, o bem atrai-o em si ou fora de si, indiferentemente, e tende a realizá-lo seja onde for, seja sob que forma for, simplesmente porque é o bem. A sua existência agora já não é a de uma individualidade particular, circunscrita no tempo e no espaço, condicionada pelo temperamento, pela raça, pela nação, pelo período histórico, pela educação, por mil circunstâncias fortuitas: não: é como que a existência de um princípio universal, impessoal, absoluto, atuando indiferentemente num ponto do espaço, e a sua obra, a virtude, não é também uma obra particular e transitória, mas universal e absoluta. A virtude, liberdade suprema, é por isso a realidade por excelência, a única realidade plena. Tudo mais são vagas, incertas aproximações do ideal, pálidas imagens, grosseiros símbolos do ser verdadeiro. A consciência do justo é o único templo do único Deus; e, nesse templo, a renúncia ao egoísmo é o único culto. Cessasse um só instante esse culto, esse holocausto do egoísmo nas aras do ideal, e imediatamente toda a vida moral se suspenderia: no instante seguinte terse-ia dissolvido. O mundo moral só subsiste por esta renúncia. Ela enche de intrepidez o coração dos heróis, de constância a vontade dos justos, de unção a alma dos santos. Ela dá aos simples a candura e a graça: dá aos humildes a dedicação sem alardes: a uns e outros o perfume da virtude que se ignora. Ela é a inspiradora secreta da grande arte como do grande pensamento. Essa pouca justiça, que consegue penetrar neste mundo de luta, cegueira e egoísmo, vem toda dali, porque só ali tem a sua raiz profunda. Superior ao destino, vencedora da fatalidade, mais profunda que toda a ciência e toda a especulação, só ela torna
patente o íntimo segredo das coisas e é, em si mesma, a única verdade evidente, o único saber sem dúvidas nem obscuridades. Ela vence a morte, porque faz compreender a significação do êxito final e apreciar quanto ele vale. Se pois só a perfeita virtude, a renúncia a todo o egoísmo, define completamente a liberdade, e se a liberdade é a aspiração secreta das coisas e o fim último do universo, concluamos que a santidade é o termo de toda a evolução e que o universo não existe nem se move senão para chegar a este supremo resultado. O drama do ser termina na libertação final pelo bem. Tal se me afigura, nas suas grandes linhas e no seu processo lógico, essa síntese do pensamento moderno, que a crítica, apoiada na história, parece desde já autorizada a induzir das tendências da filosofia e da ciência na segunda metade do nosso século, tendências expressas na posição atual dos problemas e na direção convergente das principais escolas. Partindo, vai em mais de quatro séculos, na alvorada de uma idade nova do espírito humano, de uma noção fundamental, a ideia de força, noção que era já o resultado da elaboração dez vezes secular dos princípios legados pelo pensamento antigo e para a génese da qual concorreram, ao lado da evolução dialética desses princípios, a acumulação crescente dos conhecimentos positivos e a maior complexidade da nova civilização, o pensamento moderno, aprofundando essa ideia, desenvolvendo-a, enriquecendo-a com elementos novos e estendendo a sua área de influência a ordens de factos cada vez mais largas, começou por tirar dela uma mecânica e uma física, ou seja uma teoria da natureza; fê-la depois penetrar mais e mais na metafísica, na psicologia, na biologia, na história; e tudo faz supor que se encaminha rapidamente para construir sobre essa única base uma filosofia completa, uma conceção sistemática do mundo, da razão e da humanidade. Tanto continha em si esta ideia capital, tão largos e ricos desenvolvimentos comportava! É certo que essa síntese das ideias modernas se acha por ora apenas indicada nas tendências do pensamento contemporâneo e que, se o seu espírito, no que tem de essencial, penetra mais ou menos todas as escolas e quase se confunde já, em certas esferas, com o espírito da nossa civilização, em parte alguma foi ela ainda exposta em corpo sistemático de doutrinas, nem se definiu e completou a ponto de se impor como a fórmula intelectual definitiva do nosso período histórico. Até que grau de precisão conduzirá o pensamento moderno a definição das suas próprias ideias? É o que só o tempo poderá mostrar. Mas, desde já, podemos calcular as proporções do edifício em construção e caracterizar o tipo arquitetónico a que pertence. Antes de tudo, essa síntese terá essencialmente o caráter indutivo. Não será uma
nova construção a priori, depois de tantas outras, mais um sistema — o último e definitivo sistema — mas a coordenação superior e, como já atrás se mostrou, a interpretação dos factos positivos no ponto de vista dos últimos princípios fornecidos ao mesmo tempo pela análise da razão e pela análise da consciência. Será, se assim se pode dizer, um espiritualismo idealista, enxertado, para florir e frutificar, no tronco robusto do materialismo. Superior à ciência como ideia e como critério, estará todavia na dependência da ciência, que só lhe fornece a matéria-prima que tem de ser elaborada especulativamente. Neste sentido, parecerá mais, exteriormente, a realização do programa dos positivistas do que a do programa hegeliano, embora no fundo tenha muito mais do espírito fecundo do idealismo alemão do que do espírito lógico-formal do positivismo. Quero dizer que, sendo realista, será ao mesmo tempo transcendental: realista nas suas bases indutivas, transcendental nas ideias metafísicas que a inspiram e dominam. Reunirá assim, na sua unidade, as duas tendências divergentes da inteligência moderna, resolvendo nessa unidade superior, por uma mútua penetração, a antítese da razão e da experiência. Sendo síntese, será conciliação; e todas as grandes correntes do pensamento filosófico do nosso século se acharão igualmente representadas nela, cada uma por aquilo que tem de legítimo: o positivismo, pela concatenação lógica dos dados científicos numa ordem de evolução formal; o idealismo dos alemães, pela afirmação fundamental da "identidade do ser e do saber” e pela conceção de uma evolução dialética da realidade; o espiritualismo, pelos elementos psíquicos fornecidos à especulação, pela ideia capital de força, que só na consciência tem a sua origem, e pela redução da finalidade, em última análise, à lei moral, que é a solução da antítese determinismo-liberdade; o criticismo, finalmente, pela verificação severa dos princípios, pela dívida sistemática, estímulo contínuo da razão, que representa aquela parte salutar de ceticismo, sem a qual a inteligência, enlevada na própria contemplação, esquece o que há de contingente e relativo em toda a verdade e se esteriliza, imobilizando-se naquela espécie de fanatismo intelectual, que é o dogmatismo. Dir-me-ão agora alguns, e não dos somenos, que essa pretendida síntese não passa, afinal, de uma certa unidade de vistas gerais e uma conformidade de tendências, que pode, sem dúvida, acentuar-se ainda mais e ampliar progressivamente o terreno neutro ou comum onde se encontram irmãs as doutrinas rivais, mas não chegará nunca a constituir uma verdadeira unificação sistemática, o símbolo uniforme e completo do pensamento moderno. Dentro dessa unidade mal determinada, objetam eles, ficará sempre lugar para graves divergências de opinião, permanecerão em aberto questões importantes e, fora
dela, subsistirão sempre pontos de vista inconciliáveis, verdadeiras heresias em face do novo dogma filosófico: ora, concluem, não é isso o que se tinha direito a esperar das sedutoras promessas de uma síntese final! Respondo que assim é, mas que está isso na natureza das coisas e, sobretudo, que é excelente que assim seja. Uma síntese filosófica não é um símbolo teológico. Uma igreja pode muito bem, nos seus concílios, definir com rigor extremo a sua doutrina e fixá-la canonicamente até nos últimos pormenores, justamente porque é uma igreja: dispõe, pela natureza da sua instituição, da autoridade que decreta e conta com a fé, que aceita e não raciocina. Mas a filosofia não é a teologia, da mesma forma que a sociedade moderna não é uma igreja. A sociedade moderna é uma larga comunhão de inteligências e de sentimentos, fecunda na medida da sua mesma variedade e liberdade, rica de impulsos diversos, que são outras tantas manifestações da atividade sempre criadora da natureza humana. A sua unidade não é essa abstrata, exterior e material, contida em fórmulas sem vida, violenta à natureza, e que por isso só firmada em decretos e imposições autoritárias se pode manter. É concreta, íntima e espontânea: é a unidade orgânica de um ser vivo e é ainda aquela harmonia superior que resulta do acordo das vontades e dos pensamentos, tendendo para um fim comum, mas cujos aspetos são variados, e que pode por isso mesmo realizar-se igualmente bem sob formas diversas. A extrema fixidez e uniformidade na ordem espiritual repugna à sociedade moderna, e é essa uma das suas excelências. Unidade na variedade, tal é a sua divisa: e só essa unidade é fecunda, porque só ela permite a expansão da natureza humana em toda a riqueza das suas faculdades. A verdade é para a nossa inteligência forçosamente cambiante: a reunião desses cambiantes constituirá ainda assim uma imagem mais fiel dela do que uma cor única e uma feição uniforme e rígida. Depois, o que torna criadora a influência de um princípio é a sua compreensão e plasticidade, não o seu rigor de definição. Uma ideia vastamente compreensiva e profunda, como é a ideia moderna fundamental, é por isso mesmo diversíssima de aspetos e pode coexistir em formas que se opõem, sem que por isso se contradigam. É uma prova da superioridade do espírito moderno o poder conter em si, sendo uno, uma tal variedade de contrastes. O que seria da civilização moderna, se todas as inteligências entrassem no mesmo molde e como que se cristalizassem numa forma definitiva? Desceria ela para logo ao nível das civilizações inferiores e simplistas. Não desejemos pois uma síntese que seja símbolo canónico, mas contentemo-nos com aquela harmonia geral dos espíritos, que resulta de um tom fundamental, por onde tudo se afina, mas variada e livremente. É necessário ver estas coisas, porque são as coisas humanas por
excelência, à grande luz da vida coletiva, no meio complexo e movediço da sociedade, e não no recinto estreito e artificial da escola. Que um construtor de sistemas aspire ao rigor geométrico e à absoluta dedução lógica, entende-se perfeitamente: é esse o seu ofício, ou, falando mais dignamente, a sua missão. Mas a humanidade não é esse “abstractor de quintas essências”, encarcerado voluntariamente nas masmorras da pura lógica. A sua vida é mais ampla, mais ágil e mais acidentada: precisa por isso de maior liberdade, e as suas ideias diretoras devem ter elasticidade bastante para poderem acompanhá-la nas curvas e meandros dos seus complicados movimentos. Bem sei que pondo assim a questão saio do terreno da filosofia propriamente dita para o da sociologia e da história. Mas, em suma, a filosofia não é uma mera curiosidade de espíritos especulativos: no conjunto das coisas humanas tem seu o lugar marcado, desempenha a sua função e não vale senão pelas suas aplicações. O que dela aceitam e fazem seu os que não são filósofos de profissão constitui afinal, historicamente falando, o que ela é realmente. A síntese do pensamento moderno, preparada pelos filósofos, tem de ser a obra coletiva da humanidade culta. Só assim terá o caráter de um fenómeno histórico e de um grande facto humano. Não será (custa-me pouco reconhecê-lo) um grande e perfeito sistema, uma impecável cristalização dialética; mas será mais e melhor do que isso, um alto ideal comum, um princípio universal de inspiração, falando a todas as potências da alma humana, e cada uma na sua língua, acessível e fácil ao coração dos simples como profundo à penetração das altas inteligências, e tão rico de luzes para a ciência como de estímulos para a consciência. O espírito criador da civilização moderna ver-se-á nesse seu ideal como num espelho, e cada vez com maior clareza. Ou antes, para me expressar em linguagem mais exata, será ele esse mesmo espírito, que é já o espírito da humanidade (pois a civilização moderna absorve já todas as raças e nações na sua catolicidade) tornado consciente e progressivamente realizado em factos — nas instituições, nos costumes, na vida moral. E, se definir o espírito de uma civilização e tomálo cônscio de si mesmo é a obra essencial da filosofia, não se poderá dizer que a filosofia moderna tenha mentido à sua missão.
Carta Autobiográfica de Antero de Quental a Wilhelm Storck, Escrita a 14 de maio 1887
Ponta Delgada (Ilha de São Miguel, Açores) 14 de maio de 1887
Exmo. Senhor
Só agora me chegou às mãos a sua estimada carta de 23 de abril último, pelo facto de me encontrar, há dois meses, nesta ilha (que é a minha pátria) trazido aqui por urgentes negócios de família. A demora das comunicações com o continente explica este atraso. Agradeço a V. Exa. as amáveis e para mim tão honrosas expressões de sua carta, e nada me pode ser, como poeta e homem, mais grato que o apreço que um tal mestre e crítico manifesta pelas minhas composições, ao ponto de querer ser meu intérprete e introdutor junto do público o mais culto do mundo e que mais direito tem a ser exigente. Discípulo da Alemanha filosófica e poética, oxalá que ela receba com benignidade essas pobres flores, que uma semente sua, trazida pelo vento do século, faz desabrochar neste solo pouco preparado. Qualquer que seja a sua fortuna, toda a minha gratidão é devida ao bom e gentil espírito, que generosamente me toma pela mão, para me apresentar. As informações biográficas e bibliográficas que V. Exa. me pede podem reduzirse ao seguinte: nasci nesta ilha de S. Miguel, descendente de uma das mais antigas famílias dos seus colonizadores, em abril de 1842, tendo por conseguinte perfeito 45 anos. Cursei, entre 1856 e 1864, a Universidade de Coimbra, sendo por ela bacharel formado em Direito. Confesso, porém, que não foi o estudo do Direito que me interessou e absorveu durante aqueles anos, tendo sido e ficando um insignificante legista.
O facto importante da minha vida, durante aqueles anos, e provavelmente o mais decisivo dela, foi a espécie de revolução intelectual e moral que em mim se deu, ao sair, pobre criança arrancada do viver quase patriarcal de uma província remota e imersa no seu plácido sono histórico, para o meio da irrespeitosa agitação intelectual de um centro, onde mais ou menos vinham repercutir-se as encontradas correntes do espírito moderno. Varrida num instante toda a minha educação católica e tradicional, caí num estado de dúvida e incerteza, tanto mais pungentes quanto, espírito naturalmente religioso, tinha nascido para crer placidamente e obedecer sem esforço a uma regra reconhecida. Achei-me sem direção, estado terrível de espírito, partilhado mais ou menos por quase todos os da minha geração, a primeira em Portugal que saiu decididamente e conscientemente da velha estrada da tradição. Se a isto se juntar a imaginação ardente, com que em excesso me dotara a natureza, o acordar das paixões amorosas próprias da primeira mocidade, a turbulência e a petulância, os fogachos e os abatimentos de um temperamento meridional, muito boa fé e boa vontade, mas muita falta de paciência e de método, ficará feito o quadro das qualidades e defeitos com que, aos 18 anos, penetrei no grande mundo do pensamento e da poesia. No meio das caóticas leituras a que então me entregava, devorando com igual voracidade romances e livros de ciências naturais, poetas e publicistas e até teólogos, a leitura do Fausto de Goethe (na tradução francesa de Blaze de Bury) e o livro de Rémusat sobre a nova filosofia alemã exerceram todavia sobre o meu espírito uma impressão profunda e duradoura: fiquei definitivamente conquistado para o Germanismo; e, se entre os franceses, preferi a todos Proudhon e Michelet, foi sem dúvida por serem estes dois os que mais se ressentem do espírito de Além-Reno. Li depois muito de Hegel, nas traduções francesas de Vera (pois só mais tarde é que aprendi alemão). Não sei se o entendi bem, nem a independência do meu espírito me consentia ser discípulo: mas é certo que me seduziram as tendências grandiosas daquela estupenda síntese. Em todo o caso, o Hegelianismo foi o ponto de partida das minhas especulações filosóficas, e posso dizer que foi dentro dele que se deu a minha evolução intelectual. Como acomodava eu este culto pelas doutrinas do apologista do Estado prussiano, com o radicalismo e o socialismo de Michelet, Quinet e Proudhon? Mistérios da incoerência da mocidade! O que é certo é que, revestido com esta armadura mais brilhante do que sólida, desci confiado para a arena: queria
reformar tudo, eu que nem sequer estava ainda a meio caminho da formação de mim mesmo! Consumi muita atividade e algum talento, merecedor de melhor emprego, em artigos de jornais, em folhetos, em proclamações, em conferências revolucionárias: ao mesmo tempo que conspirava a favor da União Ibérica, fundava com a outra mão sociedades operárias e introduzia, adepto de Marx e de Engels, em Portugal a Associação Internacional dos Trabalhadores. Fui durante uns 7 ou 8 anos uma espécie de pequeno Lassalle, e tive a minha hora de vã popularidade. Do que publiquei por este tempo, aí vai o que ainda posso lembrar. O meu primeiro folheto é do ano de 1864. Intitula-se: Defesa da Carta Encíclica de S. S. Pio IX contra a chamada opinião liberal. É um protesto contra a falta de lógica com que as folhas liberais atacavam o Syllabus, declarando-se ao mesmo tempo fiéis católicos. O autor, glorificando o Pontífice pela beleza da sua atitude intransigente em face do século, via nessa intransigência uma lei histórica, rezava respeitosamente um De profundis sobre a igreja condenada pela mesma grandeza da sua instituição a cair inteira mas não a render-se, e atacava a hipocrisia dos jornais liberais. O meu último folheto é de 1871. Intitula-se: Carta ao Ex. Marquês de Avila e Bolama, sobre a Portaria que mandou fechar as Conferências do Casino Lisboense. As Conferências Democráticas tinham sido fundadas por mim com o concurso de homens moços (que quase todos têm hoje nome na política) e eram muito frequentadas pelo escol da classe operária. Pareceram perigosas ao governo, que arbitrariamente as mandou fechar. O meu folheto parece que concorreu, segundo se disse, para a queda do ministério, que, de resto, não podia durar muito, sendo dos chamados de transição. É uma diatribe, mas eloquente. Entre esses dois extremos, coloca-se a famosa Questão Literária ou a Questão de Coimbra, que durante mais de 6 meses agitou o nosso pequeno mundo literário, e foi o ponto de partida da atual evolução da literatura portuguesa. Os novos datam todos de então. O Hegelianismo dos Coimbrões fez explosão. O velho Castilho, O Árcade póstumo, como então lhe chamaram, viu a geração nova insurgir-se contra a sua chefatura anacrónica. Houve em tudo isto muita irreverência e muito excesso; mas é certo que Castilho, artista primoroso mas totalmente destituído de ideia, não podia presidir, como pretendia, a uma geração ardente, que surgia, e antes de tudo aspirava a uma nova direção, a orientar-se como depois se disse, nas correntes do espírito da época. Havia na mocidade
uma grande fermentação intelectual, confusa, desordenada, mas fecunda: Castilho que a não compreendia, julgou poder suprimi-la com processos de velho pedagogo. Inde irae. Rompi eu o fogo com o folheto Bom senso e Bom gosto, carta ao Exmo. A. F. de Castilho. Seguiu-se Teófilo Braga, seguiram-se depois muitos outros, la melée devint générale. Todo o inverno de 1865 a 66 se passou neste batalhar. Quando o fumo se dissipou, o que se viu mais claramente foi que havia em Portugal um grupo de 16 a 20 rapazes, que não queria saber da Academia nem dos Académicos, que já não eram católicos nem monárquicos, que falavam de Goethe e Hegel como os velhos tinham falado de Chateaubriand e de Cousin; e de Michelet e Proudhon, como os outros de Guizot e Bastiat; que citavam nomes bárbaros e ciências desconhecidas como glótica, filologia, etc., que inspiravam talvez pouca confiança pela petulância e irreverência, mas que inquestionavelmente tinham talento e estavam de boa fé e que, em suma, havia a esperar deles alguma coisa, quando assentassem. Os factos confirmaram esta impressão: os 10 ou 12 primeiros nomes da literatura de hoje saíram todos (salvo 2 ou 3) da Escola Coimbrã ou da influência dela. O Germanismo tomara pé em Portugal. Abria-se uma nova era para o pensamento português. O velho Portugal ainda conservado artificialmente por uma literatura de convenção morrera definitivamente. Desta espécie de revolução fui eu o porta-estandarte, com o que me não desvaneço sobremaneira, mas do que também não me arrependo. Se a uma ordem artificial se seguiu uma espécie de anarquia, é isto ainda assim preferível, porque uma contém germes de vida, e da outra nada havia a esperar. Pertence ainda a essa época o folheto: Dignidade das Letras e literaturas oficiais. Durante o ano de 1867 e parte de 68 viajei em França e Espanha e visitei os Estados Unidos da América. No fim desse ano de 68 publiquei o folheto: Portugal perante a revolução de Espanha. Advogava aí a União Ibérica por meio da República Federal, então representada em Espanha por Castelar, Pi y Margall e a maioria das Cortes Constituintes. Era uma grande ilusão, da qual porém só desisti (como de muitas outras desse tempo) à força de golpes brutais e repetidos da experiência. Tanto custa a corrigir um certo falso idealismo nas coisas da sociedade! O meu Discurso sobre as causas da decadência dos Povos Peninsulares nos séculos XVII e XVIII, embora pisasse um terreno mais sólido, o terreno da história, ressente-se ainda muito da influência das ideias políticas preconcebidas, da crítica histórica com tendências. É do ano de 1871. Nesse ano e no seguinte tomei parte ativa no movimento socialista, que se
iniciava em Lisboa, e tanto nessa cidade como no Porto escrevi bastante nos jornais políticos. Incidentalmente publiquei, num pequeno volume, uma série de estudos com o título de Considerações sobre a Filosofia da História Literária Portuguesa. Creio que é, ainda assim, o que fiz de melhor, ou pelo menos, de mais razoável em prosa. Confesso sinceramente que dou muito pouca importância a todos esses meus escritozinhos de ocasião e até, às vezes, preciso de certa força de reflexão para não me envergonhar de ter publicado tanta coisa pouco pensada. E todavia era aplaudido! Porquê? Em primeiro lugar, creio eu, porque os que me aplaudiam não pensavam, ainda assim, mais nem melhor do que eu. Em segundo lugar, porque me concedeu a natureza o dom da prosa portuguesa, não da prosa de convenção, arremedando o estilo dos séculos XVI e XVII, mas de uma prosa que tem o seu tipo na língua viva e falada hoje, analítica já nos movimentos da frase, mas na linguagem ainda e sempre portuguesa. Isso agradou, porque era o que convinha e, em suma, acabei por ser citado como modelo da prosa moderna! É certo, porém, que tudo aquilo são escritinhos de ocasião e que, em prosa, não produzi ainda o que se chama uma obra, isto é, uma coisa original, pessoal e aprofundada. Há muito tempo que sei escrever, mas foi-me necessário chegar aos 45 anos para ter que escrever. Por isso, deixemos toda essa farragem que não cito senão para corresponder ao desejo de V. Exa na matéria bibliográfica. E passemos aos versos. Além da coleção de sonetos que V. Exa. conhece, publiquei ainda mais dois volumes. Um, de 1872, com o título de Primaveras Românticas, contém os meus Juvenilia, as poesias de amor e fantasia, compostas na sua quase totalidade, entre 1860 e 65, que andavam dispersas por várias publicações periódicas, e que só em 72 reuni em volume, juntamente com mais alguma coisa posterior, do mesmo caráter e estilo. Talvez a melhor maneira de caracterizar esse volume será dizer em francês que é du Heine de deuxième qualité. Como muitas pessoas, por cá, têm achado essa semelhança, por isso a indico. A 2a secção dos Sonetos completos que não contém senão composições desse período dará a V. Exa. uma ideia suficiente do fundo e do estilo daquela poesia; assim como a 3ª secção lhe dará ideia das Odes Modernas cuja 1ª edição apareceu em 1865. Não sei bem como caracterizar este livro; não é certamente medíocre; há nele paixão sincera e elevação de pensamento; mas além de declamatória e abstrata, por vezes aquela poesia é indistinta, e não define bem e tipicamente o estado de espírito que a produziu. O que ela representa perfeitamente é a singular aliança, a que atrás me referi já, do naturalismo hegeliano e do humanitarismo radical francês. Acima de tudo é, como dizem os franceses, poesia de combate: o panfletário divisa-se muitas vezes por detrás do poeta, e a igreja, a monarquia, os grandes do mundo
são o alvo das suas apóstrofes de nivelador idealista. Noutras composições, é verdade, o tom é mais calmo e patenteia-se nelas a intenção filosófica do livro, vaga sim, mas humana e elevada. A novidade, o arrojo, talvez a mesma indeterminação do pensamento, apenas vagamente idealista e humanitária, fizeram a fortuna do livro, junto da geração nova, o que prova pelo menos que veio no seu momento; é tudo quanto poderei dizer. Correspondem a este ciclo os sonetos compreendidos na 3ª secção dos Sonetos completos, muitos dos quais já entraram nas Odes modernas. Em 1874 teve este livro uma 2ª edição muito correta e contendo várias composições novas que considero, tal como é e com todos os defeitos inerentes à própria essência do género, como definitiva. Nesse mesmo ano de 1874 adoeci gravissimamente, com uma doença nervosa de que nunca mais pude restabelecer-me completamente. A forçada inação, a perspetiva da morte vizinha, a ruína de muitos projetos ambiciosos e uma certa acuidade de sentimentos, próprio da nevrose, puseram-me novamente e mais imperiosamente do que nunca, em face do grande problema da existência. A minha antiga vida pareceu-me vã e a existência em geral incompreensível. Da luta que então combati, durante 5 ou 6 anos, com o meu próprio pensamento e o meu próprio sentimento que me arrastavam para um pessimismo vácuo e para o desespero, dão testemunho, além de muitas poesias, que depois destruí (subsistindo apenas as que o Oliveira Martins publicou na sua introdução aos Sonetos) as composições que perfazem a secção 4 (de 1874 a 80) do meu livrinho. Conhece-as V. Exa., não preciso comentá-las. Direi somente que esta evolução de sentimento correspondia a uma evolução de pensamento. O naturalismo, ainda o mais elevado e mais harmónico, ainda o de um Goethe ou de um Hegel, não tem soluções verdadeiras, deixa a consciência suspensa, o sentimento, no que ele tem de mais profundo, por satisfazer. A sua religiosidade é falsa, e só aparente; no fundo não é mais do que um paganismo intelectual e requintado. Ora eu debatia-me desesperadamente, sem poder sair do naturalismo, dentro do qual nascera para a inteligência e me desenvolvera. Era a minha atmosfera, e todavia sentia-me asfixiar dentro dela. O Naturalismo, na sua forma empírica e científica, é o struggle for life, o horror de uma luta universal no meio da cegueira universal: na sua forma transcendente é uma dialética gelada e inerte, ou um epicurismo egoistamente contemplativo. Eram estas as consequências que eu via sair da doutrina com que me criara, da minha almamater, agora que a interrogava com a seriedade e a energia de quem, antes de morrer, quer ao menos saber para que veio ao mundo. A reação das forças morais e um novo esforço de pensamento salvaram-me do
desespero. Ao mesmo tempo que percebia que a voz da consciência moral não pode ser a única voz sem significação no meio das vozes inúmeras do Universo, refundindo a minha educação filosófica, achava, quer nas doutrinas, quer na história, a confirmação deste ponto de vista. Voltei a ler muito os filósofos Hamann, Lange, Du Bois-Raimond e, indo às origens do pensamento alemão, Leibniz e Kant. Li ainda mais os moralistas e místicos antigos e modernos, entre todos a Teologia Germânica e os livros budistas. Achei que o misticismo, sendo a última palavra do desenvolvimento psicológico, deve corresponder, a não ser a consciência humana uma extravagância no meio do Universo, à essência mais funda das coisas. O naturalismo apareceu-me, não já como a explicação última das coisas, mas apenas como o sistema exterior, a lei das aparências e a fenomenologia do Ser. No Psiquismo, isto é, no Bem e na Liberdade moral, é que encontrei a explicação última e verdadeira de tudo, não só do homem moral mas de toda a natureza, ainda nos seus momentos físicos elementares. A monadologia de Leibniz, convenientemente reformada, presta-se perfeitamente a esta interpretação do mundo, ao mesmo tempo naturalista e espiritualista. O espírito é que é o tipo da realidade: a natureza não é mais do que uma longínqua imitação, um vago arremedo, um símbolo obscuro e imperfeito do espírito. O universo tem pois como lei suprema o bem, essência do espírito. A liberdade, em despeito do determinismo inflexível da natureza, não é uma palavra vã: ela é possível e realiza-se na santidade. Para o santo, o mundo cessou de ser um cárcere: ele é pelo contrário o senhor do mundo, porque é o seu supremo intérprete. Só por ele é que o Universo sabe para que existe: só ele realiza o fim do Universo. Estes pensamentos e muitos outros, mas concatenados sistematicamente, formam o que eu chamarei, embora ambiciosamente, a minha filosofia. O meu amigo Oliveira Martins apresentou-me como um budista. Há, com efeito, muita coisa comum entre as minhas doutrinas e o Budismo, mas creio que há nelas mais alguma coisa do que isso. Parece-me que é esta a tendência do espírito moderno que dada a sua direção e os seus pontos de partida, não pode sair do naturalismo, cada vez em maior estado de bancarrota, senão por esta porta do psicodinamismo ou pampsiquismo. Creio que é este o ponto nodal e o centro de atração da grande nebulose do pensamento moderno, em via de condensação. Por toda a parte, mas sobretudo na Alemanha, encontram-se claros sintomas desta tendência. O Ocidente produzirá, pois, por seu turno, o seu Budismo, a sua doutrina mística definitiva, mas com mais sólidos alicerces e, por todos os lados, em melhores condições do que o Oriente.
Não sei se poderei realizar, como tenho desejo, a exposição dogmática das minhas ideias filosóficas. Quisera concentrar nessa obra suprema toda a atividade dos anos que me restam a viver. Desconfio, porém, que não o conseguirei: a doença que me ataca os centros nervosos, não me permite esforço tão grande e tão aturado como fora indispensável para levar a cabo tão grande empresa. Morrerei, porém, com a satisfação de ter entrevisto a direção definitiva do pensamento europeu, o Norte para onde se inclina a divina bússola do espírito humano. Morrerei também, depois de uma vida moralmente tão agitada e dolorosa, na placidez de pensamentos tão irmãos das mais íntimas aspirações da alma humana, e, como diziam os antigos, na paz do Senhor! Assim o espero. Os últimos 21 sonetos do meu livrinho dão um reflexo desta fase final do meu espírito e representam simbólica e sentimentalmente as minhas atuais ideias sobre o mundo e a vida humana. É bem pouco para tão vasto assunto, mas não estava na minha mão fazer mais, nem melhor. Fazer versos foi sempre em mim coisa perfeitamente involuntária; pelo menos ganhei com isso fazê-los sempre perfeitamente sinceros. Estimo este livrinho dos Sonetos por acompanhar, como a notação de um diário íntimo e sem mais preocupações do que a exatidão das notas de um diário, as fases sucessivas da minha vida intelectual e sentimental. Ele forma uma espécie de autobiografia de um pensamento e como que as memórias de uma consciência. Se entrei em tão largos desenvolvimentos biográficos, foi por entender que, sem eles, se havia de perder a maior parte do interesse que a leitura dos meus sonetos pode inspirar. Os críticos alemães acharão talvez interessante observar as reações provocadas pela inoculação do Germanismo, no espírito não preparado de um meridional, descendente dos navegadores católicos do século XVI. Poderá essa ser mais uma página, embora ténue, na história do Germanismo na Europa, e, porventura, parecerá curiosa aos que se ocupam da psicologia comparada dos povos. Ao bom e amável espírito que me introduz, a mim neófito, nesses grandes círculos do pensamento e do saber, tributo, além de muita simpatia, indelével gratidão. E sou de V. Exa. com a máxima consideração, criado muito obrigado
Antero de Quental




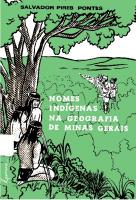




![Erros na Filosofia da Natureza [1 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/erros-na-filosofia-da-natureza-1nbsped.jpg)
