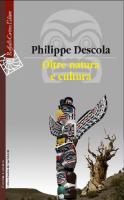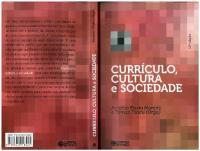Cultura e Evangelho 8577420041
O desafio da missão cristã consiste, segundo o doutor, González, em entender correta e teologicamente o que é a cultura,
249 105 581KB
Portuguese Pages 109
Polecaj historie
Table of contents :
OdinRights
Fe e cultura
CUÍTIJRA & EVANGELHO
Cultura e missão
Citation preview
DADOS DE ODINRIGHT Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe eLivros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura. É expressamente proibida e totalmente repudíavel a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo.
Sobre nós: O eLivros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de dominio publico e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site: eLivros.
Como posso contribuir? Você pode ajudar contribuindo de várias maneiras, enviando livros para gente postar Envie um livro ;) Ou ainda podendo ajudar financeiramente a pagar custo de servidores e obras que compramos para postar, faça uma doação aqui :) "Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível."
eLivros
.love
Converted by ePubtoPDF
Justo L. González
Cultura & Evangelho Digitalizado por: jolosa
O lugar da cultura no plano de Deus ©2011 JuMO 1.. Gou/ák'/. Tradução Vem /:’. Jvrdün Aguiar Revisão Priscila Poreber Luis Marcos Sondei (àlpa Cláudio Reis Diagi atnação Sandra Olivam lidilor híuii Carlos Marüsicz Iodos os direitos desta edição reservados para: Lídiiora Magnos f Av. Jaeinro [úJio, 27 (H,8! Vlí>0 ■ São Paulo - SP - Jel/Tax: (11) b6f]HG668 h.i^nos^lKipio.s.aim .br - www. hagrKis.coni ,b r 1- cciiv ãu - Junho de 201 1 Reimpressão - Abril do 20 I 3 Coordenador de produção Mauro W. íerrengui Impressão e .le.ib.imentn hnjnrnsn da fe Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil} (ron/;íle/. Justo 1..
Cultura F.vjngelhn: o lugar da cultura no plano de l)cus/Jusro L. Gon/.ale/.; |(n?du/ido por Vera e. |ordan Agniai). — São Paulo: l lagnos, 201 I. Título original: Culto, luíuira y cuIlívo: apuemes teologicos eu torno a las culturas. ISBN 97S"-8S-77/í2 084-1 ' 1. Cultura - Aspectos religiosos 2. Cultura- knsaios, conferências 3. Cristianismo e cultura 4. Crisriaiiismo e tuliurn - Knsaios e conferências I. J ítulo. n-03d72 C DD-2 61 Índices para catálogo sistemático: 1, Cristianismo e cult ura: Teologia social 261
Imagem da capa: © ICONOTEC brasil, rio, de, janeiro, copacabana, ingênuo ... Iconotec Arquivo de Fotografias
SUMARIO PRÓLOGO ; . scrcver o prólogo de um livro c, dc certo modo, apresentar : seu autor. Se assim for, o prólogo deste livro não se faz ne cessário, visto que o doutor González é amplamente conhecido no mundo acadêmico c eclesiástico. Suas obras sobre a história da igreja cristã falam por si só. Entretanto, considero um privilégio ter sido convidado a fazer o prólogo deste livro, visto que minha relação com o doutor González remonta a muitos anos, ainda que tenha sido um tanto intermitente. Muito tempo transcorreu desde nosso primeiro encontro, e várias foram as ocasiões cm que nossos respectivos caminhos coincidiram, de modo que agradeço e aproveito a oportunidade a mim concedida dc arriscar alguns comentários sobre a presente obra, já que isto ine permite acrescentar um breve relato de nossa relação. Conheci o doutor Justo L. González, “Justinho” para os amigos, na primavera dc 1968 na cidade de New Haven. As Sociedades Bíblicas Unidas haviam iniciado a tradução do Antigo Testamento numa versão popular, e o doutor Eugene Nida pedira que eu mc encontrasse com
Justinho, que naqueles dias estava terminando seus estudos de doutorado na Universidade de Yale. Ainda me recordo de seu rosto, sempre afável, à luz tênue de uma luminária que ficava sobre a mesa abarrotada de livros. Alguns dias antes, tive o privilégio de conhecer em Nova Iorque seu irmão Jorge, pesquisador de destaque e professor de Antigo Testamento na Berry Collegc, em Atlanta. A contribuição dos dois irmãos González para a versão popular consistiria nos primeiros rascunhos de Juizes c dos Profetas Menores. Este foi nosso primeiro contato. Anos mais tarde reencontramo-nos na Comunidade Teológica do México por ocasião da inauguração de sua biblioteca, e o orador convidado foi o doutor González. Nessa ocasião, ouvi um discurso seu pela primeira vez, pois, nos anos em que colaboramos na tradução da Bíblia, apenas trocávamos correspondência ou conversávamos à mesa de trabalho durante as reuniões do comitê. Eu deveria ter desconfiado, mas confesso que fiquei impressionado com seu detalhado percurso histórico sobre as bibliotecas, começando pela proverbial biblioteca de Alexandria e concluindo com a que estava sendo inaugurada naquele dia. Nos últimos anos do século passado, voltamos a nos encontrar, quando o doutor González me convidou a participar de um projeto ambicioso: comentar o livro dc Provérbios para a série do Comentário Bíblico Hispano-Americano. Isto nos possibilitou voltar a trocar correspondência, ao mesmo tempo em que pude tirar proveito de seus conselhos acertados. Agora, graças à publicação deste livro, nossos caminhos voltam a se cruzar. Conhecendo como conheço o doutor González e sabendo como sei dc seus vastos conhecimentos, aceitei escrever o o;
prólogo de seu livro não apenas por motivos de amizade, mas também porque tenho afinidade com o temae o considero apaixonante. Devo dizer que falamos “dialetos” diferentes, mas certamente temos uma preocupação comum: a relação entre a cultura e a fé cristã. O cristianismo já fez bastante teologia. E oportuno e pertinente, ao mesmo tempo em que c reconfortante, observar que cristãos da estatura do doutor González propõem dialogar com a antropologia. Entremos, pois, no assunto. Os sete capítulos que constituem esta obra foram apresentados em uma série dc
conferências realizadas pelo doutor González no Instituto Bíblico de Lima e expressam sua preocupação pessoal precoce, que ainda o acompanha, quanto à “relação entre cristianismo e cultura”, vista da perspectiva de sua própria experiência como cristão evangélico na Cuba dos anos de 1940 a 1950. O autor diz, como também poderiam dizer muitos cristãos evangélicos, que lá “| ...J dava-se a entender que nossa cultura era, por definição, católica romana”, enquanto o protestantismo era visto como instrumento do imperialismo ianque. Na busca de sua identidade como protestante latino-americano, o autor não esconde sua admiração precoce pelo livro de Fréderic Hoffet, Imperialismo protestante, que mostrava a outra face do protestantismo, já que colocava de um lado os países católicos e do outro países protestantes. Enquanto nos primeiros comenta ele - podiam-se ver “o analfabetismo, os nascimentos ilegítimos, as doenças venéreas, o subdesenvolvimento econômico, a mortalidade infantil, as desigualdades sociais...”, Hoffet também diz que nos outros era patente “um alto nível de educação e longevidade, assim como maiores oportunidades de emprego, que em longo prazo rcsultavam em níveis de renda mais altos”. lim uma recapitulação histórica breve, porém bem informada e sem interesse de polemizai', o autor - que é fundamentalmente historiador — destaca outro aspecto digno de atenção na comparação entre o catolicismo dos séculos 18 e 19 e o protestantismo latino-americano nascente. “Em certo sentido”, - diz ele - “era tudo isso que estava por trás do livro de Hoffet, de qúe tanto eu quanto meus correligionários gostávamos tanto.” Enquanto, por um lado, as novas repúblicas proclamavam o direito do indivíduo de ter opiniões e convicções próprias, de escolher e avaliar suas leituras c de atuar em conformidade com a própria consciência - o que, sem dúvida, era resultado direto do espírito da Reforma Protestante e do humanismo dos séculos anteriores -, a igreja católica, por outro, parecia voltar-se para si mesma e suas tradições ancestrais. O autor cita o caso específico do papa Pio IX, que em 1854 promulgou o Sí/a/?o de erros, no qual se destacavam: “[...| o Estado secular, o direito ao livre juízo, a educação pública sob o controle do Estado c outras manifestações semelhantes que pareciam aberrantes aos olhos da igreja majoritária. Não apenas isso, mas ele também instituiu, durante o Concilio Vaticano I, o dogma da infalibilidade do papa. A respeito disso diz o autor: Por isso, frequentemente ressaltávamos a nossos companheiras católicos que em nossas igrejas se praticavam princípios democráticos, que em nossas igrejas qualquer um podia falar, que todos nós liamos a Bíblia c chegávamos a nossas
próprias conclusões. Em nossas igrejas celebrávamos o culto em nossa própria língua, c não em latim, de modo que todos pudessem entender o que se dizia, e nelas não sc proibia ninguém de ler o que quisesse. Como historiador, o autor vê nisso algo mais do que diferenças de percepção e manifestação religiosa. Ele nos diz que a relação entre cristianismo e cultura deve ser vista sempre dentro de um contexto histórico. Uma visão correta da história pode nos ajudar a entender que é possível ser evangélico e ao mesmo tempo latino-americano, do mesmo modo que historicamente o cristianismo foi grego, romano e anglo-saxão. Esta realidade histórica nos mostra que a mensagem do evangelho não é exclusiva de uma cultura em particular, mas, sendo de caráter universal, pode e deve ser vivida na particularidade dc cada cultura específica. E claro que o autor não foge à realidade de que as pessoas que proclamam o evangelho em uma cultura distinta da sua inevitavelmente o fazem a partir da perspectiva de sua própria cultura. E embora ele reconheça que isto é inevitável, salienta dois processos que ocorrem em todo fenômeno dc contato cultural, a saber, a aculturação e a enculturação (com certeza quis dizer “inculturação”). Define a primeira como “o que os bons missionários tentam fazer” quando procuram se adaptar à cultura receptora, primeiro aprendendo o idioma das pessoas a quem pretendem evangelizar c depois adaptando-se aos novos usos c costumes. A enculturação, por outro lado, é a assimilação ou apropriação do evangelho por parte da comunidade evangelixada, que “começa a interpretá-lo e vivê-lo dentro dc seus padrões culturais, e não mais dentro dos padrões do missionário”. Embora interessado na cultura, o autor declara expressamente que não pretende fazer antropologia, mas sim teologia. Com este propósito em mente, c em seu estilo peculiar, traça um percurso ameno e interessante pela história da linguagem a fim dc estabelecer a relação lingüística c cultural entre culto, cultura e cultivo, conceitos em torno dos quais giram suas reflexões. Isto, que poderia parecer um simples jogo de palavras, se converte em um singular exercício de hermenêutica, em que se entrelaçam a lingüística histórica, o sentimento religioso presente em toda cultura e a exegese bíblica. Sua visão dos primeiros relatos de Gênesis e do segundo capítulo do livro de Atos é muito sugestiva, bem como seu conceito de mordomia, elegantemente fundamentado a partir das línguas bíblicas.
Contudo, e ainda que seu interesse primordial seja de caráter teológico, é interessante perceber que seus eonhecimentos amplos da história, da linguagem e da cultura o levam, aparentemente sem que o pretenda, a fazer antropologia, pois em sua exposição há uma clara noção da cultura em geral e das culturas em particular como fenômeno eminentemente humano. Sua formação de historiador o leva a observar o devir da história como um contato cultural constante e inevitável, nem sempre nos melhores termos, já que a cultura e a linguagem andam sempre de mãos dadas com o contato cultural, resultando no contato lingüístico. E assim que - numa passada dc olhos pela história de nossa língua espanhola — nos recorda as diferentes vertentes lingüísticas que, de um modo ou outro, contribuíram para o enriquecimento dc nosso acervo lingüístico c cultural. Entretanto, há muito mais no livro. Sem fazer referência às fontes sociolinguísticas de nossos dias, o autor oferece vários exemplos da estratificação social da linguagem. Destaco dois. No caso de nossa língua, o autor faz alusão à relação assimétrica que ainda experimentamos em nossas relações sociais cotidianas e que sc pode detectar no uso pronominal da segunda pessoa, quer dizer, em nossa alternância diária entre você [tú, no original] e o senhor ou a senhora [ustecl, no original], fato que, a partir do estudo seminal dc Brown c Gilman - sobre os pronomes de poder e de solidariedade vem sendo cada vez mais estudado. O outro caso diz respeito aos termos culinários que ocorrem na língua anglo-saxônica como resultado do domínio normando na Inglaterra. O mesmo se poderia dizer a respeito de nossa Língua espanhola, já que nela estão presentes várias línguas, inclusive o árabe, ou a respeito da tendência atual, nem sempre bem-sucedida, que procura desenvolver uma linguagem inclusiva. O autor oferece inumeráveis exemplos destes aspectos sociolinguísticos, muito consciente da arbitrariedade do signo lingüístico, ainda que este deixe de ser arbitrário ao ser aceito pela comunidade falante. Ao referir-se à alternância pronominal tú-usled, o autor parece evocar Franz Boas quando diz que “isto c sinal de que em nossa cultura se entende que existem dois níveis essenciais de familiaridade, respeito c autoridade”. No entanto, parece se inclinar a favor da visão dc Edward Sapir ao afirmar que “o idioma também é reflexo c molde da cultura que expressa”. As duas perspectivas são válidas, pois uma não exclui a outra; todavia, considero pertinente
salientar isto, uma vez que revela os profundos conhecimentos que o autor possui acerca da linguagem e da cultura. Linguagem c cultura são dois fenômenos de caráter universal que se manifestam de maneira específica nas diferentes línguas e culturas, as quais podem ser consideradas mundos em si mesmos. Todavia, a história mostra que, em algum momento, ocorreu o que se conhece como contato cultural c lingüístico. Uma vez ocorrido tal contato, a mudança lingüística c cultural se torna inevitável. No caso que ocupa e preocupa o autor, este tipo de mudança aconteceu no século 1 de nossa era com o surgimento do cristianismo, e também nos anos da Reforma Protestante, e ainda com o movimento missionário que deu origem ao protestantismo latino-americano, para citar apenas alguns casos bem conhecidos. E é a cultura ou a língua dominante que sempre se mostra renitente a reconhecer a existência das novas línguas ou novas culturas. O autor naturalmente entende isto, já que a uma certa altura diz: [...J o Pentecostes, ao mesmo tempo em que cria unidade, não cria uniformidade, pois o que ocorre ali é que o evangelho c pregado e se encarna em muitas línguas c culturas. A visão do autor poderia ser melhor compreendida se, por um lado, se recorresse à noção dc culturas e subeulturas e, por outro, à de línguas c dialetos. Entendendo-se a cultura como “esse todo complexo” do ser e fazer dc um determinado grupo humano, as subeulturas seriam as diferentes manifestações desse grupo (uns pescam, outros caçam e outros tecem), e isto dentro do todo de uma cultura geral. E no aspecto lingüístico, o idioma c o sistema dc comunicação comum dc um grupo humano, com uma gramática comum, que, apesar disso, permite-lhe desenvolver variantes .próprias de um setor, ou setores, dessa comunidade lingüística. Se entendermos o fenômeno religioso chamado cristianismo como uma cultura, “a cultura cristã”, então as diferentes manifestações cristãs poderiam ser vistas como subeulturas cristãs. Do mesmo modo, sc a mensagem cristã fosse vista como urna língua, “a língua cristã”, as diferentes expressões cristãs seriam dialetos dessa mesma língua. Exemplos destas variantes culturais e lingüísticas podem ser vistos e ouvidos nos distintos países de fala espanhola, onde uns “falam” [hablan], outros “papeiam” [charlari], outros ainda “conversam” \conver$an\ e outros “dialogam” \platican\, e onde no campo
religioso uns “oram” e outros “rezam”, porém todos se identificam como falantes de uma única língua que chamamos dc espanhol. Ou, para falar nos termos do autor: “A multiplicidade dc culturas na igreja, longe de ameaçar sua fidelidade, a possibilita.” E claro que o assunto é um pouco mais complexo, porque a visão evangélica do cristianismo não é concebível sem esse elemento úne qua non chamado evangelização. E é nas fronteiras desse vasto território que se dá um contato lingüístico e cultural com tom de colisão. A esse respeito diz o autor: Cada vez que a mensagem do evangelho atravessa uma fronteira, cada vez que cria raízes em uma nova população, cada vez que é pregada em um novo idioma, coloca-se uma vez mais a questão da fé c da cultura. E acrescenta: Não se trata mais somente de ser evangélicos em uma cultura católica. Trata-sc |...] de como ser cristãos evangélicos nas novas culturas para onde o crescente impulso missionário latíno--amcricano está levando nossa fé. [...] De como ser cristãos evangélicos em uma cultura que está mudando, que vai se tornando cada vez menos monolítica e menos católica, E [...] de como ser cristãos evangélicos quando [...] o enorme contraste entre o catolicismo e o protestantismo [...] também vai perdendo suas arestas [algo que é uma realidade a partir do Concilio Vaticano TI e apesar de evidentes movimentos retardadores e até retrógrados]. O autor então convida seus leitores a “fazer teologia” mediante a pesquisa. “Porém” - esclarece — “à nossa maneira, dentro de nossos termos e com pertinência para os desafios que enfrentamos.” Ainda que o autor declare explicitamente que seu interesse é teológico, não pode evitar incursões na antropologia, já que esta se relaciona com o fenômeno humano em sua totalidade. Então ele diz: “O desafio que hoje enfrentamos consiste em entender correta e teologicamente o que c a cultura c qual é a relação da igreja com a cultura, porque somente assim poderemos entender a nós mesmos e a nossa missão.” Então passa a definir a cultura como “[...] o modo pelo qual um grupo humano qualquer se relaciona entre si e com o ambiente circundante”. A seguir, dá um exemplo bastante ilustrativo: Para se ter cultura [...J, basta ser humano, pois não se pode ser humano sem
cultura. Assim entendida, a cultura é a herança comum de todo grupo social. E ela que nos ensina como semear o milho, fiar o algodão, cozinhar a carne, enfim, como viver no ambiente em que vivemos e com os recursos deste ambiente. Embora cm linguagem religiosa, ao falar da relação entre culto e cultura, o autor faz uma incursão no campo do rito e, consequentemente, do mito que o origina. Em relação a isso ele diz: Se a cultura se relaciona com o cultivo porque este é o modo como um grupo social enfrenta os desafios e oportunidades de seu ambiente, relaciona-se também com o culto porque este c a maneira como esse mesmo grupo social interpreta e dá sentido à vida e ao mundo. [...] Como cultivo, a cultura se defronta com o meio ambiente; como culto, interpreta-o e lhe dá sentido. [...] E assim o cultivo do milho, e toda a sabedoria que ele encerra, é atribuído, cm nossas culturas ancestrais, aos mesmos deuses que nos deram a vida. O autor apresenta então uma compreensão elegante do culto cristão em sua interpretação singular dos dois ritos mais notáveis do cristianismo, a saber, o batismo e a comunhão, ou Santa Ceia. O primeiro, que é feito com água, como símbolo inegável do natural, dado por Deus; e a segunda, que é feita com pão c vinho, como símbolo do cultivo da terra, como expressão cultural clara com significado cultuai. Isso demonstra que uma visão empírica do culto cristão pode conduzir a uma hermenêutica menos especulativa e mais contundente. Sendo este um prólogo e não uma resenha, não devo retardar o encontro do leitor com o pensamento profundo do doutor Gonzálcz. Contudo, não quero terminar estes apontamentos sem antes recordar o eminente cristão Alberto Rembao, a quem o autor cita no princípio e chama de “iconoclasta”, mais como lisonja do que corno crítica (ou talvez como um convite tácito a seus leitores para cmular tal iconoclastia!). E mister lembrar-sc dc Rembao porque, como reconhece o autor, este pensador “[...] não é muito conhecido atualmente em nossa América”. No entanto, na busca dc sua identidade, o cristianismo evangélico (eu preferiria “protestante”) faria bem em resgatar o pensamento de Rembao, orgulho do protestantismo mexicano e latino-americano. Tal resgate já foi iniciado pelo estudioso mexicano Carlos Mondragón, em seu livro Leudar la mas a: d pemamiento social dc los protestantes en América Latina (1920-1950). A uma certa altura do livro, Mondragón cita o Discurso [de Rembao] à nação evangélica:
Há no protestantismo um denominador comum dc cultura laica e liberdade democrática que o “dessaxoniza”, que o torna universal, porque na verdade é universal, porque floresce primeiro entre saxões por motivos acidentais; bem poderia ter surgido na Espanha, c esteve a ponto de faze-lo por meio dos místicos do Século de Ouro [...]. O protestantismo é, antes de mais nada, espírito; espírito que sc exprime dc acordo com os vasos particulares que o contem. Estas palavras coincidem com a postura do doutor González, que conclui suas conferências com uma visão que evoca o autor do Apocalipse: O que esperamos, os que cremos cm Jesus Cristo, não é o dia ern que as diferenças culturais desapareçam, nem as diversas línguas, nem os povos ou as nações, mas o dia em que todos juntos — trações, tribos, povos c línguas possamos cantar os louvores do que sc assenta no trono e do Cordeiro. AJfredo Tepox Varela Valle Dorada, México PREFÁCIO í enti-me muito honrado quando fui convidado a iniciar a Cátedra John Ritchic no Instituto Bíblico de Lima. E mais hon-1 rado sinto-me agora, ao poder oferecer um pouco de minhas meditações e considerações de então a um público leitor mais vasto. Por isso, aproveito esta oportunidade para agradecer ao diretor do centro teológico mencionado acima, meu estimado irmão Eli-seo Vilchcz Blancas, e à Igreja Evangélica Peruana "Maranatha” a honra deste convite. Ao mesmo tempo, aproveito para homenagear, em todo o livro, mas especialmente no último capítulo, um dos grandes líderes da fé evangélica em nossa América, o doutor Alberto Rembao. Rembao não é muito conhecido atualmente em nossa América. Não é conhecido porque temos uma triste tendência a nos esquecer do próprio passado. Quando, lá pelo ano de 1957, tive oportunidade de tê-lo como mestre, ao mesmo tempo em que lhe admirava os conhecimentos e a graça da oratória, suas excentricidades me ocultavam muito do valor do que dizia. I loje, a meio século de distância, vejo que aquelas aparentes excentricidades não eram senão a manifestação de sua
profunda fé, da vida em constante tensão entre uma cultura que admirava e defendia c uma fé que constantemente lhe recordava a carga do pecado dessa mesma cultura. Rcmbao foi iconoclasta, não apenas contra os ícones da cultura circundante -e certamente contra os da cultura norte-americana - que sempre ameaçava nos passar por cima, mas também contra os ícones da igreja e eertamente contra os ícones da igreja evangélica. Por isso o considerávamos excêntrico. E cie ccrtamcntc foi excêntrico. Mas seu cerne era outro. Fe e cultura CUÍTIJRA & EVANGELHO Cultura e missão
FE E CULTURA : m dos temas que mais me fascinaram desde meus primei. : , ros anos de estudos teológicos foi o da relação entre o cris tianismo e a cultura. Com respeito a esta questão, eu vivia em uma situação ambígua c às vezes difícil. Era a Cuba dos anos de 1940 e 1950. A fé evangélica nos chegara de outra cultura. As pessoas que se opunham à nossa fé geralmente usavam cr argumento de que aceitá-la era uma traição à nossa cultura c até uma aceitação de elementos estranhos provenientes de outra cultura cujas máquinas de comunicação ameaçavam devastar a nossa. Ainda que a Constituição da República estabelecesse uma separação clara entre a igreja e o Estado e não favorecesse nenhuma religião, na mídia, de mil maneiras diferentes, dava-se a entender que nossa cultura era, por definição, católica romana. Na escola não faltavam professores que diziam que o protestantismo era instrumento do imperialismo ianque, o qual o utilizava para enfraquecer nossa cultura e, assim, torná-la mais maleável a seus desígnios. Nos cursos de literatura e às vezes nos de filosofia, estudávamos Jaime Balmes, o apologeta católico do século 19 cujo livro, El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europeu, publicado cm 1842, defendia a superioridade da cultura hispânica e da religião católica. Agora, ao olhar retrospectivamente para aqueles dias, devo confessar que nós mesmos dávamos motivo para tais críticas e acusações. Um dos livros favoritos de nosso grupo de jovens na igreja fora escrito originalmente em francês pelo pastor reformado alsaciano Fréderic lloffet e fora publicado em castelhano com o título de Imperialismo protestante. A tese daquele livro era a de que o protestantismo conduzia necessariamente a uma ordem social mais avançada e mais justaJO que aquele pastor fez foi comparar toda uma série de estatísticas, colocando de um lado og países protestantes e do outro os países católicos.' De um lado a Itália, a Espanha, Portugal e a America Latina. Do outro, a GrãBretanha, a Alemanha, os Estados Unidos e a Austrália. As estatísticas pareciam irrefutáveis. O analfabetismo, os nascimentos ilegítimos, as doenças vencreas, o subdesenvolvimento econômico, a mortalidade infantil, as desigualdades sociais... todas as estatísticas negativas eram mais elevadas nos países católicos do que nos protestantes. E o contrário era certo: estatísticas
positivas, como o nível de educação, longevidade, emprego, os níveis dc renda, etc., eram maiores nos países protestantes. Consequentemente, dizia lloffet, os graves problemas dos países católicos sc devem a seu catolicismo, e os grandes avanços dos protestantes, a seu protestantismo. Para nós, aquele era um argumento contundente. Podíamos dizer a nossos colegas dc sala de aula, em nossos debates intermináveis, que tudo que deviam fazer era olhar uns 150 km ao norte e ali veriam quanto valor havia no protestantismo e em suas conseqüências sociais e econômicas. Mas, embora não nos déssemos conta disso, o problema era que, ao fazer uso de tal argumento, nós estávamos justamente dando mais razões às pessoas que diziam que o protestantismo era um elemento estranho que subvertia e desvalorizava nossa cultura e que, portanto, ser um bom cubano era também ser um bom católico ou ao menos não ser protestante, visto que o catolicismo que existia na época em meu país contava com muito poucos bons católicos. Para complicar as coisas, vivíamos por volta do final de um dos períodos de maior diíercnça e tensão entre o catolicismo c o protestantismo. Embora as diferenças teológicas entre ambas as tradições tivessem sc estabelecido no século 16, havendo guerras religiosas cruentas no século 17, o fato é que a contraposição entre elas nunca foi maior do que no século 19 e, até certo ponto, na primeira metade do século 20. O século 19 c os primeiros anos do século 20 marcaram o apogeu da modernidade. Esta representou grandes perdas territoriais e ideológicas para o catolicismo e o oposto para o protestantismo. O século 19 começou com a Revolução Francesa c a independência das colônias americanas, tanto espanholas quanto portuguesas c britânicas. Na política, a Revolução Francesa afetou muito mais o catolicismo do que o protestantismo. Isso se deveu, em primeiro lugar, ao lato dc a própria França ser um país católico e, portanto, os ataques dos elementos mais radicais da revolução nesse país terem sido dirigidos principalmente contra o catolicismo, suas instituições -c suas doutrinas. Bispos c sacerdotes se viram expulsos de suas dioceses c paróquias, e um bom número deles morreu guilhotinado devido à sua postura contrarrevolucionária, Conventos e
igrejas foram fechados e profanados. O papa tornou-se objeto de zombaria1. A Revolução Francesa e as façanhas independentistas americanas trouxeram uma nova realidade política. Tanto a Espanha quanto Portugal e a Grã-Bretanha sofreram enormes perdas territoriais nos impérios que tinham conseguido íormar. Os impérios português e espanhol nunca mais recuperariam o que tinham perdido c acabariam por desaparecer. Em contraposição a isso, o império britânico, apesar de perder 13 dc suas colônias norte-americanas, alcançou uma enorme expansão na África, Asia e Oceania. As perdas territoriais dos impérios tradicionalmentc católicos foram acompanhadas por uma vasta expansão por parte dos britânicos, holandeses, dinamarqueses e outras potências protestantes. Muito mais impaetante do que as perdas ou ganhos territoriais foi a capacidade ou incapacidade do protestantismo c do catolicismo de se adaptar às novas circunstâncias. Devido à sua estrutura centralizada c à ideia dc que essa estrutura fazia parte da própria natureza da igreja, o catolicismo teve enormes dificuldades para sc adaptar às novas realidades políticas. As antigas colônias espanholas c portuguesas não pensavam ter se rebelado contra o papa, mas sim contra seus governos coloniais. Por isso, a maioria de nossas primeiras constituições americanas afirmava que o catolicismo era a religião oficial do Estado. Porem, do ponto dc vista das autoridades eclesiásticas, isto não cra suficiente. O papado estava comprometido com uma visão centralizada e altamente hierárquica, de modo que, para ser bom católico, cra preciso se sujeitar não somente ao papa, mas também às autoridades civis por ele sancionadas. Isto tinha uma longa história em nossa América, pois o Padroado Real dera às coroas espanhola e portuguesa enormes poderes sobre a igreja cm suas colônias. Assim, embora os rebeldes americanos vissem em suas ações apenas o desejo de se livrar do jugo colonial, o papa e seus conselheiros não podiam deixar de ver também uma rebelião contra a autoridade pontifícia. Como todos sabem, isso trouxe conflitos difíceis entre as novas repúblicas c Roma, com a conseqüência de que nossa América, ao mesmo tempo em que continuou sendo profundamente católica, em alguns lugares também se tornou profundamente anticlerical. . Em contraposição a isso, quando as colônias britânicas na América do Norte se tornaram independentes, embora a oficialidade da igreja da Inglaterra se opusesse ao processo, várias outras denominações já haviam criado raízes neste hemisfério. Já que o protestantismo não tinha em sua maior parte a ideologia centralizadora que sc tornara parte integrante do catolicismo, as igrejas nas
antigas colônias britânicas — agora os Estados Unidos da América não sofreram os descalabros de sua contrapartc mais ao sul. Em alguns casos surgiram denominações novas, separadas das igrejas na Grã-Bretanha às quais haviam pertencido. Em geral, porem, as igrejas sofreram relativamente pouco no processo da independência norte—americana. Contudo, o conflito e contraste eram muito mais profundos. As novas repúblicas nascidas das revoluções no final do scculo 18 e início do século 19 estavam fundamentadas em ideais que se chocavam com boa parte da prática católica tradicional. Estes ideais incluíam, por exemplo, o direito do indivíduo a suas próprias opiniões, a selecionar e julgar suas leituras e a agir de acordo com suas próprias conclusões e convicções. Isto se opunha à pratica tradicional da Igreja Católica Romana, que publicava um índice de livros proibidos, insistia que os fieis deveriam concordar em tudo com os ensinamentos da igreja - inclusive com aqueles que os próprios fiéis desconheciam, mas deveriam aceitar pela fé implícita na igreja - e castigava no mínimo com a excomunhão as pessoas que divergiam de suas doutrinas. Nas novas nações - inclusive nas que se declaravam oficialmente católicas - foi-se impondo o princípio da autonomia do Estado, que não tinha obrigação nenhuma de se sujeitar aos ditames da hierarquia eclesiástica. Como meio de sustentar essa autonomia e de promover a liberdade dc pensamento entre seus cidadãos, vários Estados começaram a se responsabilizar pela educação destes e a fazé-lo em escolas independentes do controle eclesiástico. Tudo isto era anátema para as autoridades católicas e em especial para Roma. Na própria Itália, os estados pontifícios se viam ameaçados pelo crescente nacionalismo italiano, que buscava a unificação da península. Tudo isso chegou ao ponto culminante durante o pontificado de Pio IX - o mais longo dc toda a história. Este foi o papa que, por fim, perdeu os estados pontifícios, dos quais lhe foi permitido reter somente o Vaticano e outras pequenas possessões. Pio IX foi o primeiro papa a promulgar uma doutrina a da imaculada concepção dc Maria - com base em sua própria autoridade, sem a mediação de um concilio ou de outro corpo eclesiástico!1 Foi ele que, no ano de 1854, promulgou o Sílabo de erros, no qual se listavam erros que nenhum bom católico deveria aceitar. Entre esses erros se achavam o Estado secular, o direito ao livre juízo, a educação pública sob o controle do Estado e vários outros do mesmo tom. E foi Pio IX que ocupava a sé romana quando, por ocasião do Concilio Vaticano I, o papa foi declarado
infalível.' A reação do restante do mundo à promulgação da infalibilidade papal mostra até que ponto o papado perdera o poder verdadeiro. Quando, três séculos antes, o Concilio de Trento iniciou a reestruturação da igreja medieval, criando a estrutura centralizada que caracterizou o catolicismo romano desde então, houve forte oposição a seus decretos. Em alguns países católicos proibiu-se sua publicação c aplicação. Vários países apresentaram protestos formais contra os poderes que Roma parecia estar se adjudicando. Em contraposição a isso, agora que o Concilio Vaticano promulgava a infalibilidade papal, a resposta do mundo católico, especialmente na arena política, não foi mais que um grande bocejo. O papa poderia dizer o que quisesse a respeito de si mesmo. Afinal de contas, tirando seus seguidores mais fiéis, seriam poucos os que lhe da-riam atenção. Enquanto isso, nos países protestantes entendia-se a declaração da infalibilidade do papa como a última c mais clara demonstração da apostasia católica romana. Em síntese, por uma grande variedade de razões, o catolicismo romano do século 19 e do início do século 20 se declarou inimigo accrrimo da modernidade, na qual via uma grave ameaça contra a t:c. E, por sua vez, a modernidade se declarou inimiga do catolicismo c frequentemente também de todo o cristianismo ou de toda crença no que não pudesse ser comprovado por meios empíricos e supostamente objetivos. Em contraposição, as novas circunstâncias do século 19 beneficiaram o protestantismo. Já mencionei que foi durante esse século que as grandes potências protestantes estabeleceram colônias por todo o mundo. Nesses vastos impérios — algumas vezes com o apoio das autoridades coloniais e outras contra a vontade delas - as missões protestantes avançavam rapidamente, de modo que logo havia igrejas protestantes fortes na África, Ásia e Oceania. Estes impérios, pelo menos em seu governo interno - pois geralmente o governo das colônias era outra coisa sublinhavam o direito dos indivíduos a suas próprias opiniões, a livre pesquisa, a liberdade dc culto e a autonomia do Estado perante a igreja. Até certo ponto, todas essas potências se declaravam democráticas, dando participação a pelo menos certa parte de sua população no governo e em suas decisões. O protestantismo abraçou logo isso tudo. O século 19 produziu uma grande
variedade de sistemas teológicos protestantes, especialmente na Alemanha. Embora houvesse grandes diferenças entre tais sistemas, praticamente todos concordavam em um ponto: o protestantismo e a modernidade haveriam de andar de mãos dadas, pois o protestantismo é a expressão moderna do cristianismo. Quase todos aqueles teólogos famosos do século 19 diriam que o que quer que houvesse no cristianismo que não fosse compatível com a modernidade seria descartado como superstição, como relíquia de um tempo passado, quando as pessoas não pensavam criticamente, mas se submetiam à autoridade.Tudo isso não passava de deturpação do cristianismo, produto do obscurantismo medieval e da atitude totalitária do catolicismo romano. Embora nunca seguisse aqueles teólogos cm suas posturas mais extremas, a maioria dos fiéis protestantes aceitou a ideia de que o protestantismo era a forma moderna e, portanto, mais avançada do cristianismo. Em nossa América mesmo, Diego Thomson, que sc acredita ter sido o primeiro missionário protestante, chegou como arauto e expositor tanto da Bíblia quanto da modernidade. Os governos liberais nas nações recém-nascidas o receberam como um modo dc se contrapor aos conservadores, em sua quase totalidade católicos tradicionalistas. Para eles, Thomson não cra tanto o missionário, mas o educador que vinha propondo e demonstrando um novo método educacional - o lancasteriano - que, para aquela época, representava o ápice da modernidade. Em certo sentido, era tudo isso que estava por trás do livro de Hoffet, dc que tanto eu quanto meus correligionários gostávamos tanto. Por isso, frequentemente ressaltávamos a nossos companheiros católicos que em nossas igrejas se praticavam princípios democráticos, que em nossas igrejas qualquer um podia falar, que todos nós liamos a Bíblia e chegávamos a nossas próprias conclusões. Em nossas igrejas celebrávamos o culto em nossa própria língua, e não em latim, de modo que todos pudessem entender o que se dizia, e nelas não se proibia ninguém de ler o que quisesse. Mas, embora eu não soubesse, nem sequer o suspeitasse, minhas lutas internas entre ser latino-americano c ser evangélico, ou, como disse antes, entre Balmes e Hoffet, não eram apenas minhas, mas faziam parte do ambiente daqueles anos em que o catolicismo romano ainda não havia chegado ao Concilio Vaticano TI, e o protestantismo não tivera de se confrontar com o fracasso da modernidade.
Nossos argumentos na escola eram reflexo de contrastes e conflitos muito mais amplos que cu mesmo só começaria a entender 20 ou 30 anos depois. Tudo o que foi dito não tem a finalidade de voltar a nos envolver cm uma controvérsia entre católicos c protestantes quanto a quem tem razão, nem tampouco entre uns evangélicos e outros quanto a qual deve ser nossa atitude ante o catolicismo romano ou ante a modernidade. Tem, pelo contrário, duas finalidades. A primeira é fazer-nos ver que as questões que estamos colocando sempre têm lugar dentro de um contexto histórico e que para entendê-las é preciso levar em conta esse contexto. E a segunda finalidade c explicar por que já desde muito antes dc iniciar meus estudos teológicos a questão da relação entre o cristianismo e a cultura me parecia inquietante.‘Seria possível ser evangélico plenamente, tão evangélico quanto qualquer um dos missionários que vinham da América do Norte, e ao mesmo tempo ser plenamente latino-americano, tão latino-americano quanto qualquer um? 1 Então fui para o seminário, e ali a dificuldade do problema se confirmou.'Ao estudar a história da igreja, tornou-se claro que o protestantismo floresceu e triunfou principalmente nos territórios que não tinham feito parte do Império Romano, ou em alguns que, embora tivessem sido conquistados pelos romanos, sempre estiveram às margens do Império. Isto pode ser visto claramente até os dias de hoje: onde se falam línguas romãnicas prevalece o catolicismo romano; e onde se falam línguas germânicas prevalece o protestantismo. Assim, Portugal, Espanha, Bélgica c Itália são países católicos, enquanto Holanda, Escócia c Escandinávia são protestantes. Além disso, os grandes conflitos entre o protestantismo e o catolicismo romano aconteceram justamente nos territórios onde a romanização não havia penetrado tanto como nos países do Mediterrâneo. Por um longo tempo a Inglaterra esteve na balança, sem que sc pudesse saber para que lado iria cair. A Alemanha se viu dividida entre muitos Estados, uns protestantes e outros católicos, até que, depois de guerras cruentíssimas, dccidiusc pela tolerância. Contudo, o que ocorreu por fim foi que os territórios ao sul do país - os mais romanizados -acabaram sendo católicos, ao passo que os do norte são protestantes. O caso de Calvino é interessantíssimo. O grande teólogo da tradição reformada era francês, francês dc convicções patrióticas; até escreveu sua famosa obra Institutas da religião cristã tanto em latim quanto em francês c a dedicou ao rei
da França. Sua última versão, a de 1560, está em francês. O impacto de Calvino na França foi grande, ao ponto de haver no país guerras civis nas quais o tema da religião foi central. Apesar de tudo isso, porém, no final a França rejeitou o calvinismo, ao mesmo tempo em que a Escócia, a Holanda e algumas regiões da Suíça e da Alemanha o adotaram. A partir de então, raras vezes sc escutaria aquele filho da França, rejeitado pelos seus e por sua cultura, falar cm francês, ao passo que seriam milhões os que o leriam em holandês, inglês ou alemão. Será que Calvino, como eu - também sem querer e, no caso dele, sem nem sequer o saber se viu obrigado a escolher entre ser francês e ser protestante? A pergunta não parecia apenas mquietante, mas também desconcertante. Em suma, lá pelo final de meus estudos no seminário eu me encontrava em uma série de dilemas teológicos c culturais. Por um lado, não podia aceitar a tese segundo a qual o protestantismo não tem lugar na cultura latino-americana. Por outro, os próprios fatos pareciam provar o contrário. Por um lado, eu queria ser genuína e plcnamente latino-americano. Alas também era e queria ser evangélico, o que parecia estar irremediavelmente ligado a uma cultura estrangeira. Por um lado, Hoffet; por outro, Balmes. Por um lado a fc, indiscutivelmente evangélica; por outro a cultura, indiscutivelmente latina. A tarefa parecia clara, mas o caminho era pedregoso e desconhecido. Se Calvino não conseguiu que sua fé evangélica chegasse a se plasmar na cultura francesa, haveria esperança de que nossa fc, igualmente evangélica, se plasmasse cm nossa cultura latino-americana? Como poderíamos conseguir isto? De certo modo, esta tem sido uma de minhas principais preocupações teológicas por quase meio século, e por isso creio que está na hora de refletirmos um pouco mais sobre o tenra aparentemente conhecido das relações entre a fé e a cultura, embora eu deva salientar antecipadamente que a prova da compatibilidade entre nossa cultura c nossa fé não está tanto em qualquer teoria que possamos propor aqui, mas no próprio foto de que já são dezenas de milhões os latino-americanos que abraçaram a fé evangélica e deram a ela um sabor genuinamente latino-americano. Em todo caso, quando fui convidado a lecionar a Cátedra Ritchic no Tnstituto Bíblico de Lima - prestigiosa instituição oriunda de uma das primeiras igrejas evangélicas no Peru -, pareceu-me que essa cra uma oportunidade ideal para discutir ura pouco mais sistematicamente o tema de fé e cultura; não com a presunção de dizer algo novo, mas com a finalidade de resumir algumas
dc minhas reflexões sobre este tema e convidar todos nós a pensar sobre ele. Além disso, a ocasião me pareceu cspccialmcnte adequada porque, com essa cátedra, honramos um daqueles pioneiros que nos trouxeram a fé evangélica, c a trouxeram vestida em culturas nórdicas. Quando chegou a terras peruanas em 1906, para dedicar os 46 anos que lhe restavam de vida á evangelização do continente, Ritchie trouxe consigo não apenas a Bíblia c a mensagem do evangelho, mas também toda uma herança cultural que fora se firmando na Escócia ao longo dos séculos. Visto que durante boa parte desses séculos a Escócia se viu repetidamente subordinada à Inglaterra e sua cultura, por um longo tempo houve na Escócia uma profunda consciência dos conflitos culturais e de como uma cultura dominante tende a se impor sobre as que lhe estão subordinadas. Por isso Ritchie, assim como outros daqueles primeiros missionários escoceses, veio a nossas terras entendendo claramentc que era necessário que o evangelho criasse nessa parte do continente suas próprias raízes e tomasse sua própria forma. Apesar disso, porém, o evangelho que aqueles primeiros missionários pregaram, as igrejas que fundaram, as tradições que nos legaram sempre deram sinais de suas origens escocesas. Isso não deve nos causar estranheza. A questão da relação entre a fé e a cultura sempre foi um dos temas fundamentais de toda teoria e prática missiológicas. Cada vez que a mensagem do evangelho atravessa uma fronteira, cada vez que cria raízes em uma nova população, cada vez que é pregada em um novo idioma, coloca-se uma vez mais a questão da fc e da cultura. Por isso, é possível recontar toda a história da igreja do ponto de vista dessa questão: como cia íoi se colocando e sendo resolvida a cada passo. No Novo Testamento, observamos como o cristianismo, nascido c formado dentro de uma cultura judaica, foi descobrindo - às vezes cm meio a enormes debates - quanto dessa cultura se devia aceitar e quanto rejeitar. Basta ler as epístolas de Paulo para perceber que um dos principais temas de discussão naqueles primeiros tempos foi justamente o que fazer com os gentios que se convertiam ao cristianismo. Isto é, deveria se exigir que eles se tornassem judeus e adotassem todos os costumes c práticas judaicas? Ou havia um modo de ser cristão c de declarar-se, portanto, descendente de Abraão sem sc tornar judeu? Logo o cristianismo começou a abrir passagem pelo inundo gre-co-romano, e então a pergunta foi como os cristãos deveriam ver a cultura desse mundo:
deveriam rejeitar tudo que viesse dela como produto do demônio e do erro? Ou seria possível ver nela a mão e a ação de Deus? Mais adiante voltaremos a este caso específico. Depois vieram as invasões germânicas, e boa parte do cristianismo se germanizou. Ao chegar a Idade Moderna, voltaram a se colocar perguntas, dúvidas e debates acerca da relação entre a cultura dessa era e a fé da igreja, como vimos ao comparar a reação católica romana com a dos teólogos protestantes. Com o advento das grandes épocas missionárias - o século 16 para o catolicismo romano e o século 19 para o protestantismo - a questão voltou a se colocar. Cada vez que o cristianismo penetrava - ou tentava penetrar - em uma nova cultura, era preciso se perguntar qual deveria ser sua atitude ante ela. Isto é, seria questão de destruir a velha cultura para construir a nova fé sobre seus escombros? Seria questão dc adaptar a pregação e o ensino aos modelos da cultura receptora? Seria questão dc analisar essa cultura, dividindo-a em diversos elementos, para cm seguida aceitar uns e rejeitar outros? Em suma, a questão de fé e cultura c tema obrigatório para qualquer discussão missiológica. Por outro lado, cm épocas mais recentes, circunstâncias novas acrescentaram outra dimensão a esta questão. Trata-se da presença dc uma grande variedade de religiões dentro de culturas que até pouco tempo atrás podiam ser consideradas cristãs, ou ao menos contextos onde a fé cristã dominava. Em regiões como a Europa ocidental, os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia há fortes minorias muçulmanas, budistas, hinduístas, etc. Nota-sc isso mais nos antigos centros coloniais, onde ocorreu um refluxo demográfico, de modo que existem fortes contingentes de imigrantes procedentes das antigas colônias. Assim, por exemplo, na Inglaterra há uma comunidade numerosa procedente da índia, a maioria de religião hinduísta, mas também muitos muçulmanos ou seguidores dc outras das religiões tradicionais do subcontinente indico. Do mesmo modo, ainda que cm grau menor, começa a haver em todas as cidades da América I,atina mesquitas, pagodes e templos das mais variadas religiões. Por causa dc tudo isso, a questão da relação entre a fc cristã e a cultura adquire uma nova dimensão, pois já não se trata somente de como devemos entender a relação entre a fé cristã e as novas culturas onde ela é pregada, mas também dc como devemos entender a relação
entre essa fé e as culturas antigas que pouco a pouco se amoldaram a ela, mas onde agora sc apresentam novas religiões que competem com o cristianismo. Assim, se no século 19 a pergunta que se colocava era como se poderia relacionar a fé cristã, por exemplo, com a cultura chinesa, atualmente essa pergunta continua sendo feita, porém uma outra lhe é acrescentada: que relação existe entre a fc cristã e as culturas em que cia tem se arraigado por séculos, por exemplo, a norte-americana? Se quando eu estudava no seminário, há meio século, a pergunta que nós, latinoamericanos evangélicos, fazíamos era como relacionar nossa fé com nossa cultura, hoje continuamos a fazer essa mesma pergunta, mas com novas dimensões. Não se trata mais somente de ser evangélicos cm uma cultura católica. Trata-se disso e de muito mais. Trata-se também de como ser cristãos evangélicos nas novas culturas para onde o crescente impulso missionário latinoamericano está levando nossa fé. Trata-se de como scr cristãos evangélicos em uma cultura que está mudando, que vai se tornando cada vez menos monolítica e menos católica. E se trata dc como ser cristãos evangélicos quando a modernidade chega a seu fim, e quando o enorme contraste entre o catolicismo e o protestantismo, que existia durante o apogeu da modernidade, também vai perdendo suas arestas. Por causa disso tudo, duvido que haja urna pergunta teológica mais urgente do que esta: a das relações entre a fé e a cultura. Neste ponto c preciso fazer um esclarecimento. O que pretendo fazer aqui não é desenvolver toda uma teoria antropológica acerca das culturas, do modo como funcionam, etc.; o que pretendo é muito menos e, simultaneamente, muito mais. Muito menos porque, no que se refere à teoria antropológica e etnográfica, só sei o que li cm alguns livros básicos e, portanto, não creio que eu tenha nada novo a dizer. Bastante mais, pois o que pretendo é, em grande parte, um exercício teológico. Digo isto porque, em minha opinião, a boa teologia é aquela que concebe e vive a universalidade de Deus nas particularidades da vida e a eternidade dc Deus nas vicissitudes da história. Por isso, o que cu gostaria dc convidar meus leitores a investigar não é outra coisa senão isto mesmo: fazer teologia; porém à nossa maneira, dentro de nossos termos e com pertinência para os desafios que enfrentamos. Depois, o que consideraremos aqui - teologicamente, mas também a partir de
nosso ponto de vista, o de uma igreja latino-americana que se questiona acerca dc seu lugar nesta sociedade - é o que é essa cultura, o que significa, como funciona, que lugar tem no plano de Deus e, portanto, que lugar deverá ter na missão da igreja. O desafio que hoje enfrentamos consiste em entender correta e teologicamente o que é a cultura e qual é a relação da igreja com a cultura, porque somente assim poderemos entender a nós mesmos c a nossa missão. A própria ordern em que trataremos do tema deverá indicar nosso interesse teológico. Por isso, em vez de começar discutindo toda uma teoria acerca das culturas - o que são, como se formam, como se relacionam entre si, etc. - para depois passar para uma discussão teológica, seguiremos urna ordem teológica c, em meio a ela, destacaremos alguns pontos salientes referentes às culturas como fenômeno antropológico. Isto quer dizer que nos capítulos que se seguem começaremos definindo, ainda que dc modo bastante breve, o que entendemos por cultura. Mas no processo desta mesma definição primeiro a relacionaremos com a doutrina da criação, para chegar à afirmação de que a própria cultura — ou ao menos o lato de que há cultura - faz parte da obra e dos propósitos criadores de Deus (capítulo 2). Como todos sabem, a doutrina da criação não quer dizer que as coisas são exatamente como Deus quer que sejam. Pelo contrário, entre a criação e nós está a queda. Portanto, no capítulo 3 consideraremos de que modo se manifesta a presença do pecado nas culturas. Um dos principais problemas que os crentes têm de enfrentar ao discutir o tema da té c da cultura é que não há algo assim como a cultura no singular. As culturas sempre se apresentam a nós em uma variedade irredutível, c muitas vezes essa variedade acaba sendo conflituosa. Como cristãos, o que diremos acerca da variedade das culturas? Toda essa variedade será conseqüência do pecado? Será castigo ou bênção? Que paradigmas teológicos podemos empregar para entender não somente a variedade de culturas, mas também a unidade da igreja em meio a essa diversidade? Estas são as questões que discutiremos no capítulo 4. No capítulo 5 perguntamos que possibilidades há clc se ver a ação dc Deus nas culturas que parecem não ter escutado o evangelho. Estudaremos o principal paradigma empregado pela igreja antiga e uma parte dc suas conseqüências.
O capítulo 6 dará continuidade ao tema do 5, embora com maior ênfase em nossa missão hoje e em como uma melhor compreensão teológica das culturas e de sua relação com nosso Deus nos ajuda a entender melhor o caráter e o alcance de nossa missão. Por último, no capítulo 7 apresentaremos algumas reflexões breves acerca do tão conhecido tema da relação entre o culto e a cultura, na esperança de que isso nos estimule a pensar mais sobre ele. Passemos, então, ao que entendemos por cultura e a como ela se relaciona com a obra criadora de Deus. CULTURA E CRIAÇÃO ara entrar rapidamente na questão, estipulemos muito bre-: vemente que uma cultura é, em essência, o modo pelo qual Í V
: um grupo humano qualquer se relaciona entre si e com o
ambiente circundante. Por isso, ela tem o que bem poderíamos chamar de um elemento externo c outro interno. No elemento externo, ela responde aos desafios e oportunidades de seu ambiente. Estes desafios incluem a alimentação, a vestimenta, o abrigo, a defesa contra possíveis inimigos, etc. Assim, por exemplo, os esquimós desenvolveram uma cultura que lhes permite reagir aos desafios do mundo em que vivem, satisfazendo as necessidades de alimentação, vestimenta, abrigo, etc., de um modo muito diferente de como o fazem os aborígines australianos, ou como o fizeram nossos antepassados i nd o - ameri c anos. Mais adiante veremos que as culturas variam e evoluem. Uma das razões pelas quais as culturas variam é justamente porque os desafios do rneio ambiente também mudam: o que se pode semear em Honduras não se pode semear no Alaska, a roupa que é adequada em Honduras não serve no Alaska; o modo como os esquimós utilizam a carne dos mamíferos marinhos e a conservam não tem muita utilidade para um congolês ou um paraguaio. Diante de desafios diferentes os grupos humanos produzem mecanismos c métodos diferentes para se alimentar, defender, abrigar, etc. Esta dimensão externa, por assim dizer, das culturas pode ser vista na própria palavra cultura, que deriva da mesma raiz dc cultivo. Isto se deve naturalmente ao fato de que um dos meios mais antigos pelos quais as sociedades enfrentaram
os desafios de seu meio ambiente foi o cultivo. Uma das mais antigas'manifestaçõcs culturais é a agricultura. Naturalmente, antes dela apareceram a simples coleta de alimentos, a caça e a pesca. Isto nos permite dizer que as mais antigas culturas não procuravam produzir alimentos, mas somente fazer uso daquilo que já estava disponível, coletando frutas, caçando c pescando. Entre estas atividades e a agricultura há um salto qualitativo, pois, com a chegada desta última, o ser humano não se contenta em coletar o que já está aí, ou em caçar ou pescar o que já está aí, mas vai alem: começa a procurar o modo de transformar o meio ambiente para que este lhe proporcione alimentos em maior quantidade e com maior qualidade, assim como outros recursos. Em certo sentido, esta c a vocação de toda cultura, já que a relação do ser humano com o ambiente raramente é de simples aceitação; logo, na medida do possível, torna-sc uma relação cm que o grupo humano busca modos de afetar o ambiente. E óbvio que isto não leva necessariamente à agricultura, pois pode levar um caçador a cavar um buraco onde possa pegar sua presa, ou um pescador a jogar comida no lago para atrair mais peixes, ações estas que, embora não de maneira tão radical quanto a agricultura, são modos cie mudar o meio ambiente para que produza mais. Não obstante tudo isso, porém, a agricultura é o grande passo no qual o ser humano se dá conta de que a terra e o que ela irá prodir/.ir estão sob seu controle, ainda que pareialmente. Por isso, ocorre o paralelismo ctimológico entre cultura e cultivo. Além disser, por uma espécie dc extensão etimológica o vocábulo cultura é empregado também para designar outras atividades mediante as quais o ser humano transforma ou governa seu ambiente para fazê-lo produzir mais. Daí temos palavras como apin dtura, pisei cultura, ovino cultura c outras. Neste ponto deve-se esclarecer que a cultura não é propriedade exclusiva das pessoas que chamamos de cultas. Para se ter cultura não é preciso saber apreciar música clássica, nem poder recitar poemas de cor, nem conhecer história e geografia. Para tc-la, basta ser humano, pois não se pode ser humano sem cultura. Assim entendida, a cultura é a herança comum de todo grupo social. E ela que nos ensina como semear o milho, fiar o algodão, cozinhar a carne, enfim, como viver no ambiente em que vivemos e com os recursos deste ambiente. Esta relação entre a cultura e o ambiente se move nas duas direções. Por um lado, o ambiente afeta a cultura. Por outro, a cultura afeta o ambiente. Pode-se ver isto no desenvolvimento histórico de qualquer cultura. Um grup>o humano
aprende a cultivar a terra. A terra resiste, e c preciso procurar melhores meios dc rasgá-la. Alguém inventa o arado. No princípio, esse arado é puxado pelos próprios agricultores. Os sulcos são curtos, c cada agricultor e sua família conseguem cultivar um terreno pequeno. Depois se domestica o boi. Os sulcos mais longos se tornam mais eficientes. E necessário mudar o formato e o tamanho dos terrenos. Além disso, o boi necessita de pastagens, e com uma única junta dc bois se pode arar mais terreno do que uma família precisa. Surgem, então, terras comuns, primeiro para pastagem e depois para cultivo. Em todo esse processo, a terra vai mudando, mas as estruturas sociais, os modos de entender a propriedade, etc., também mudam. No entanto, a cultura também possui uma dimensão que bem poderíamos chamar dc interna. Neste sentido, ela é toda uma série de signos e significados que permite a um grupo humano corau-nicar-se entre si. A cultura não é somente uma questão de relação com o meio ambiente, mas também de relações entre indivíduos, famílias e todos os membros do grupo. Em um nível primordial, essa dimensão interna inclui gestos e símbolos. Por alguma razão, ocorreu a algum de nossos antepassados demonstrar sen assentimento movendo a cabeça de cima para baixo, e seu desacordo movendo-a de um lado para o outro. E de se supor que sc trate de uma decisão puramente arbitrária, pois os antropólogos nos falam dc culturas em que estes mesmos movimentos têm o sentido contrário. Mas essa decisão arbitrária passou a fazer parte de nosso próprio ser, de modo que um destes gestos significa sim, e o outro, não, de tal modo que nos é quase impossível falar sim ao mesmo tempo em que movemos a cabeça no gesto negativo tradicional, ou, ao contrário, dizer não enquanto movemos a cabeça de cima para baixo. O mesmo se aplica aos símbolos. Uma seta sinaliza o caminho que temos dc seguir. Mais uma vez, a seta tem certa lógica, mas tal lógica somente funciona dentro das culturas que tem setas. Pelo menos cm teoria, cm uma cultura onde se usa o bumerangue em lugar da seta, ele poderia ser utilizado como sinal de utn caminho de duas mãos, ou de uma viagem de ida c volta. Mas isto não é assim, porque os símbolos, embora tenham sua lógica interna dentro de uma sociedade, sempre têm algo dc arbitrário. Eles são convenções que uma cultura - ou várias - adotou para indicar uma ideia qualquer.
Algo semelhante ocorre com o elemento principal do que estou chamando dc a dimensão interna das culturas, isto é, o idioma. Nele também podemos ver certa lógica, especialmente em suas palavras onomatopaicas, cuja origem parece óbvia. Nada tem de estranho, por exemplo, o fato de chamarmos um vento forte dc furacão, c outro mais brando dc silvo. Há certa lógica cm chamar o ruído que fav.einos ao caminhar pela água dc chape, e a outro som dc trovão, c a outro de estrondo. Mas, apesar desta lógica, o sentido das palavras é urna questão de convenção social. LJma vaca não precisa sc chamar vaca; nem um gato, gato. Os idiomas são forjados ao longo dos séculos, no encontro com outros idiomas, com novas circunstâncias, com novas descobertas. O castelhano atual não é o mesmo que o dc Cervantes, nem sequer o de 50 anos atrás. Na época do autor de Dom Quixofe, não sc falava de espaço cibernético, cromossomos, micróbios e bactérias. Assim, o idioma foi evoluindo ao mesmo tempo em que a própria cultura evoluiu, ao mesmo tempo em que o próprio mundo, ou pelo menos nossa compreensão dele, evoluiu. O idioma também é reflexo e molde da cultura que expressa. Nós, em espanhol, temos duas formas dc nos dirigir a outra pessoa, tú e usled [tu/você e senhor/senhora], ou vosotros e ustedes [vocês c. senhores/senhorasj, e cm alguns países, -vos [tu/você], isto é sinal dc que cm nossa cultura se entende que existem dois níveis essenciais de familiaridade, respeito e autoridade: você e senhor/senhora. Contudo, há outros idiomas nos quais existem até cinco modos dc se dirigir a outra pessoa, conforme o nível de respeito que a pessoa que fala deve à que escuta. Tais idiomas são, naturalmente, a expressão de uma sociedade altamente hierárquica, na qual é importante que cada um saiba seu lugar e permaneça nele, e que quem é supostamente inferior mostre o devido respeito a quem é supostamente superior. No dia cm que essa visão hierárquica da sociedade mudar, o idioma também começará a mudar. Vimos isto cm nossa própria cultura: meu pai tratava meu avô dc senhor, porém eu sempre tratei meu pai de você. O que parece ser uma leve mudança no idioma é também uma mudança nas atitudes e nas relações. A relação entre idioma, cultura e^ circunstâncias é fascinante. Consideremos, por exemplo, a questão do gênero. Por uma série dc razões, este assunto se tornou tema de discussão obrigatória em praticamente todas as culturas contemporâneas, isto se deve, sobretudo, ao lato de que uma série de mudanças sociais nos fazem ver a forma como as mulheres foram oprimidas ao longo da
história, e ainda o são. Este mesmo tato também é um exemplo da maneira como as culturas interagem e se afetam, de modo que na realidade não existem barreiras entre elas. Falaremos disso cm outro capítulo. Por ora, o que nos interessa é entender que, embora em diversos idiomas haja gêneros gramaticais, eles não têm o mesmo significado cm todas as culturas. Por uma série de circunstâncias que não vêm ao caso aqui, durante os últimos anos me coube viver nos Estados Unidos. Ali, como em boa parte do mundo, a questão da opressão da mulher surgiu como tema de discussão urgente c inevitável. Pois bem, em inglês, pouquíssimas palavras têm gênero, c, quando o têm, ele está diretamente relacionado com o sexo da pessoa ou do animal a que se referem. Assim, por exemplo, as palavras para designar pai c mãe, irmão e irmã e tio e tia têm gênero. Alas as que se referem a mesa, cristão, pastor c professor não o têm. Em tais circunstâncias, a questão de evitar que a linguagem seja sexista é relativamente simples: basta se certificar de que cada vez que se usar uma palavra que inclua gênero se use também sua contraparte, dizendo, por exemplo, “irmãos e irmãs da igreja”. Contudo, em espanhol o assunto não é tão simples. Em primeiro lugar, em nossa língua não apenas pouquíssimos substantivos têm gênero, como no inglês, mas todos. E os adjetivos c artigos também possuem gênero. Portanto, se fôssemos aplicar estritamente o princípio dc nos referirmos sempre aos dois gêneros, como aplicamos em inglês, teríamos dc construir frases como “todos e todas”, “os e as”, “bons c boas”, “irmãos c irmãs”, “cristãos c cristãs”, ou elaborar constantemente frases paralelas, dizendo, por exemplo: “Todas as boas irmãs cristãs e todos os bons irmãos cristãos". Para complicar as coisas, em espanhol o gênero tem certa relação com o sexo, mas ela não é sempre a mesma. Assim, bombre [homem] c masculino, mas se me refiro a um homem como uma pessoa, posso utilizar adjetivos e artigos no feminino. Então, por exemplo, digo ao meu amigo: “Você é uma boa pessoa”; e ã minha amiga: “Você c um grande indivíduo”. Deus é um termo masculino, ao passo que Trindade é feminino. Mas nem um nem outro implicam ele modo algum que o próprio Deus seja masculino, ou que a Trindade seja feminina. Por isso, se me refiro ao Ser Supremo como Deus, digo ele (Deus é bom); mas se me refiro a ele como Trindade ou como Providência, digo cia (a Trindade é eterna; a Providência é sábia). E, como se não bastasse, os gramáticos nos dizem que em nosso idioma há pelo
menos cinco gêneros. Então, alem do masculino (o cavalo), do feminino (a égua) e do neutro (o bom), existe o gênero ambíguo, pois o que em alguns lugares é dsartén [masculino - frigideira], em outros é la sartén [feminino], e o que em meu país c Ia terminal de autobuses [feminino - terminal de ônibus], em outros é lo terminal [masculino]. E há também o gênero epiceno. A baleia nasce sendo baleotc, e aplicam-se adjetivos masculinos a ele sem importar se é macho ou fêmea. Então dizemos: “O baleote preto e branco c fêmea/’ Mas, quando este mesmo baleote cresce e se torna baleia, são-lhe aplicados adjetivos femininos sem importar qual é seu sexo, e assim dizemos que “a baleia preta e branca é macho”. Portanto, embora não haja dúvida de que devemos procurar formas para que nossa linguagem reflita a igualdade entre o varão c a mulher, as soluções dadas em" inglês simplesmente não funcionam em castelhano. Nossos idiomas entendem o gênero de modo diferente, e não se pode transpor essa compreensão de um idioma a outro. Tudo isso não quer dizer que nosso idioma não é sexista, mas sim que é machista à sua própria maneira, c que devemos procurar nossas próprias soluções para os problemas de nosso idioma. Assim, por exemplo, um dos pontos em que nossa língua se mostra extremamente sexista é no uso do masculino plural para designar grupos mistos. Se for composto de dez homens, um comitê se referirá a si mesmo como nosotros [masculino - nós]. Se outro comitê for formado por dez mulheres, ele se referirá a si mesmo como nosotras [feminino], Mas, se um único homem for acrescentado ao mesmo comitê, essas dez mulheres e um homem se referirão a si mesmos como nosotros- [masculino] - e observe que eu disse a si mesmos, e provavelmente poucos leitores se deram conta do uso do masculino. Repito: há uma relação mútua entre o idioma e a cultura que ele representa. Nesta relação, um tem impacto sobre o outro. Sc meu pai tratava meu avô de senhor, e eu sempre tratei meu pai dc você, o que ocorreu foi uma variação na língua, sim, mas também uma mudança na cultura. Por isso, é de se esperar que mais cedo ou mais tarde, e provavelmente depois de muitas tentativas fracassadas, encontremos formas em que nosso idioma possa manifestar a nova visão da igualdade entre homens e mulheres, a qual pouco a pouco tambem vai se tornando parte de nossa
cultura. Em todo caso, o aspecto que estou destacando e quero sublinhar é que, como parte desse elemento interno de uma cultura, o idioma, que nos serve para nos comunicar uns com os outros, c reflexo desta cultura e, ao mesmo tempo, dá-lhe forma. E por isso que, de certo modo, a reflexão acerca da língua pode nos levar tambem a reflexões sobre a cultura. Por exemplo, por que em nosso idioma geralmente não nos culpamos pelas ações más e tampouco reivindicamos o crédito pelas boas? Por que em vez dc dizer: “queimei o pão” ou “perdi a carteira”, nós dizemos em espanhol: “o pão se queimou”, “a carteira sc perdeu”? E, do lado contrário, por que dizemos: “ocorreu-me uma ideia”? Ainda, em vez dc dizer, como cm outros idiomas, que “gostamos de algo”, por que dizemos em espanhol que “algo nos gosta”? Não pretendo responder estas perguntas aqui, mas menciono-as como exemplo do modo como as particularidades de uma língua podem nos servir dc pista acerca das particularidades da cultura que ela representa. Quando dizemos que uma cultura é, em essência, o modo pelo qual um grupo humano qualquer se relaciona entre si e com o ambiente circundante, esta relação não é somente de uso, mas também de interpretação. O que as culturas fazem não é apenas fornecer os meios pelos quais um grupo responde a seu meio ambiente, mas também o modo como o interpreta. Essa interpretação começa com o idioma, mas vai muito além disso, chegando até o mito e a religião. Assim, por exemplo, um grupo humano que reside em uma região onde a terra plana cultivável é escassa pode reagi r a tal. desafio construindo terraços e semeando milho. Visto que a construção de terraços não pode ser realizada em grupos pequenos, mas necessita de direção e coordenação, o grupo vai se organizando em torno de um sistema de governo centralizado que supervisiona não apenas a construção dos terraços, mas também a distribuição das colheitas e de outros bens. Esta resposta, no entanto, não c tudo que a cultura implica, mas ela é acompanhada de toda uma interpretação que explica quem deu o milho aos seres humanos, quem os ensinou a cultivá-lo e quem difundiu esse conhecimento. E as duas coisas se entrelaçam. Se para cultivar milho é preciso construir terraços, e para isso é necessário um governo centralizado que organize as obras públicas, a interpretação acerca das origens do milho e dc seu cultivo também serve de justificação para um governo centralizado, nas mãos daqueles que, primeiro, nos
ensinaram a cultivar o milho. Portanto, esse governo centralizado e toda a mitologia que o configura e o sustenta são, ao mesmo tempo, parte da resposta do grupo aos desafios do ambiente e parte de sua interpretação destes desafios e das soluções dadas a eles. Voltando ao próprio termo cultura, notamos que sua raiz cti-mológica não o relaciona unicamente com o cultivo, mas também com o culto. Os romanos, de cujo idioma derivamos as palavras cultura e culto, estavam convencidos de que foi o deus Saturno que deu a seus antepassados o conhecimento da agricultura, do cultivo; por isso, desde suas origens os termos culto e cultura se mesclam e entrelaçam. O mesmo sc aplica a toda cultura, por mais secular que pareça. Em toda cultura dois elementos andam juntos: as técnicas para dirigir o mundo - o cultivo - e o modo como se entende esse inundo — o culto. Isto não se deve unicamente ao fato de que o cultivo necessita de uma estrutura ideológica que lhe sirva de base. Deve-se também, e sobretudo, a que o desafio mais profundo de toda vida humana é o tremendo mistério do sentido da vida e da realidade toda. O culto é o modo pelo qual as culturas respondem ao desafio e à promessa deste mysterium tremendum [mistério que faz tremerj. E assim a cultura, enquanto nos lembra que nossas raízes estão sempre na terra, que somos feitos de pó, que sem a terra não comemos nem vivemos, lembra-nos também que, por melhores que sejam os tijolos que fazemos, o céu se encontra muito acima do alcance de nossas torres mais altas. Do mesmo modo que a cultura é impossível sem o cultivo - ou sem seus equivalentes na caça, pesca ou coleta-, assim também a cultura é impossível sem o culto. Se a cultura se relaciona com o cultivo porque este é o modo como um grupo social enfrenta os desafios e oportunidades de seu ambiente, relaciona-se também com o culto porque este é a maneira como esse mesmo grupo social interpreta e dá sentido à vida e ao mundo. ; Em síntese, como cultivo, a cultura sc defronta com o meio ambiente; como
culto, interpreta-o e lhe dá sentido. A cultura tem uma dimensão, por assim dizer, externa, mediante a qual responde aos desafios do ambiente; uma dimensão interna, por meio da qual estabelece os meios de comunicação entre o grupo; e uma dimensão que poderíamos chamar de transcendente, mediante a qual interpreta tanto o ambiente circundante quanto a própria cultura. E todos estes elementos se entrelaçam e exercem influência um sobre o outro, de modo que o
culto afeta o idioma e o cultivo, enquanto o cultivo afeta tanto o culto quanto o idioma. Além disso, a própria distinção entre cultivo e culto não é tão clara nem categórica quanto poderia parecer. Desde tempos muito antigos, c na maioria das religiões, o culto - a adoração, os sacrifícios, a oração foi utilizado para exercer influência sobre o meio ambiente, isto é, para o que chamo aqui de cultivo. Assim, um poli-nésio dc religião tradicional oferece sacrifícios para que o vulcão sc acalme, c um cristão latino-americano ora para que chova. Outro aspecto interessante em tudo isto é que a cultura é o acúmulo de gerações c gerações de experiência, aprendizado e interpretação. Um camponês sabe qual é a melhor época para semear o milho porque o aprendeu de uma longa cadeia de camponeses que lhe transmitiram sua experiência de séculos. A cultura é possível prccisarnente porque há comunicação, porque uma geração pode passar à outra o que aprendeu c igualmentc o que deturpou ou corrompeu. Por isso é tão importante o que chamo de dimensão interna da cultura. Já que, em sua essência, esta é um modo de se comunicar, todo um sistema de símbolos e significados, os grupos humanos a utilizam para transmitir de uma geração à outra a herança cio que aprenderam, do que decidiram, do que consideram importante, etc. Isto quer dizer que, cm certo sentido, uma cultura é uma memória coletiva, tanto consciente quanto inconsciente. A herança artística c literária, por exemplo, é consciente. Mas tão importante quanto ela é essa outra memória de coisas que sabemos sem sequer saber que as sabemos, mas que nossos antepassados aprenderam e foram nos legando ao longo das gerações. Permitam-me um exemplo. Em épocas relativamente recentes, os cientistas realizaram estudos muito interessantes sobre nutrição. Um deles, realizado em diferentes partes do mundo, se refere às proteínas c seu aproveitamento. Sabia-se há muito tempo que a proteína é necessária para a boa nutrição c que as fontes mais completas dc proteína são geralmente as carnes c outros produtos de origem animal.Também se sabia que há certos produtos vegetais, como feijão e cereais, que têm proteínas. O que não sabíamos é que essas proteínas de origem vegetal são muito melhor aproveitadas quando consumidas juntas, cm uma única
refeição. Agora esses estudos nos revelam que quando, por exemplo, comemos o milho e o feijão juntos, o aproveitamento tanto de um quanto de outro se multiplica. O mesmo ocorre com o arroz e o feijão e vários outros alimentos. O que parece surpreendente é que já sabíamos disso, não graças aos estudos científicos, mas à memória coletiva das culturas. Por isso, entre as antigas culturas indo-americanas, as pessoas sempre estiveram acostumadas — sem que soubessem por quê - a comer feijão com tortilhas de milho, e quinoa com batata e milho. Como elas sabiam tais coisas? Ao que parece, porque ao longo das gerações seus antepassados foram descobrindo que certas dietas eram mais saudáveis do que outras. E assim a cultura, corno memória coletiva dos povos, inclui conhecimentos cujas origens se perdem na penumbra da pré-história. Esses conhecimentos nos ajudam com o que chamo aqui de cultivo, isto é, o uso dos recursos do ambiente para satisfazer as necessidades. Mas também se arraigam no culto, na interpretação que as culturas dão a toda a realidade. E assim o cultivo do milho, e toda a sabedoria que ele encerra, é atribuído, em nossas culturas ancestrais, aos mesmos deuses que nos deram a vida. Portanto, uma cultura não é somente uma série de artefatos -instrumentos de caça, vestimenta, habitação, etc. - nem tampouco é um meio interno de comunicação c interpretação, um idioma, uma cosmovisão, mas as duas coisas fundidas em uma, impactando-se mutuamente, e ambas unidas por uma interpretação da realidade, por um culto. Por isso, repito, é importante recordar que a cultura é cultivo e culto. Além disso, a partir de tudo o que já se disse, deve-se concluir que o ser humano náo pode viver sem cultura. A cultura é tão nossa e tão inevitável quanto o ar que respiramos. Querer viver sem cultura é como desejar viver sem ar. E como o ar, que, apesar dc estar sempre em torno de nós, frequentemente acaba sendo esquecido, assim também a cultura está presente cm toda nossa vida c em todas as nossas ações, ainda que não nos demos conta disto. Ela se reflete em nossas ações e pensamentos desde o momento em que despertamos até o momento em que caímos no sono, c ainda aí continua ativa em nossos sonhos e pesadelos. Esta imagem da cultura como o ar que respiramos nos indica três coisas. A primeira já mencionamos: na maioria das vezes ela está simplesmente aí, como o ar que respiramos e não percebemos. A segunda sugere que, como o ar, a cultura
é mais percebida quando algo a perturba. Só reparamos no ar quando o vento sopra, ou quando ele nos falta. Do mesmo modo, damo-nos conta de nossa cultura quando algo a desafia, quando alguém diz ou faz algo que não se encaixa nela, quando nos encontramos cm um ambiente tão estranho que nossos padrões culturais não funcionam, quando há um encontro entre duas ou mais culturas. E a terceira indica que c impossível separar, dc um lado, o que fazemos e o que pensamos e, de outro, nossa cultura. O que fazemos leva a marca de nossa cultura a tal ponto que, sem ela, perde ou muda dc sentido. Não é possível abstrair a vida da cultura, ou as idéias da cultura, ou a fé da cultura. ■Como veremos mais adiante, isto implica que a solução comum de sugerir que na missão se deve distinguir a cultura do evangelho c pregá-lo sem ela, embora pareça muito lógica c muito fácil, na realidade não c; possível. ’ Contudo, já que estamos talando de culto, vamos passar mais dirctamentc aos temas teológicos perguntando-nos o que a teologia cristã nos diz acerca da cultura.'Neste contexto, a primeira coisa a ressaltar é que a cultura faz parte do plano ou propósito de Deus na criação do ser humano. As duas versões da criação existentes nos primeiros capítulos de Gênesis concordam neste ponto. Na primeira, Deus diz: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra” (Gn 1.26). Na segunda, é-nos dito que “Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Eden para o cultivar e o guardar' [os grifos são meus] (Gn 2.15).Tanto em um caso quanto no outro, relacionar-se com a terra, fazer dela algo novo, desenvolver cultura faz parte do propósito para o qual o ser humano foi criado. Ao ler a história do jardim, frequentemente imaginamos que o propósito de Deus era que tudo ficasse assim, como estava, e que, se o pecado não entrasse no meio, ainda andaríamos nus e ociosos no jardim. Mas não. Desde seus primórdios a humanidade recebe dc Deus uma comissão: cultivar o jardim, ser senhora sobre o restante da criação. Este cultivo c este domínio devem ocorrer à imagem c semelhança de Deus, que cria coisas novas; portanto, a criatividade e o esforço humanos para entender e governar o restante da criação fazem parte da boa criação de Deus.
Há uma canção popular dominicana que diz: “O trabalho deixo somente ao boi, porque Deus fez o trabalho como castigo”. Essa ideia de que o trabalho é castigo por causa do pecado, embora bastante comum, não é o que a Bíblia diz. O trabalho, o cultivo do jardim, a responsabilidade pelo restante da criação não são castigo, e sim parte da boa criação de Deus. O que é de fato resultado do castigo é que o trabalho se torne árduo e a terra produza cardos e espinhos. '. Este ponto c importantíssimo, pois está estreitam ente relacionado à nossa visão dos propósitos de Deus. Em especial, está relacionado a certo primitivismo que se tornou bastante comum em alguns círculos. Ao ver os abusos que a civilização comete, não somente entre seres humanos, mas também cm detrimento do meio ambiente, algumas pessoas sustentam que a própria ideia de civilização é um erro grave e que a melhor vida é a mais simples, a que não faz uso das invençõe.s recentes. Dizem então que o próprio processo pelo qual as pessoas aprenderam a cultivar a terra com melhor produção, a se vestir com maior facilidade, etc., é uma corrupção da verdadeira natureza do ser humano, cuja felicidade se encontra na vida primitiva. Ainda que nos demos conta das terríveis conseqüências da ação humana sobre o meio ambiente, tal primitivismo não c a solução. ‘Não é porque as mesmas culturas que poluem a atmosfera e o mar e que destroem espécies inteiras de animais e plantas nos fornecem os meios para curar grande número de doenças que antes pareciam incuráveis, de modo que podemos continuar aspirando a essa vida primitiva que alguns sugerem. (Eu mesmo, se não fora a medicina moderna, teria morrido dc apendicite aos 7 anos de idade.) E este primitivismo tampouco c a solução porque não é o que a própria Bíblia sugere. Nela, Deus cria o ser humano para que este cultive o jardim, para que domine sobre o restante da criação, para que se multiplique e encha a terra. Mesmo à parte dc tais posturas primitivistas, o fato é que ao longo das gerações a maioria dos cristãos se acostumou a pensar que o propósito final da criação se cumpriu no sexto dia, ou seja, que Deus fez tudo como deveria ser; que tudo já estava feito, e que assim teria permanecido não fosse pela queda. Mas o que Gênesis diz é diferente: o jardim tem de ser cultivado. E o próprio cultivo, como temos ressaltado, c uma maneira de afetar o meio ambiente de modo que sua produção não seja a mesma que seria por sua
própria natureza. A ideia segundo a qual o jardim do Fxlcn era o propósito final da criação está profundamente arraigada em uma tradição teológica que tem dominado boa parte da teologia ocidental. Segundo esta tradição, o próprio fato dc haver história c resultado da queda, pois sem a queda só teria havido necessidade de permanecer eternamente no jardim. Mas há outra tradição cristã muito antiga, muitas vezes esquecida no Ocidente, que vê o jardim e as histórias de Gênesis como o começo da criação. A figura mais eminente nessa tradição é Irineu dc Lião, pastor cristão da segunda metade do século 2 que a teologia contemporânea começa a redescobrir. Sem entrar em detalhes sobre sua teologia-, vale a pena ressaltar que Irineu - e com ele um bom número dc autores cristãos antigos - vê a história como parte do propósito dc Deus. Não é que Irineu pense que tudo que acontece na história está bem, ou que o curso atual da história reflete a vontade de Deus, mas cie sustenta que o fato de haver história sempre fez parte do plano de Deiis.'t)eus fez Adão c Eva, não como deveriam ser no final, mas para que se desenvolvessem e crescessem, como diz ele, em justiça, de modo que pudessem desfrutar de comunhão mais plena com Deus. ■ 1 Discuto isto mais amplatncntc na obra Retorno à história do pensamento cristão.
São Paulo: Hagnos, 2011.
Todos nós sabemos que depois de Gênesis 1 e 2 vem Gênesis 3. Depois das histórias da criação vêm as histórias da tentação, do pecado, da maldição e da expulsão do jardim. As coisas não são como deveriam ter sido. Teremos oportunidade de tratar deste assunto no próximo capítulo, pois toda cultura humana, ao mesmo tempo em que reflete o dom de Deus, reflete também o pecado humano. Mas por enquanto é importante ressaltar que, mesmo depois da queda. Deus participa com o ser humano na criação da cultura. Um detalhe que muitas vezes esquecemos, mas que os antigos autore.s cristãos sempre consideraram de grande importância, é que, ainda antes dc tirá-los do Éden, Deus faz vestimentas de pele para o homem c a mulher (Gn 3.21). Para esses antigos pais da igreja, como Irincu, isto era sinal do amor constante de Deus, que continua cuidando de suas criaturas humanas apesar do pecado delas. Podemos acrescentar a isto que também é sinal de que a cultura faz parte da boa obra de Deus. E o próprio Deus que, ao mesmo tempo em que lança o ser humano cm um mundo hostil, lhe provê os primeiros meios para se proteger contra os rigores
deste mundo. Dizíamos que parte do propósito dc Deus ao criar a criatura humana e fazê-la livre é que essa criatura desenvolva cultura, que se relacione com seu ambiente em criatividade c amor, à imagem e semelhança da relação de Deus com o mundo e a humanidade. O jardim, tal como Deus o fez, c apenas o ponto de partida. Parte do propósito de Deus é que, no desenvolvimento dessa cultura, o ser humano produza algo novo, novas relações com o ambiente que o rodeia. E não é por acaso que a história da humanidade, que começa cm um jardim no qual o ser humano tem comunhão direta com Deus, culmine em uma cidade, na qual ele tem de novo comunhão direta com Deus. A cidade cra para os antigos o próprio símbolo do engenho inventivo humano, tanto que nosso termo civilização é proveniente do latim civitas, cidade, e, por isso, a civilização não é outra coisa do que a cidadificação. Na Bíblia, o processo que vai de Gênesis a Apocalipse, do jardim à cidade, da árvore da vida que se proíbe no jardim à mesma árvore da vida que se promete na cidade, faz parte dos propósitos de Deus para sua criação. Em suma, a cultura, os mil métodos pelos quais os seres humanos enfrentam as promessas e os desafios de seu ambiente, veein um campo e o tornam um jardim, e fazem dele a base para essa ordem social que é a civitas, a polis, a cultura, enfim, é dom, chamado c promessa de Deus. O que dissemos acima é a base do que chamamos tradicionalmente de mordomia. Em algumas igrejas fala-se dc mordomia somente quando c hora de fazer promessas para o orçamento da igreja. Na realidade, porém, a mordomia é um elemento essencial do que a Bíblia diz a respeito do lugar do ser humano no universo. Em Gênesis 2 é dito que Deus pôs o homem no jardim para o cultivar. Isto significa que Deus lhe deu o jardim para que o administrasse em nome de Deus, para que fosse seu mordomo. Em Gênesis 1 c dito que, ao fazer o ser humano — tanto homem quanto mulher —, Deus o fez com o propósito dc que dominasse sobre o restante da criação, ou seja, governasse sobre a criação em nome dc Deus. Este é o princípio essencial da mordomia: administrar o que temos c faze-lo conforme a vontade dc Deus. Mas há um aspecto da mordomia que muitas vezes não percebemos. A maioria das parábolas de Jesus sobre este tema são também parábolas acerca da ausência de Deus: “Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma
sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhc uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois, se ausentou do país" (Mt 21.33; Mc 12.1). “[...J dez virgens que [...]-saíram a encontrar-se com o noivo. [...] E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram” (Mt 25.1-5). O reino dos céus também “será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens” (Mt 25.14). “Cingido esteja o vosso corpo, e acesas, as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu senhor, ao voltar ele das festas de casamento [...]” (Lc 12.3536). “Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável" (Lc 20.9) [os gritos são meus]. Estamos tão acostumados a falar da presença de Deus, de sua companhia c consolo, que raras vezes nos detemos em pensar sobre este tema da aparente ausência do Senhor. Porém, de certo modo, a própria ideia de mordomia requer ausência, ou ao menos distância, espaço. O teólogo dinamarquês Sorcn Kierkegaard dizia que o valor c a fidelidade de um soldado não são demonstrados quando o capitão está presente, mas quando sc encontra ausente. Por isso, um bom capitão não está constantemente vigiando e examinando o que fazem seus soldados. Ao contrário, dá-lhes certa medida de liberdade, certo espaço para que pratiquem sua lealdade e exercitem sevi valor. Poderíamos dizer o mesmo em termos menos belicosos a respeito do chefe de qualquer empresa. Se o chefe insiste em estar presente em todo momento e em todo lugar, olhando e vigiando tudo, os empregados não desenvolverão sua iniciativa. Nunca sc poderá dar responsabilidades importantes a eles. Nunca se saberá quais deles são bons empregados e quais não. IJm bom chefe dá instruções a seus empregados e depois lhes dá espaço e liberdade para que cumpram suas tarefas. De vez. em quando lhes pede para prestar contas, mas não constantemente. Outro exemplo: quando meu irmão e eu éramos crianças, nossos fiais nos davam uma pequena quantia semanal. Não era muito dinheiro, mas contávamos com ele para qualquer lanche na escola ou doce após a aula, e para pagar a entrada se quiséssemos ir ao cinema. Davam-nos o dinheiro na segunda-feira c não nos diziam uma única palavra mais. Tínhamos total liberdade para administrar e esbanjar o que possuíamos. Às vezes chegava o sábado e queríamos fazer algo especial, mas não podíamos, porque n quantia havia acabado. O que nossos pais estavam fazendo? Estavam nos preparando para a vida negando-se a intervir imediatamente em qualquer problema que tivéssemos como resultado de nossa
má administração e nos deixando gozar do fruto de uma boa administração. Para isso, tinham de se ausentar desse aspecto de nossas vidas. Mas essa ausência era sinal de uma presença e um carinho muito maiores do que se ficassem nos vigiando a cada passo. O mesmo ocorre com a mordomia cristã. A palavra do Novo Testamento que costumamos traduzir por mordomo na realidade quer dizer administrador da casa. O mordomo é oikónomos, aquele que governa a casa. E daí derivamos a palavra economia, que não é outra coisa do que a administração de toda a grande casa que Deus nos deu, quer dizer, a mordomia da criação. Pratica a mordomia cristã a pessoa que administra fielmente esta casa que Deus deixou ao nosso cuidado. Assim, a mordomia, a administração que Deus nos deu, baseia-se nessa realidade difícil de sua ausência. Deus não está direta e imediatamente presente de tal modo que possamos simplesmente abandonar os problemas que nos rodeiam porque ele vai se ocupar deles. Esta é a grande falácia do famoso argumento de Gamaliel: “se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá; mas, se é de Deus, não podereis destruí-los” (At 5.3Sb-39a). A verdade é que há muitas coisas que não são de Deus e progridem. Se não fosse assim, não haveria mal no mundo; não haveria fome, nem pobreza, nem guerra, nem terrorismo; não haveria injustiça no mundo e na igreja. Deus nem sempre intervém direta e imediatamente para deter o mal ou para promover o bem. Esta é tarefa das criaturas que ele pôs na terra para que a administrem em seu nome. Dc certo modo, Deus se ausenta; e essa ausência de Deus é o espaço para nossa mordomia. Mas o outro lado da moeda também c verdadeiro: o Senhor está presente. Em termos teológicos, esta presença sc dá, acima de tudo, na presença do Espírito Santo. Jesus mesmo o disse quando se preparava para ausentar-se dentre seus discípulos: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco” (Jo 14.16). Esta presença do Deus ausente é o que nos permite conhecer sua vontade e servi-Jo. Além disso, é essa presença do Deus aparentemente ausente que permite a toda criação continuar existindo, pois sem o sustento divino toda cia se desvaneceria. E justamente isso que ocorre nos dois primeiros capítulos de Gênesis. Deus cria o ser humano e o coloca no jardim para que o lavre. Deus semeou o jardim,
porem sua criatura humana fica encarregada da lavoura. Certamente, Deus continuará providenciando a chuva e o crescimento, mas, ao mesmo tempo, deixa esse espaço ao ser humano para que dé forma ao jardim, para que o cultive. Deus cria o ser humano para que .J tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra” (Gn 1.26). Certamente, Deus continua reinando sobre toda a criação. Mas agora nomeou esta outra criatura para que seja como seu representante, para que governe em seu nome; c fazer algo cm nome de alguém implica certa ausência desse alguém. Bem se poderia dizer, entáo, que a origem da cultura está justamente nesse espaço, nessa comissão que Deus dá ao ser humano para que, como seu representante, cultive o jardim e governe sobre o restante da criação.’ A cultura c o que a humanidade faz com esse espaço c este mundo que lhe foram confiados. Por isso, repito, o fato dcihaver cultura e o fato de a cultura sc desenvolver fazem parte do propósito dc Deus na criação do ser humano. * Toda administração tem seus limites. O capitão não diz ao soldado para mostrar seu valor c sua lealdade fazendo o que bem lhe parecer, mas estabelece certas normas a serem seguidas. Se emprega seu poder para abusar dos demais, o soldado não mostra lealdade, mas o contrário. Porem, apesar dessa possibilidade, o capitão deixa o soldado encarregado de seu posto, dando-lhe instruções acerca do que deve fazer e deixando seu cumprimento em suas mãos. O chefe não diz ao empregado que administre a empresa c seus fundos como quiser, mas que o faça segundo os propósitos da empresa e dentro dos limites de sua autoridade. Certamente, um empregado desonesto pode fazer uso de sua autoridade para roubar dinheiro da empresa. Mas, apesar dessa possibilidade, o chefe deixa o empregado encarregado de suas responsabilidades. Meus pais sabiam que podíamos empregar mal o dinheiro, ou ate em coisas que eles considerariam más, porém, apesar disso, davam-nos nossa quantia semanal e nos deixavam encarregados de sua administração. Algo semelhante ocorre no jardim. Deus dá autoridade à criatura humana para que o cultive e coma dele. Mas essa autoridade, pelo próprio fato de ser delegada, deve ter seus limites. Não é como se o chefe da empresa desse um cheque cm branco ao empregado. E, antes, como
se lhe dissesse: “Você vai me representar neste e naquele assunto, mas sobre este outro aspecto dc nossos negócios você não tem jurisdição.” No meio do jardim há uma árvore da qual os seres humanos não devem comer. Ela não está ali como uma espécie de cilada para tentar o ser humano, mas simplesmente porque sua mordomia sobre a criação tem seus limites. Neste caso, o limite é a árvore. Voltando ao que dizíamos, a mordomia requer certa medida de ausência. O livro de Gênesis não diz isto exatamente com essas palavras. Mas é interessante que em Gênesis 1 e 2 se fala repetidamente de Deus c sua obra, ao passo que no episódio da queda, cm Gênesis 3.1-7, Deus não parece estar presente. Fala-se dele, sim, mas na terceira pessoa, como se fosse alheio ao diálogo que ocorre entre a serpente e a mulher, e em seguida está ausente quando tanto o varão quanto a mulher; comem do fruto proibido. No próximo capítulo voltaremos a esse episódio. Mas, por ora, o aspecto que desejo destacar c que a mordomia implica liberdade e autoridade, estas podem ser mal empregadas.1 O mesmo se aplica à cultura. Ela requer liberdade e autoridade para ser construída, se não por um único indivíduo, por todo um grupo humano. O mau uso dessa liberdade e autoridade bem pode resultar em grandes males. Mas isto não quer dizer que o próprio fato de o scr humano ter cultura e dc descnvolvê-la seja mau, como tampouco era mau que cie cultivasse o jardim c dominasse sobre o restante da criação. Assim, podemos dizer sobre a cultura o mesmo que Irineu diria acerca da história: o fato de haver história não é mau; o problema está no modo como a história se desenvolveu. O fato de haver cultura faz parte do plano de Deus; o problema está nos rumos que a cultura tomou. Voltaremos a este assunto no próximo capítulo. CULTURA E PECADO I ?!'o capítulo anterior, finalizamos ressaltando que, embora o r \\ [j fato de haver cultura faça parte do propósito de Deus, a fores '*•; ma concreta que as culturas têm tomado nem sempre reflete nem serve a este fim. Entre a criação tal como Deus a deseja e tal como nós a experimentamos cm nossos dias se encontra a queda. Sem entrar cm discussões a respeito de em que a queda consiste exatamente, há alguns pontos que devem ser mencionados logo de início.
já comentamos o primeiro deles. Conforme a narrativa em Gênesis 3, ainda antes de tirar os seres humanos do jardim Deus lhes faz vestimentas dc pele. Desde épocas muito antigas, tanto rabinos judeus quanto teólogos cristãos viram nisto um sinal da compaixão de Deus, cjuc não abandona sua criatura mesmo quando é abandonado por ela, mas lhe dá vestimentas mais confortáveis do que as folhas com as quais tentara se cobrir. O segundo ponto é semelhante. Ainda que a ira de Deus se manifeste nas maldições sobre o homem, sobre a mulher e sobre a terra, o fato em si de eles serem expulsos do jardim não é necessariamente uma maldição. Também desde tempos muito antigos, essa expulsão c vista como um ato da misericórdia de Deus, que não quer que o ser humano viva para sempre em sua condição de pecado. Deus o expulsa do jardim para que “[...] não estenda a mão, c tome também da árvore da vida, c coma, e viva eternamente” (Gn 3.22). Em outras palavras, Deus está livrando o ser humano da dor de uma eternidade miserável por meio da morte. E por isso que essa mesma árvore da vida — dc cujo fruto Gênesis nos diz que Deus não quer que o ser humano coma - é prometida no Apocalipse: “No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mes, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição.” (Ap 22.2-3). O terceiro ponto c que urna das conseqüências da queda c a sujeição entre os seres humanos, que iníclizmcntc sc tomou parte de todas as culturas. No caso dc Gênesis, observamos essa sujeição nas relações do varão com a mulher. Vamos observá-la mais de perto: Gênesis 1 não nos diz muito acerca da criação do varão ou da mulher, mas simplesmente que Deus criou o ser humano à sua imagem, que o criou macho e fêmea c lhe deu poder sobre o restante da criação. Em Gênesis 2 a história c mais detalhada. Ali Deus cria primeiro o homem c decide que “Não c bom que o homem esteja só; far-lhe-ci uma auxiliadora que lhe seja idônea” (Gn 2.18). Em primeiro lugar, c interessante observar que esta c a primeira vez que Gênesis diz que algo não é bom. O ser humano sozinho não é bom. Por isso Deus decide criar-lhe “uma auxiliadora que lhe seja idônea ou uma ajuda adequada”. Estas duas palavras merecem explicação, pois frequentemente são interpretadas no sentido de que
a mulher deve ser uma ajudante submissa do homem. De fato, a palavra “ajuda”, que se aplica aqui àquilo de que o varão necessita, é a mesma que se emprega repetidas vezes para indicar que Deus é o "ajudador” de Israel e dos fiéis. Assim, por exemplo, o Salmo 33.20 diz: “Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo”. A ajuda não é uma questão de ser serviçal e submisso, ou de dar ao outro o que ele pedir ou mandar, mas sim de socorrê-lo com força, apoiá-lo com vigor. Dizer que o que se busca para o varão é uma “ajuda” significa que se busca quem o possa apoiar c socorrer, não porque esse alguém seja fraco, mas porque é forte e é fonte de fortaleza. A outra palavra, “que lhe seja idônea” ou “adequada”, também c interessante. Literalmente, o que o hebraico diz é: “como diante dele”, isto é, como sua imagem em um espelho. O que se busca, então, não c uma “ajudante”, e muito menos um ser inferior, mas um ser que, por ser igual ao varão, lhe possa ser de real ajuda e apoio, como Javé o é para Israel. Pode-sc observar isso no que se segue imediatamente. Deus cria animais e aves. Forma-os do mesmo pó de que o varão foi criado, e eles são trazidos ao homem, como diz o texto, “[...J para ver como este lhes chamaria; e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles” (Gn 2.19). Na mente semita e na de muitos povos antigos, dar um nome era muito mais do que a ação de determinar quais sons seriam empregados para designar algo. O nomear era também uma reivindicação de poder sobre o nomeado. Quem põe nome reivindica autoridade. Portanto, aqui o nomear faz parte do que Deus disse antes, que o ser humano teria poder sobre todas as demais criaturas. Contudo, o próprio fato de reivindicar poder exclui a possibilidade de que o outro seja “ajuda idônea”, ajuda como reflexo de si mesmo. Por isso, a criação dos animais termina com a frase: "para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea’’ (Gn 2.20). E então que ocorre o conhecidíssimo episódio da costela: Deus faz o varão dormir, tira-lhe uma costela c dela faz a mulher. E quando Deus lhe traz a mulher, como antes lhe trouxera os animais, o varão reconhece a estreita união entre eles: “Esta, afinal, c osso dos meus ossos e carne da minha carne [...]” (Gn 2.23). Em outras palavras, esta, sim, é corno eu. Esta, sim, pode ser idônea, corno meu próprio reflexo nas águas de um lago. E então vem a questão do nomear. Todos os animais foram trazidos ao homem para que os nomeasse e, assim, reivindicasse autoridade sobre eles. Agora que a mulher lhe é apresentada, o que o varão faz é compartilhar seu nome com cia. Nossas Bíblias
traduzem esta passagem dizendo: "Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada” (Gn 2.23, NV1). A versão antiga dizia: “[...] chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada” (ARA). O que ocorre é que, em hebraico, as palavras para designar “varão” c “mulher” são muito parecidas, de modo que o que o homem está fazendo não c dando à mulher um nome, mas compartilhando com ela seu próprio nome. E como se ele dissesse: “Eu sou varão, aquilo c elefante, e isto c leão. Mas esta é ‘varoa’, porque c a ajuda adequada dc que eu necessitava.” Em seguida vem o episódio da serpente e da queda, e a primeira coisa que Gênesis nos diz depois das maldições contra a mulher, contra a terra e contra o varão é que "deu o homem o nome de Eva a sua mulher” (Gn 3.20). Em outras palavras: agora, em vez de ser “osso de meus ossos” e “varoa”, eu lhe porei um nome c assim reivindicarei autoridade sobre ela. Em resumo, uma das conseqüências da queda é a sujeição dos seres humanos entre si, em especial a do gênero feminino ao masculino. Várias formas de sujeição, exploração e escravidão surgirão nas diversas culturas.'A cultura, que em princípio faz parte da vontade de Deus para a criação, torna-se agora meio e expressão de exploração. Por último, deve-se observar que, como resultado da queda, a própria terra sofre: “[...] maldita c a terra por tua causa; em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão )...]” (Gn 3.17-19). Se a cultura é o modo corno um grupo humano reage ao meio ambiente — se um dos elementos íundamentais da cultura é o cultivo -, isto se torna agora uma relação de desafio e até de inimizade. Já no jardim o ser humano tinha de cultivar. Contudo, agora não c uma simples questão de cultivar, mas de lutar constantemente contra elementos na própria natureza que dificultam a vida.’ Agora a cultura cobra uma dimensão que frequentemente se transforma em hostilidade entre o ser humano e o meio ambiente. A partir desse momento, todas as culturas terão de enfrentar as dificuldades da vida; dificuldades cujo símbolo e síntese é uma terra que não quer produzir c da qual é preciso tirar fruto quase à força. Umas menos e outras mais, todas as culturas humanas se veem obrigadas a ver na natureza não apenas urna aliada, mas também um desafio. E, diga-se de passagem, poucas culturas manifestam um desejo tão impetuoso de subjugar o mundo, como a civilização ocidental, como se a
natureza fosse nossa inimiga. Mas, apesar de tudo, isso não significa que o fato de haver cultura c mau em si mesmo, nem que as culturas são más em si mesmas. Quer dizer simplesmente que as culturas, como toda realidade humana, foram distorcidas pelo pecado e que, portanto, como toda realidade humana, se acham carentes de redenção. Essa distorção toma forma diferente nas diversas culturas. No entanto, apesar das diferenças, existem traços comuns. Como conseqüência do pecado, toda cultura, além de ser um modo de reagir ao meio ambiente, é uma maneira de promover a exploração dos fracos e sua sujeição aos mais fortes. Na Atenas antiga, que hoje dizemos que foi o berço da democracia, quem votava e tomava todas as decisões eram os cidadãos. Os escravos e as mulheres ficavam excluídos. Alguns dos filósofos gregos famosos, cuja sabedoria foi tal que ate hoje, 20 e tantos séculos mais tarde, parece-nos digna de admiração, ofereceram toda cspccic de razões pelas quais se justificava a escravidão. Assim, por exemplo, Aristóteles defendia que enquanto os gregos eram livres por natureza, os demais — os bárbaros — eram escravos por natureza. E claro que Aristóteles tinha dc deixar espaço para casos como o de Sócrates, o mestre de seu mestre Platão, que foi capturado cm batalha e, por algum tempo, ficou submetido à escravidão. Mas o fato é que a tão citada democracia ateniense era democrática apenas para uma pequena porção da população total. Logo, a cultura grega, com todo seu esplendor, sempre carregou o selo do pecado. O mestno se pode dizer a respeito de qualquer outra cultura. O Império Romano, com sua himosaj>ax romana, também encontrou meios de justificar sua expansão opressora e de afogar em sangue qualquer tentativa de libertação. A Espanha, no século 15, a fim de oprimir, explorar c depois expulsar judeus e mouros, inventou o mito da reconquista, que a fazia aparecer como instrumento escolhido dc Deus para a preservação da fé. E no scculo seguinte, o 16, lançou-se à sua grande empresa conquistadora declarando que o fazia para a propagação da fc c para o bem dos habitantes dessas terras. Os Estados Unidos da América sempre disseram estar fundamentados no princípio de que “todos os homens são dotados por seu Criador de direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade”. Todavia, na realidade isso se referia
somente aos varões brancos e, como foi aplicado em alguns casos, aos varões brancos com propriedades. A mesma nação que supostamente se fundamentava sobre tais direitos se dedicou por gerações a roubar as terras dos habitantes originais do continente. Na cultura clássica chinesa, criou-se um conceito tal da beleza feminina que se deformavam os pés das meninas, e as mulheres mal conseguiam andar. Roberto de Nobili tentou levar a cabo na índia uma missão que refletisse os valores culturais do país, e foi criticado com razão por aceitar o sistema dc castas como se fosse somente um elemento iníquo da cultura desse país. O Império de Pachacútcc c a cultura que floresceu com ele praticaram as deportações em massa dos conquistados. Em suma, toda cultura carrega o selo do pecado. O mesmo se aplica à cultura ocidental, que tanto impactou a modernidade. E uma cultura extremamente individualista, na qual a solidariedade tem pouco espaço, exceto quando convém ao indivíduo. E uma cultura que vê a concorrência e a sobrevivência do mais forte como o melhor modo de organizar a sociedade e, sobretudo, a economia. E uma cultura que tem se destacado por sua exploração e destruição do meio ambiente e que parece se basear na premissa de que os recursos da natureza não têm limite. Percebemos isto na expressão fundamental de toda cultura, que é seu idioma. Esta língua espanhola que falamos e amamos e que é um dos elementos característicos de nossa cultura é também a síntese de múltiplas opressões c injustiças. Se nós dizemos amo, amas, ama, amamos, amais, amam, é porque nossos antepassados romanos conquistaram nossos ancestrais celtibéricos, com toda a dor e as tragédias que as conquistas sempre causam. O motivo pelo qual dizemos queso [queijo], que se parece muito mais com o alemão Kaese do que com o francês frommage ou o italiano fromaggio, é a conquista de nossos ancestrais romanos por nossos antepassados godos, com toda a dor c as tragédias que as conquistas sempre causam. Sc um escorpión [escorpião] é também um alacrân, e quem constrói com tijolos é um albanil [pedreiro], se a flor da laranja se chama azahar, e pagamos tarifas [impostos] ao governo, c se guardamos amêndoas na a lace na [armário] c dizemos ojalá [oxalá] quando desejamos que algo ocorra, é porque nossos antepassados mouros conquistaram nossos ancestrais godos, com toda a dor c as tragédias que as conquistas sempre causam. A razão de falarmos espanhol e não árabe c a conquista de nossos ancestrais mouros por nossos antepassados asturianos, castelhanos, aragoneses e catalães, com toda
a dor e as tragédias que as conquistas sempre causam. Se no espanhol dizemos yo e não eu, é porque nossos antepassados castelhanos conquistaram nossos ancestrais galegos, asturianos c andaluzes, com toda a dor e as tragédias que as conquistas sempre causam. A razão pela qual comemosp/w [mandioca], e alguns de nossos povos constroem bohíos [cabanas | junto ao batey [área de engenho], c comemos chocolate, aguacalc [abacate], cacahuatcs [amendoins] e matz [milho], é a conquista de nossos ancestrais indígenas por nossos antepassados espanhóis, com toda a dor c as tragédias que as conquistas sempre causam. E se as pessoas do Caribe comem malanga, quimbombó, mangú, fufii e mofongo, é porque nossos antepassados espanhóis escravizaram nossos ancestrais africanos, com toda a dor e as tragédias que a escravidão sempre causa. Cui i ura r rtLADO
E, para que não pensemos que isto se aplica somente i nossa cultura, analisemos muito brevemente um exemplo tirado do inglês. Nesta língua existem palavras diferentes para designar o animal vivo e sua carne. Assim, uma cow [vaca] sc torna beef [carne de gado] ao ser cozida. A sheep [ovelha] se torna muUon [carne de ovelha], e o hog [porco] se tornapork [carne de porco]. O que é notável é que, em todos esses casos, a palavra para designar o animal vivo tem origem angio-saxônica, enquanto a palavra que se refere à carne é parecida com o francês. Por quê? Simplesmente porque no ano de 1066 os normandos do norte da França conquistaram a Inglaterra, e por longas gerações a população angiosaxônica permaneceu subordinada aos normandos. Assim, a diferença dc nomes entre o animal vivo e sua carne reflete o fato de que eram os anglosaxões oprimidos que criavam os animais, c os normandos privilegiados tjue comiam sua carne. Toda cultura carrega o selo do pecado cm suas próprias práticas internas, no modo corno sc organiza, na forma pela qual justifica a opressão c a injustiça, e frequentemente na maneira como pretende se impor sobre outras culturas. Isto nos leva a outro modo cm que o pecado se manifesta na cultura. Dizíamos no início que uma cultura é a forma pela qual um grupo humano reage aos desafios de seu meio ambiente: e se comunica entre si. Mas agora é preciso acrescentar que, para qualquer cultura, as outras culturas que a rodeiam ou com as quais se depara por alguma razão fazem parte de seu meio ambiente. E nesse encontro entre culturas sc vê também o selo do pecado. Assim como, por causa do pecado, o ser humano vé o outro ser humano corno objeto de exploração e vê a terra como inimiga renitente da qual tem de extrair o
sustento, da mesma maneira, também por causa do pecado, cada cultura vê as demais como parte de um ambiente hostil e, portanto, como adversário que se deve eliminar ou absorver. > Vamos dizê-lo de modo bem duro: por causa do pecado, toda cultura tem ambições imperialistas. Por sua própria natureza, qualquer cultura imagina ser o melhor modo de responder às realidades da vida e de interpretar essas realidades. Ao se deparar com outra cultura, com um modo alternativo de responder à realidade e interpretá-la, esse modo alternativo ameaça seu próprio ser e, portanto, aquela outra cultura é vista como inimiga que deve ser vencida. ■ Dc certo modo, essa é a base do imperialismo. Ao longo da história, os impérios se autojustificaram vendo-se a si mesmos como portadores de uma cultura superior, cujos benefícios queriam fazer chegar a seus vizinhos'. Porém, na realidade, o que eles sempre tentaram foi impor sua cultura a seus vizinhos e explorá-los com a desculpa de que não pertenciam totalmente à cultura supostamente mais avançada do império. Assim se justificaram as invasões persas cm territórios gregos, com a finalidade de levar a essas terras os supostos benefícios de ser súditos dc quem os persas chamavam o “Rei dos Reis”. Assim sc justificaram as conquistas de Alexandre, cuja intenção era entregar as realizações da civilização grega ao restante do mundo, inclusive à própria Pérsia, que antes havia invadido a Grécia. Assim se justificaram as conquistas romanas, cuja finalidade era levar ao resto do mundo os benefícios da ordem romana e dc suas leis, sobretudo construindo cidades ao estilo dc Roma. Assim se justificaram as conquistas árabes, cuja intenção era entregar a luz do Corão aos povos infiéis. Assim se justificaram as conquistas incaicas, cujos mitimaes [colonizadores] levavam aos povos conquistados os benefícios daquilo que haviam recebido de Mancu Qhápaj e Mama Ojllo. Assim foram justificadas as conquistas CUI I IJRA [■ PtCADO
espanholas, nas quais a espada e a ganância sc esconderam detrás do pendão da cruz e da cvangelização. Assim c justificada a invasão norte-americana do Iraque, que supostamente faz parte de um processo que visa a levar as vantagens da democracia e da livre iniciativa ao Oriente Médio. Naturalmente, por trás de tudo isso se escondem outros elementos menos nobres. Os macedônios desejavam se apossar das riquezas do Egito e da Pérsia. Os
romanos, das dos gaulcses e ibéricos. Os árabes, das terras férteis da Mesopotâmia, do Egito e do norte da África. Os incas, das terras do Collasuyo e do Chinchaysuyo. Os espanhóis, das terras do Tahuantinsuyo. E os norteamericanos e britânicos, das terras do Iraque. E nisto também se vê o selo do pecado nas culturas, no modo como se prestam a servir de desculpa para o que não passa de avareza c desejo de poder. Talvez o modo mais insidioso em que o pecado alcta as culturas consista na forma pela qual essas mesmas culturas entendem o que é e o que não é pecado. Observamos isso mais facilmente ao olhar para outras culturas que não a nossa, porque, de maneira geral, é-nos difícil ver o quanto pode estar errado o que nos parece completamente natural. Assim, podemos voltar aos exemplos dos pés disformes das mulheres chinesas e da prática de incinerar as viúvas na cultura da Índia, e observar que, para as pessoas que viviam nessas culturas há séculos, tais práticas não pareciam más. O mesmo ocorreu na cultura ocidental com relação à escravidão, que muitos chegaram até a justificar com fundamentos supostamente bíblicos. Vejamos um exemplo que nos toca mais de perto. A maioria de nós, ao ler em Gênesis que a serpente prometeu aos que queria tentar que eles chegariam a ser corno Deus (Gn 3.5), tira a conclusão quase imediata de que a raiz do pecado c o orgulho. Assim o entendeu a igreja ocidental, ou seja, a igreja de fala latina desde os tempos de Santo Agostinho, no final do século 4 e início do século 5. Com base nisso, dizemos que tudo que é orgulho é pecado. Mas essa mesma passagem nem sempre foi interpretada do mesmo modo. No século 2, quando os cristãos eram perseguidos e humilhados, havia outra interpretação. Segundo ela, os seres humanos já eram “como deuses", pois em Gênesis 1.26 se afirma que Deus os fez à sua imagem e semelhança. Neste caso, o pecado não consiste tanto no orgulho, mas cm esquecer-se de sua própria natureza como seres criados à imagem e semelhança de Deus. A mentira da serpente consiste em fazê-los crer que não eram verdadeiramente imagem e semelhança de Deus, quando de fato o eram, A importância disso é enorme, inclusive para a vida prática dos crentes. Se um trabalhador rural, constantemente maltratado pelos grandes proprietários de terra, começa a pensar que deveria protestar ou começa a considerar a
possibilidade de organizar seus companheiros para reivindicar direitos e sua dignidade, e vive em uma cultura na qual se diz que o orgulho é a raiz do pecado, é bem possível que pense que, como cristão, não deve protestar, mas simplesmente suportar sua situação com paciência. Se uma mulher começa a pensar na possibilidade de estudar ou exercer alguma profissão, logo ouvirá vozes que, de mil maneiras diferentes, lhe dirão que pensar em fazer tais coisas é cair no orgulho e, portanto, no pecado. Mas o correto pode ser exatamente o contrário. E possível que a grande tentação desse camponês e dessa mulher não consista em querer ser como deuses, mas em se esquecer de que já são feitos à imagem e semelhança de Deus. O que ocorreu em tais casos é que a cultura definiu, para esse trabalhador e essa mulher, em que consiste o pecado, e o definiu mal. ÉVlars uma vez, o pecado corrompe não apenas as culturas, mas até o próprio modo como estas medem e entendem a corrupção. } Há ainda um outro modo como o pecado se manifesta nas culturas, do qual devemos estar cientes ao pensar sobre o tema. Não se trata mais da presença do pecado nas próprias culturas, mas de sua presença na forma como as definimos c distinguimos.Toda cultura é uma realidade de limites imprecisos, c o modo como esses limites são definidos tem muita relação com o pecado. Para entender isso, provavelmente o melhor é comparar a cultura com a família. Ao mesmo tempo em que a família é uma realidade indiscutível, é também uma realidade indcfinível, pois não se podem estabelecer limites precisos para ela. Meu pai, minha mãe e meus irmãos e irmãs fazem parte de minha família. Mas meu primo, minha tia, meu sobrinho, a esposa dele, meu primo de segundo grau, minha prima de terceiro grau, seu esposo c assim sucessivamentc também fazem parte dela. Além disso, cada um de nós pertence a mais de uma família. Ao casar com minha esposa, passei a fazer parte da família dela, e ela da minha. Porém, ao mesmo tempo em que passei a fazer parte da família dela, continuei fazendo parte da minha. Visto que o mesmo se aplica a cada um dc nossos outros parentes, a família é definida conforme o que achamos e conforme a conveniência do caso. O mesmo ocorre com a cultura. Por exemplo, certamente há uma cultura mexicana. Mas o que acontece com os mexicanos que passam a viver nos Estados Unidos? Até quando eles continuam sendo mexicanos? Se vivem por
muito tempo nos Estados Unidos, seus filhos, sc não eles próprios, adotam boa parte da cultura norte-americana. Ao chegar à terceira ou quarta geração, eles participam, indubitavelmente, da cultura dos Estados Unidos, mus também continuam fazendo parte da cultura mexicana. Se um deles se casa com urna coreana, seus filhos participarão, até certo ponto, das culturas norte-americana, mexicana e coreana. Contudo, a dificuldade dc definir os limites das culturas existe também no próprio seio de qualquer uma delas. Em certo sentido, todos os mexicanos participam da cultura mexicana. No entanto, também existem dentro do México - como parte desta cultura - uma cultura yucateca c outra vera-cruzense. Em certas circunstâncias, um yucateco diz que é mexicano, mas, em outras, esse mesmo mexicano diz que é yucateco. E no próprio Yucatán há diferenças entre o litoral c o interior, dc modo que uma mesma pessoa algumas vezes se diz costeira, outras se diz yucateca e ainda outras, mexicana. Que princípios são usados então para definir as culturas? Embora os antropólogos tentem definir c classificar as culturas segundo uma série de princípios e juízos supostamente científicos e objetivos, o fato é que, na maioria dos casos, são princípios de conveniência ou de circunstância que definem uma cultura. Um líder político yucateco pode falar da cultura yucateca porque desse modo, contrapondo-se às tendências centralizadoras da capital, pode obter maior apoio popular. Mas outro pode apelar ao nacionalismo mexicano c dizer pouco acerca das particularidades yucatecas. Em suma, os limites das culturas são imprecisos, e não se pode pegar uma pessoa c determinar de modo objetivo e científico a que cultura ela pertence. O pecado também se manifesta no modo como as culturas sc definem. A respeito disso, dois exemplos são suficientes. O primeiro vem de nossa América. O nome de América Latina, pelo qual muitos de nós entendemos nossa cultura comum, não foi inventado por nós mesmos. Na realidade, foi uma invenção francesa, quando, após a independência de nossos países, a França e a Inglaterra lutavam pela hegemonia na América. Logo a Inglaterra se reconciliou com a ideia da independência dc'uuas colônias norteamericanas, e foram restabelecidos vínculos de comércio e de outros tipos com os Estados Unidos. Por sua vez, a França, como uma maneira de reivindicar uma
relação especial com nossos países, começou a nos chamar de América Latina, argumentando que, porquanto sua língua também era de origem latina, havia certa afinidade especial entre ela e nossos países, e acabamos sendo chamados de América Latina. E embora haja motivos vigorosos para dar a nosso continente uni novo nome tirado de alguma língua indígena, tampouco podemos esquecer que a própria escolha de uma língua - seja o quíchua, o náhuatl ou o arawak refletirá decisões arbitrárias. O outro exemplo vem da Califórnia, nos Estados Unidos. Visto que a Califórnia pertencera ao México, havia ali uma forte população de origem mexicana. Quando os políticos californianos quiseram que o território passasse a ser um Estado da União, foi-lhes dito que havia muitas diferenças culturais entre a Califórnia e o restante do país. Os políticos responderam dizendo que a população mexicana também era de cultura ocidental e que, portanto, embora os índios não contassem, os mexicanos deveriam contar. Sobre esse fundamento a Califórnia sc transformou num Estado. Alas pouco depois, em um dos primeiros julgamentos ocorridos no novo Estado da Califórnia, foi negado aos mexicanos o direito de servir dc testemunhas, porque não eram brancos como os demais, e sua cultura era diferente. 1 Zombams sintetizadas no famoso comentário atribuído a Joscph Stalin: “Com quantas divisões conta o papai’’’
CUÍTIJRA & EVANGELHO
Em suma, a cultura e as culturas ficaram manchadas pelo pecado, tanto em suas práticas internas quanto no modo como se concebem e se definem mutuamente. ' Mais uma vez, isso não quer dizer que a cultura — o fato de haver cultura — deve ser desaprovada, pois, como vimos, a própria cultura — o cultivo c o culto — faz parte do plano de Deus para sua criação. Quer dizer, isto sim, que a cultura sempre deve ser vista, como toda realidade humana, sob o selo do pecado. A importância disso é que um dos modos mais insidiosos pelos quais o pecado penetra na igreja é criando confusão entre o evangelho e a cultura, como se os dois fossem o mesmo. Quando isto ocorre, perde-se o poder do evangelho para julgar e corrigir a cultura, confunde-se rapidamente a fc cristã com o supostamente “melhor” da cultura em que se vive e se chega a pensar que as diversas encarnações da fé cristã em diversas culturas são heresias inaceitáveis. Podem-se citar dois exemplos com relação a isso, os dois com trágicas conseqüências. O primeiro se refere à divisão entre o Ocidente de fala latina e o Oriente de fala grega. O que ocorreu nesse caso é que cada uma das duas alas da igreja chegou a sc adaptar de tal modo à sua cultura que se viu impossibilitada de reconhecer o evangelho tal como se encarnava na outra. O resultado foi o primeiro dos grandes cismas que o cristianismo sofreu. O segundo, mais trágico ainda, foi o que sucedeu na Alemanha com o crescente nacionalismo que conduz.iu Adolt Hitler ao poder. Levados por esse nacionalismo e convencidos de que sua cultura cra superior a tal ponto que o evangelho sc identificava com ela, o movimento dos “cristãos alemães” prestou apoio a Hitler e, assim, se tornou cúmplice de todos os seus crimes. Neste fato pode-se ver a conseqüência extrema da tendência dos teólogos protestantes alemães do século 19 de pensar c argumentar que o cristianismo protestante era a melhor expressão do cristianismo dentro da modernidade. Quando os nacionalistas alemães chegaram à conclusão de que a cultura e a raça alemãs eram a maior e melhor expressão dos destinos humanos, foi-lhes fácil convencer aqueles cristãos de que, em última análise, as duas coisas iam de mãos dadas, e o nacionalismo alemão era perfeitamente compatível e até se confundia com o evangelho.
A cultura é boa. A cultura é bela. A cultura merece respeito. Mas a cultura, como toda realidade humana, carrega o selo do pecado c pode muito bem ser seu instrumento. CULTURA E DIVERSIDADE ; ;j o capítulo 2, destacamos que a cultura faz parte do pro-\ "'Z\ | pósito de Deus para a criação e que, portanto, o fato de A haver cultura é sinal de sua presença e de sua obrai No capítulo .3, contudo, advertimos que, embora o fato de haver cultura faça parte do propósito criador de Deus, a forma atual em que as culturas se apresentam sempre carrega o selo do pecado. Mais adiante teremos de tirar algumas das conseqüências teológicas e práticas de tudo isso. Por ora, cabe perguntar-nos: embora a cultura, o enfrentar com criatividade as oportunidades c os desafios do ambiente, faça parte do propósito de Deus, e toda cultura carregue o selo do pecado, o que dizer das culturas no plural? Certamente, a diversidade de culturas se encontra 11a raiz de muitos dos mais sangrentos conflitos da história e do presente. Na própria igreja, a diversidade de culturas produz equívocos, tensões e preconceitos que todos nós conhecemos. Se voltarmos às narrativas de Gênesis, perceberemos que este tema também c discutido ali. No início do capítulo 11 nos é dito que “cm toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de talar” (Gn 11.1); ou seja, havia uma única cultura. No restante do capítulo observamos que essa cultura evolui conforme mudam as circunstâncias. “Sucedeu que, par!indo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar” [gritos do autor] (Gn 11.2). A terra de Sinar fica na Mcsopotâmia, uma planície fluvial onde não há pedras, mas barro. O contexto muda, e isto leva a mudanças culturais. Por isso a narrativa continua: “E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos c queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume, de argamassa” (Gn 11.3). Aqui encontramos um exemplo do que dizíamos anteriormente em relação a como novos desafios produzem mudanças na cultura. Ao passar para uma nova região onde não há pedras, a solução c fazer “pedras” dc barro cozido: “façamos tijolos e queimemo-los bem”. Como sempre ocorre na condição humana, estes novos desenvolvimentos culturais são seguidos de sonhos de grandeza c de poder3. A construção em pedra tem seus limites quanto à altura, principalmente na Antiguidade, quando os instrumentos eram escassos, e era difícil cortar a pedra em blocos com faces
perfeitamente paralelas. Mas o tijolo não parecia ter essa desvantagem. Pelo contrário, os tijolos podiam ser fabricados na forma e no tamanho desejados. Em teoria, parece que com tijolos poderiam ser construídos edifícios cada vez mais altos. Por isso, a narrativa de Gênesis continua: “Vinde, ’ Recordo-mc bem do dia em que os russos colocaram o primeiro satélite em órbita, e do dia cm que os norte-americanos chegaram à Lua. Nos dois casos os jornais proclamavam: ‘‘Começou a conquista do espaço”.
edifiquemos para nós uma cidade e unia torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra” (Gn 11.4). Este é o problema básico de toda cultura e de todo empreendimento humano: a autoridade que nos foi dada para usar os recursos da terra nos faz sonhar com um poder que chegue ao céu. A autoridade que foi dada aos primeiros seres humanos para cultivar o jardim não lhes pareceu suficiente, e acabaram comendo da árvore proibida. Essa tentativa dc afirmar a autoridade própria se fundamenta, como vimos antes, na dúvida acerca da fidelidade de Deus. Já eram como deuses, mas a serpente os tenta dizendo: “[...] e sereis como Deus [...]” (Gn 3.5). Os tijolos que deveriam ser usados para abrigar as pessoas agora são usados para usurpar o lugar dc Deus, para chegar ao céu. Neste caso também se pode perceber a desconfiança em relação a ele, que lhes dera o arco-íris como sinal de que nunca mais tornaria a ocorrer um dilúvio; mas as pessoas não acreditam no sinal do pacto e se propõem a construir uma torre que nenhum dilúvio possa inundar. O texto nos dá outro detalhe que muitas vezes não percebemos. Os construtores da torre estão preocupados com a possibilidade de serem “[...] espalhados por toda a terra” (Gn 11.4). E cm resposta a essa preocupação que decidem construir a torre. O restante da história todos nós conhecemos desde a infância: Deus não se agrada do que os seres humanos estão fazendo e diz: “Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro” (Gn 11.7). O resultado é a confusão de línguas, de modo que o grande projeto já não pode ser construído; as pessoas que quiseram se tornar famosas c cdificar uma cidade para não ser espalhadas pela face da terra recebem exatamente o que queriam evitar: Assim, “[...] o Senhor os dispersou
dali pela a superfície da terra; e cessaram dc edificar a cidade” (Gn 11.8). Os que começaram a construção por medo de serem espalhados acabam espalhados justamente devido à sua construção. E agora, cm lugar de um nome (Gn 11.4), têm muitos nomes, pois suas línguas já não são a mesma. Tradicionalmcnte tem-se entendido esta história no sentido dc que Deus castiga a soberba humana, e o resultado desse castigo c a multiplicidade de línguas, de maneira que os diversos povos têm dificuldade de se entender uns aos outros. E não há dúvida dc que esta é uma face da moeda. Mas há uma outra face. A confusão de línguas também é uma ação libertadora da parte de Deus. Os seres humanos se tornaram escravos de sua soberba. Em vez dc usar seu poder de criar cultura para o bem da terra e da humanidade, querem empregá-lo para alcançar o céu, ou seja, para usurpar o poder de Deus. Ao confundir suas línguas, Deus destrói seus sonhos dc grandeza, a grande cidade é abandonada, e a soberba cai por terra. A confusão de línguas, ao mesmo tempo em que obriga a humanidade a abandonar o projeto da grande torre, pcrmitc-lhe retornar a seu projeto legítimo de cultivar o jardim, dc dominar sobre a criação em nome dc Deus e como representante dele. De certo modo, ainda hoje a diversidade dc culturas tem a mesma íunçâo. E por isso que as culturas dominantes mostram tanta dificuldade em aceitar o valor de outras culturas. Elas também tem o sonho de alcançar o céu, de se tornar o poder que controla tudo, de subjugar a terra e construir uma grande torre que chegue ao céu, esquecendo-se de que só existem pela graça de Deus. Em tal situação, as outras culturas que vêm a se confrontar com a dominante, tanto de fora quanto de dentro dc seu próprio seio, podem muito bem perceber a si mesmas como dons de Deus, não apenas para as pessoas que fazem parte delas, mas também para a cultura dominante, a qual fica liberta, ainda que apesar de si, de suas ambições de construir torres que cheguem ao céu, de sua miopia estética e intelectual, de seus sonhos imperialistas. Se a confusão das línguas em Babel as impediu de continuar com seus sonhos idolátricos de grandeza, a confusão de culturas dos dias atuais, por mais que nos confunda e que não gostemos dela, serve ao menos para lembrar a toda cultura que ela é parcial e finita; que não c a única que habita o planeta; que seu modo de ver e fazer as coisas não é o único factívclí Em outras palavras, a diversidade de culturas serve dc freio ante as tendências imperialistas de
toda cultura. : A diversidade de culturas sempre foi tema obrigatório tanto para a teoria quanto para a prática missiológica. Certamente, essa diversidade suscita perguntas e problemas difíceis de resolver. Ninguém sabe disso melhor do que nós, evangélicos latino-americanos, pois nossa fé chegou até nós vinda de culturas diferentes das nossas. Voltaremos repetidas vezes a esse tema e à variedade de culturas. Contudo, por ora, como advertência inicial, é necessário lembrar que, apesar de todas as dificuldades que a diversidade de culturas pode criar, a existência de uma única cultura criaria problemas ainda maiores, problemas de uma soberba idolátrica semelhante à dos construtores da torre de Babel. Pode-se ver isto justamente em uma passagem bíblica que muitas vezes é interpretada como a contradição total da torre de Babel, mas onde vemos que não apenas a cultura no sentido abstrato, mas a presença do evangelho em uma diversidade de culturas faz parte da obra de Deus. Refiro-me à história de Penteeostes em Atos 2. Desde a época patrística tornou-se tradição na igreja contrastar estas duas passagens. E há boas razões para isso. A história de Babel se apresenta em meio a uma ampla lista de nações; a de Penteeostes inclui uma antiga lista de nações. Em Babel, os seres humanos tentam ascender ao ccu; em Penteeostes, Deus desce na pessoa do Espírito Santo. Babel foi o cúmulo da soberba humana, querendo se apossar do céu; Penteeostes é o momento em que Deus sc apossa dos seres humanos. Em geral, a finalidade de todas essas comparações e contrastes é mostrar que em Babel desapareceu a unidade e surgiu a confusão de línguas, ao passo que em Penteeostes desaparece a confusão e é restabelecida a comunicação entre pessoas de línguas diferentes. Contudo, estudando detalhadamente o texto de Atos, veremos que, embora haja certos contrastes, eles não são absolutos. Atos 2.6 diz que “|...] a multidão |...] se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua”. A palavra perplexos, que na versão Reina-Valcra revista é traduzida corno confusos, é a mesma palavra que aparece no texto da Septuaginta em Gênesis 11.7, onde Deus diz “[...] desçamos e confundamos ali a sua linguagem Assim, embora seja fato que o Penteeostes produz unidade, não se trata de uma unidade sem confusão nem diferenças, como a que Gênesis retrata antes da torre de Babel.
Penteeostes não é simplesmente o cancelamento de Babel. Segundo Gênesis, antes de Babel havia somente uma língua; depois de Penteeostes, segundo Atos, continua a existir uma grande variedade de línguas. Em Babel, Deus intervém para causar confusão; em Atos, a intervenção de Deus também causa confusão entre a multidão. Além disso, em ambas as histórias a narrativa passa da unidade para a diversidade. No início da história dc Babel, a unidade de língua permite que aquelas pessoas se dediquem a um projeto comum; no final da história, já não se entendem, c o projeto comum e abandonado. No início da narrativa de Pentecostes, “[...] estavam todos reunidos no mesmo lugar [...]” (At 2.1), aparentemente falando uma só língua; no final da história, essas mesmas pessoas estão falando muitas línguas, e parte do resultado é perplexidade, confusão e ate divisão entre os presentes, pois uns interpretam o que veem de uma maneira, e outros de outra. A história dc Pentecostes é conhecida por todos. O que muitas vezes não percebemos nessa história é que o poder do Espírito Santo é muito diferente do poder nas estruturas hierárquicas humanas. Em primeiro lugar, pela simples leitura do início do discurso de Pedro, vemos que o poder do Espírito Santo se manifesta não na criação dc uma hierarquia de poder, como se ele chegasse aos fiéis por meio da hierarquia da igreja, mas totalmentc o oposto. Segundo Pedro, o que está ocorrendo em Pentecostes é o cumprimento da profecia de Joel: “[...] derramarei do meu Espírito sobre Ioda a carne; vossos filhos c vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos; até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão” (At 2.17-18). A citação dispensa comentário e esclarecimento. As pessoas que recebem o poder do Espírito Santo não são somente os doze, mas “toda a carne... filhos... e filhas... jovens... e velhos... servos... e servas”. O que necessita de comentário e esclarecimento é o modo pelo qual o Espírito torna possível a todos os povos escutar a mensagem dos discípulos. Se a finalidade do milagre era fazer com que todas as pessoas ali congregadas, dc diversas regiões do mundo conhecido, entendessem a mensagem dos discípulos, o Espírito tinha duas opções. A primeira cra fazer com que todos compreendessem a linguagem dos discípulos; a segunda, que cada um escutasse em sua própria língua.,Estas duas opções tem grande importância, pois sc o milagre de Pcntecostes tivesse sido fazer com que todos entendessem a linguagem dos discípulos, então não apenas
essa linguagem, mas toda a cultura dos discípulos teria se tornado elemento normativo na comunicação do evangelho; a cultura e língua dos discípulos seriam elemento inseparável da pregação da mensagem, e a posição de autoridade dos discípulos e de seu povo e cultura estaria assegurada. Mas o que acontece c totalmente o oposto. O Espírito íaz com que cada um escute “em sua própria língua”. Este c um milagre muito subversivo. E um milagre que subverte a autoridade dos primeiros discípulos, pois no fim das contas o que ele implica é que esses discípulos e seus agregados não terão controle da mensagem. Ao escutá-la em sua própria língua, um capadócio ou um egípcio se torna tão capaz de repeti-la quanto qualquer galileu. . Percebemos toda a implicação disso? Os discípulos recebem o poder do Espírito Santo. Contudo, o que esse poder lhes permite fazer não é acumular mais poder, nem dar importância a si mesmos, nem sequer determinar o futuro da igreja, mas dar poder a muitos estrangeiros e advcntícios, a frígios, cretenses e árabes. O poder do Espírito Santo não c para acumular mais poder, mas para compartilhá-lo. Neste compartilhar, a língua materna dos discípulos se torna simplesmente mais uma entre tantas outras línguas em que o evangelho c proclamado. E a cultura dos discípulos é uma das muitas culturas nas quais o evangelho irá se encarnar. O professor de missiologia Lamin Sanneh, da Universidade de Yale, escreveu um livro interessantíssimo sobre este tema. Sanneh foi criado como muçulmano e mais tarde se converteu ao cristianismo. Portanto, ao mesmo tempo em que é cristão convicto, conhece e respeita o islã como poucos. Seu livro, intitulado A tradução do evangelho*, sustenta que, por sua própria natureza, o cristianismo é traduzível de uma maneira que o islã não é. Para um muçulmano fiel e ortodoxo, o verdadeiro Corão está e tem de estar em árabe. O restante são traduções do Corão. Em contraposição a isso, para um cristão igualmentc fiel e ortodoxo, a Bíblia traduzida continua sendo a Bíblia. Certamente há razões para aprender os idiomas originais, pois eles nos ajudam a entender e corrigir as diversas traduções. Não obstante, quando tenho em mãos a versão ReinaValera, revisada em 1995, não digo nem penso que tenho uma tradução da Bíblia, mas que tenho a própria Bíblia. Segundo Sanneh, isto se reflete nos modos diversos pelos quais o islã e o cristianismo se relacionam com culturas diferentes das de suas origens, A expansão islâmica normalmentc também foi a expansão do árabe e da cultura
árabe. Por outro lado, o cristianismo conseguiu se arraigar e encarnar numa multiplicidade de culturas; Certamente isso não foi fácil, pois o normal seria que os missionários impusessem sua cultura ao mesmo tempo em que proclamavam sua lé. Apesar disso, porém, no fim o evangelho se encarnou nessas culturas, frequentemente de formas que aqueles primeiros missionários nem sequer suspeitavam. Isto se deve ao fato de que, em última instância e por sua própria natureza, o evangelho é traduzível. 1 Não creio que seja necessário especificar o que isso implica para a missão em nossos dias. A grande tentação das igrejas mais tradicionais em nossos dias, como a de Pedro e dos discípulos antes do Pentecostes, é imaginar que o que necessitam são mais líderes como os das gerações passadas, líderes com experiências semelhantes, procedentes de uma cultura semelhante, do mesmo grupo étnico. Em geral, pelo menos em minha denominação, tais atitudes não são manifestadas abertamente - muitas vezes, nem sequer são confessadas conscientemente -, mas se justificam com base cm leis, livros de ordem, disciplinas, etc., que, de qualquer maneira, foram escritos por pessoas desse mesmo grupo tradicionalmente dominante. Ou, se não, recorre-sc a razões de orçamento; e então, como os que mais contribuem para o orçamento e certamente o controlam são os do grupo tradicionalmente dominante, o resultado é previsível. Vemos isto já no livro de Atos. O capítulo 1 apresenta um episódio que poderia muito hem ocorrer cm nossas próprias igrejas atualmente. Pedro se põe em pé c profere um discurso no qual propõe que, como o Senhor nomeou doze, c agora o grupo tem apenas onze, deve-se escolher outro para que ocupe o lugar dc Judas. Pedro parece supor que a estrutura eclesiástica (ou o Livro dc Ordem, se preferir) está acima da presença do Espírito Santo. Éramos doze, e doze teremos de ser para sempre. E então Pedro sugere uma série dc requisitos que os candidatos a essa posição devem ter. Mas os requisitos estão, por assim dizer, carregados. Segundo eles, o personagem número doze que irão escolher tem de ser como os outros onze. Deve ser galileu, como eles, e, além disso, deve ter estado com Jesus elesde o batismo dc João. Leia o Evangelho de Lucas e veja quantos dos onze preenchiam este requisito. Na ausência do Espírito Santo, acontece naquela igreja o que ocorre com tanta frequência em nossas igrejas até os dias de hoje: colocam-se exigências e regras cuja verdadeira finalidade é assegurar que as mesmas pessoas continuem mandando e que as que não são como cias não
tenham lugar na liderança da igreja.j O resultado seria engraçado se não fosse tão triste e tão freqüente. A respeito daquele Matias a quem escolheram não nos é dita uma palavra mais. E temo que tampouco se fale muito, no futuro, de qualquer igreja que siga esses métodos ou outros parecidos. Necessitamos de uma nova teologia da missão, mas de uma teologia da missão que, seguindo a pauta traçada pelo Espírito Santo cm Pentecostes, nos leve não a concentrar o poder, mas a compartilhá-lo, c a compartilhá-lo a tal ponto que seja possível que a liderança passe a pessoas e grupos inesperados, como cm Atos, onde a liderança dos doze galileus logo passa para os sete, todos com nomes helênicos, e dos sete para outro que antes perseguira a igreja. Insisto neste ponto. O que o Espírito faz em Pentecostes não é capacitar todos os presentes a entender a língua dos discípulos, mas exatamente o contrário: o Espírito faz todos escutarem, cada qual cm sua própria língua. Isto implica que a missão da igreja não é centripeta, mas ccntríiuga. E, acima de tudo, destaquemos uma vez mais que, embora o Espírito dc aos discípulos o poder que Jesus lhes prometera, este poder é de uma índole especial, pois o que o Espírito faz é capacitar os discípulos a compartilhar seu poder com outras pessoas, com pessoas de outras línguas e culturas. Neste ponto, a relação entre Babel e Pentecostes não é somente de contraste, mas também dc paralelismo! Se a confusão de línguas em Babel serviu para deter o orgulho daqueles que pretendiam se apoderar do céu, a confusão de Pentecostes servirá para deter toda tentativa, por parte de uma cultura qualquer, dc se apoderar do evangelho. Se a multiplicidade de culturas e línguas surgidas dc Babel deteve o orgulho idolátrico da época, a multiplicidade dc línguas e culturas envolvidas no Pentecostes servirá para deter o orgulho igualmente idolátrico das pessoas que pensam que toda a igreja deve ser como elas. Graças ao dom do Espírito cm Pentecostes, que fez com que cada qual escutasse o evangelho “em sua própria língua”, toda língua e toda cultura podem ser veículo para o evangelho, e nenhuma língua c nenhuma cultura devem ter domínio sobre ele. Cerfamentc, ao longo da história nós, cristãos, sucumbimos com frequência à tentação de imaginar que a encarnação do evangelho cm uma cultura qualquer — na nossa em particular — é a melhor e mais pura forma que este evangelho pode tomar. Isto levou a divisões e conflitos desnecessários e frequentemente
impediu a missão c evangelização. Assim, por exemplo, até o fim da época patrística, o evangelho foi se arraigando dc tal modo nas culturas da bacia do Mediterrâneo que mais tarde os cristãos de cultura grega acusavam os de cultura latina dc não serem cientes verdadeiros, e vice-versa. Assim, a igreja ocidental se uniu de tal modo ã cultura do Império Romano ocidental que 1.500 anos depois da queda deste império ela continuava insistindo no uso do latim no culto, uma língua morta que somente os eruditos falavam. Por isso, não deve nos causar estranheza o que loi destacado anteriormente: que a Reforma Protestante do século 16 se firmou principalmentc cm territórios que não haviam sido parte do Império Romano e onde não se falavam línguas românicas. Por isso, também não deve nos causar estranheza o lato de que logo muitos protestantes chegaram à conclusão dc que a forma mais pura do evangelho era a que sc encarnava nas culturas germânicas do norte e que essas culturas eram particularmente aptas para lhe servir de veículo. E por isso tampouco deveria mc causar estranheza que eu mesmo, cm minha juventude, tenha tido tanta dificuldade em descobrir a relação entre a cultura herdada de meus antepassados e o evangelho recebido de outra cultura. Mas atualmente as coisas estão mudando de novo. Quando eu tinha aqueles debates comigo mesmo e com meus companheiros, o centro da vitalidade e atividade cristã - c certamentc da atividade protestante - estava principalmente nas terras do Atlântico Norte. Os principais centros missionários do mundo estavam em Nova Iorque e Londres e, para os católicos, na Espanha, na França e no Canadá francês. Para estudar teologia e ficar a par do que os teólogos estavam dizendo, era necessário fazê-lo em inglês e em alemão e freqüentar universidades norte-americanas ou européias. Isso tudo não deve nos causar estranheza, pois naqueles anos a maioria dos cristãos ainda cra de cultura ocidental e de raça branca. Poucos anos antes, em 1900, a metade de todos os cristãos do mundo vivia na Europa, e outra quarta parte, em países dc tradição anglo-saxônica como os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia. Já na época cm que ingressei no seminário, na metade desse século, as coisas tinham começado a mudar, embora não nos déssemos conta disso. Atualmente está claro que os centros de vitalidade missionária e evangelizadora já não estão no Atlântico Norte, que a maioria dos cristãos não é branca, e que o evangelho é pregado em centenas de idiomas, poucos deles de origem européia. Hoje a vanguarda teológica da igreja não sc limita à Europa nem aos Estados
Unidos; para saber o que está acontecendo na teologia da igreja dcvc-sc levar em conta o que está sendo dito e escrito no Peru, nas Filipinas, na Índia e em Gana. Em poucas palavras, a igreja de hoje inclui uma diversidade maior de culturas do que em qualquer período anterior S)1
de toda a sua história. E essas culturas se expressam com uma força e clareza que tampouco possuem paralelo nos 20 séculos de vida da igreja. Tanto c assim que podemos dizer que estamos presenciando uma espécie de Pentecostes global, no qual cada um escuta e vive o evangelho em sua própria língua e dentro de sua própria cultura. Sem duvida, isso acarreta problemas. Se é difícil nós nos entendermos talando a mesma língua e pertencendo à mesma cultura, quanto mais não o será em meio à presente Babel de línguas! Seria muito mais fácil sc todos falássemos o mesmo idioma, se todos pertencêssemos à mesma cultura, se adorássemos todos de igual lorma! Esse desejo é natural. Imagino os próprios apóstolos quando “[...] houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária” (At 6.1). Possivelmente diriam: Por que tem de haver esses grupos diversos entre nós? Não seria muito mais fácil se todos fossem hebreus como nós? E a resposta é simples:Tem de haver essa diversidade entre nós porque o Espírito Santo dc Deus, o Espírito que, como o vento, sopra onde quer, naquele dia de Pentecostes e a partir dc então ao longo da história, fez e continua fazendo com que cada um escute o evangelho em sua própria língua, cm sua própria cultura, em seu próprio contexto. Ode sejo de que tudo seja igual e não haja mais do que uma voz e uma opinião é coisa natural. Rccordo-me bem de um episódio anos atrás quando eu estava testemunhando entre os companheiros de classe e Silvino, um colega ateu que, apesar disso, conhecia a Bíblia melhor do que eu, colocou-se no meio do grupo, pegou meu Novo Testamento e começou a ler as histórias da alimentação da multidão nos diversos evangelhos. Ao terminar a leitura, simplesmente me disse: “Diga-me, quantas pessoas Jesus alimentou, com quantos pães e quantos peixes, e quantos cestos sobraram?” Naquele momento, e muitas outras vezes a partir de então, eu desejei muito que no Novo Testamento houvesse um único evangelho! Mas não é assim. O cânone do Novo Testamento contém quatro evangelhos, quatro livros indiscutivelmente diferentes, com divergências entre si, mas todos apontam para o único evangelho de Jesus Cristo.
E o mesmo se dá com o Antigo Testamento. Nas páginas anteriores referi-me repetidas vezes às histórias da criação do Gênesis. Quando digo histórias, quero dizer que há duas. Essas duas histórias são diferentes. Em uma, Deus cria primeiro os animais e depois o ser humano, varão e mulher. Na outra, cria primeiro o varão, em seguida os animais e por fim a mulher. Portanto, aqui há duas histórias diferentes que, no entanto, se referem às mesmas verdades: tudo quanto existe é criação de Deus, c o ser humano foi colocado nessa criação para cultivá-la e cuidar dela. Em outros lugares escrevi mais detalhadamente sobre o que isso implica para nossa compreensão das Escrituras e da natureza da fé cristã5. Aqui basta esboçar algumas das conclusões mais importantes para o tema que estamos discutindo. Primeira conclusão: O evangelho de Jesus Cristo nos é apresentado desde suas origens na roupagem de perspectivas distintas: uma dc Mateus, outra dc Marcos, etc. Esse testemunho quadriforme do evangelho de Jesus Cristo não se torna, por isso, mais fraco ou menos crível, mas exatamente o contrário. A igreja antiga incluiu esses quatro livros no cânone justamente porque ' Veja, por exemplo, Desde clsigfo y bosta et siglo: esbozos Teológicos para d siglo XXL México e Austin: Seminário Teológico Presbiteriano dc México e Asociación para la EJucación Teológica Hispana, 1997. p. 101-134.
eram diferentes e porque assim, sendo diferentes, eram quatro testemunhos que apontavam todos para o mesmo evangelho, do mesmo modo que, em um julgamento, os depoimentos de várias testemunhas diferentes tem mais peso quando se veem neles diferenças de perspectivas do que quando todos concordam em todos os detalhes. Portanto, o fato de o evangelho nos ser apresentado hoje na roupagem de culturas diferentes não deveria nos criar mais dificuldades do que as criadas pelo fato de haver quatro evangelhos distintos dentro do cânone do Novo Testamento. Segunda conclusão: A própria diversidade dos evangelhos nos impede dc imaginar que de algum modo possamos ter o evangelho, por assim dizer, no bolso. Quando cremos que já o entendemos inteiramente porque lemos Lucas, chega João c nos oferece uma perspectiva diferente. E se decidimos ser estritamente joaninos, chega Mateus c nos recorda que o evangelho é mais do que imagináramos. Graças a essa variedade de perspectivas dc seu testemunho quadriforme, o evangelho c sempre uma realidade soberana,
sempre ao nosso alcance, porém nunca sob nosso controle. Neste tocante, a diversidade dos evangelhos tem para nós uma função semelhante à que a confusão de Babel teve outrora: impede-nos de imaginar que o céu esteja ao alcance de nossos esforços, ou que a verdade infinita cie Deus caiba cm nossas mentes finitas. Terceira conclusão: Do mesmo modo que, ao ler o Evangelho de Mateus, temos de continuar respeitando o dc João, ao viver nossa vida cristã dentro de uma cultura c uma igreja, temos de continuar respeitando a fé das pessoas que vivem sua vida cristã em outras culturas e outras igrejas. Não podemos dizer que o Evangelho de João é o verdadeiro e que isso basta. Um só evangelho não c o testemunho quadriforme do evangelho. Quarta conclusão: Do mesmo modo que perderíamos muito se só tivéssemos o Evangelho de Mateus ou o de João, perdemos muito quando vemos a íé cristã somente encarnada em nossa própria cultura, cm nossa própria igreja e em nossas próprias tradições. Ao ler o Evangelho de João, devo sempre ter em mente Mateus, Marcos e Lucas, além das epístolas paulinas, dos escritos dos profetas e de todo o restante da Bíblia. Do mesmo modo, ao viver minha vida cristã cm uma igreja e em uma cultura específicas, devo lembrar que entre meus irmãos e irmãs estão os milhões de fiéis que a vivem em outras culturas e igrejas, da mesma forma que os outros milhões que a viveram em outros tempos e circunstâncias. E o que isso tudo quer dizer, no final das contas, é que, ainda que sempre nos tenha sido dito que a confusão dc línguas é produto do orgulho humano, temos dc ver também as coisas de outro ângulo, no qual nossa diversidade, não somente de línguas, mas também de culturas e tradições, é dom do Espírito Santo para a edificação de todo o corpo dc Cristo. Tudo isso pode ser resumido cm uma palavra que dá medo a alguns, mas que de certo modo é indispensável para entender o caráter do evangelho e a obra do Espírito Santo ao fazer com que todos escutem, “cada um em sua própria língua”. Essa palavra é ca-toliádadé'. Embora tradicionalmente nos tenha sido dito que católico quer dizer universal, isso não está estritamente correto, pois há uma diferença de conotações entre os dois termos. Universal implica uniformidade, como quando dizemos atualmente, por exemplo, Também examinei este tema com mais detalhes como parte das discussões sobre a multiplicidade dos evangelhos cm Desde dsiglo y bosta etsiglo: esbozos teológicos
para ehigh XY7, p. 120-128.
que graças aos computadores e aos novos meios de comunicação o inglês parece se tornar um idioma universal. Em contraposição a isso, católico, no sentido estrito e verdadeiro da palavra, implica diversidade. Etimologicamente, católico quer dizer conforme o todo ou conforme todos. Portanto, o católico no bom sentido não é o que pertence a uma igreja ou a outra, mas o que reflete a grande multiplicidade de culturas, experiências, interesses e perspectivas a partir dos quais diversos grupos se aproximam do evangelho. A verdadeira catolicidade não pode ser propriedade de ninguém, pois, por sua própria natureza, cia implica multiplicidade. Os antigos escritores cristãos, ao se referirem aos quatro evangelhos, falavam às vezes do testemunho católico do evangelho de Jesus Cristo, isto é, do testemunho segundo os quatro evangelistas. Nesse sentido, o Evangelho dc Marcos por si só, por exemplo, continuará sendo ortodoxo; e se conseguir impor sua autoridade por todas as partes, será universal; mas nunca será católico sem o acompanhamento dos outros. Do mesmo modo, nenhum grupo cristão que crcia scr o único detentor da verdade pode ser católico de verdade, ainda que sc atribua esse nome. Dad a essa diversidade de perspectivas e sua inevitabilidade, cabe então a pergunta: como nós, cristãos, deveremos olhar e avaliar aquelas culturas nas quais nossa fé não parece ter causado grande impacto? E também, como deveremos julgar o impacto da fé em nossa cultura, ou a falta dele? Trataremos deste assunto no próximo capítulo. CULTURA E EVANGELHO Í : \ t| o capítulo anterior, tratamos da diversidade de culturas e í , i do modo como a história da torre de Babel cm Gênesis : I relaciona a diversidade dc culturas com o orgulho hu mano. Dissemos que, por estranho que possa parecer, a confusão de culturas em Babel não é apenas um castigo, mas também uma bênção porque põe um freio na soberba humana, que imagina que pode chegar ao céu.''Acrescentamos que o Pcntecostcs, ao mesmo tempo em que cria unidade, não cria uniformidade, pois o que ocorre ali é que o evangelho é pregado c se encarna cm muitas línguas e culturas. E dissemos, além disso, que, no mesmo sentido, a diversidade dc culturas atuais, com seu potencial de produzir grandes dificuldades e até
conflitos, pelo menos nos ajuda a resistir ao impulso imperialista daquelas culturas que, por serem poderosas, bem poderiam imaginar-se destinadas a se tornar cultura universal. Desde os primórdios, o evangelho tem cruzado fronteiras culturais, encarnando-sc primeiro em uma cultura e depois em outra. Isso nos leva agora a um dos principais temas de discussão entre missionários c evangelistas: como pode uma cultura alheia ao evangelho encarnar esse mesmo evangelho? Nossa resposta imediata e um tanto simplista é dizer que o que o missionário deve fazer ao cruzar fronteiras culturais é distinguir entre sua cultura e a mensagem que prega, c pregar a mensagem separadamente dc sua cultura. Tsso soa bem e seria um bom caminho a seguir se de fato fosse possível a alguém distinguir correta e exatamente entre o que é evangelho e o que é cultura. Certamente, todos nós conhecemos casos em que a cultura dos missionários sc confundiu com o evangelho de formas estranhas c até ridículas. Num certo país de nossa América, por exemplo, encontrei um grupo dc evangélicos que não tomam café, mas chá, porque era isso que os missionários norte-americanos tomavam, c essa c, portanto, a bebida evangélica. Mas, deixando de lado o ridículo, o fato c que essa distinção entre cultura e evangelho sc torna difícil por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque, como tentei enfatizar, a cultura não c sempre urna realidade consciente, ou uma parte da vida que possamos separar do restante. Ela faz parte tio que somos. Não podemos deixá-la de lado, despojar-nos dela como quem troca dc camisa. Não podemos viver sem ela, nem sequer suspendê-la dizendo: “Agora não vou pensar nem agir com base em minha cultura.” Portanto, pedir a quem prega o evangelho em uma cultura diferente da sua para que se despoje de sua própria cultura é pedir o impossível. E, se somos nós que cruzamos fronteiras culturais c nos propomos a.deixar nossa cultura para trás, estamos nos estabelecendo metas inatingíveis. Em segundo lugar, é impossível distinguir clara c taxativamente entre evangelho e cultura pela própria natureza do primeiro. No próprio centro da mensagem evangélica está a pessoa dc Jesus Cristo, Deus feito carne, Deus humanizado a tal ponto que, ao mesmo tempo em que dizemos que ele é divino e humano, dizemos também que é impossível dividir ou separar nele o humano do divino. Desde tempos muito remotos, a igreja afirma, com razão, que não é correto dizer: “Isto Jesus faz como Deus; e isto como humano.” Essa era a doutrina chamada nestorianismo, rejeitada pelos
concílios de Eteso e Calcedônia nos anos 431 e 451, respectivamente, e rejeitada também pelos católicos, ortodoxos e protestantes. Se o evangelho é a mensagem do Deus feito carne de tal modo que, ao ver esse galileu concreto, vemos o Deus eterno, e não podemos separá-los um do outro, isto também quer dizer que não podemos distinguir entre um evangelho eterno e o evangelho histórico, concreto, específico. Em sua cultura gahleia do século 1 de nossa cra, Jesus Cristo era c é o evangelho eterno, mas nem por isso ele deixa de ser particular, concreto, de falar cm uma língua particular e de refletir uma cultura particular. E isto quer dizer também que não podemos pregar ucm ensinar o evangelho à parte de uma cultura. Não podemos diz.er: “Isto c evangelho, c esta outra coisa c cultura.” O evangelho é uma mensagem que engloba toda a existência humana, c não há, portanto, elemento cultural que possa ignorá-lo, seja por estar a seu serviço, seja por se lhe opor. Que caminho nos resta então? A pergunta não é inédita. Os primeiros missionários cristãos tiveram de enfrentá-la logo. Se nos detivermos em refletir sobre isso, veremos que esse é um tema central no Novo Testamento, particularmente nas cartas de Paulo, que prega aos gentios, gente de cultura muito diferente da dos discípulos originais. Alguns insistem que ele deve se adaptar aos costumes tradicionais -costumes ordenados por Deus —, como circuncidar seus convertidos entre os gentios. Entre os próprios apóstolos não há unanimidade quanto a esta questão, e por isso é necessário que Paulo, Barnabé e outros se dirijam a Jerusalém para talar com eles. Uma solução c adotada ali, mas a discussão não acaba. E por isso há cartas de Paulo, como Gálatas, nas quais a questão da relação entre judeus e gentios na igreja persiste c continua sendo discutida. Alguns poderiam se preocupar ao ver isso. Talvez pensassem que, ao passar dc um contexto judaico para uma cultura diferente, o evangelho se desvirtuaria. Mas a verdade é totalmente o oposto. Além disso, boa parte do Novo Testamento é produzida justamente nessa fronteira entre as culturas. Pensamos alguma vez quanto do Novo Testamento foi escrito na Galileia ou em Jerusalém? Provavelmente nem um único livro! Nosso Novo Testamento é, em grande parte, o residtado dos desafios e questões que os primeiros cristãos tiveram de enfrentar à medida que a igreja ia se tornando cada vez menos judaica e mais gentílica; em outras palavras, à medida que o evangelho ia cruzando fronteiras
culturais, deixando de ser uma mensagem puramente judaica e tornando-se também uma mensagem para os gentios. A questão, porém, não parou aí. Logo a igreja se viu imersa em uma das culturas mais elevadas e sofisticadas da Antiguidade: a cultura helcnista. Os antigos gregos haviam produzido filósofos de tal envergadura que até hoje, quando estudamos filosofia, o mais comum é começar pelos filósofos gregos. Além disso, uns 300 anos antes de Jesus Cristo, Alexandre Magno se lançara a conquistar o mundo com o propósito, entre outros, de levar ao restante da humanidade os supostos benefícios da civilização grega7. Civilizações ' Uma vez mais, todo imperialismo tem de buscar o modo dc justificar a si mesmo, e essa foi a justificação do imperialismo macedònio.
antiquíssimas, como a egípcia e em certo sentido até a persa, submergiram sob o peso da civilização grega. O grego se tornara a língua franca de toda a parte oriental da bacia do Mediterrâneo - tanto que até o próprio Novo Testamento foi escrito não na língua tradicional dos judeus, mas na dos gregos. Mesmo em Roma, muitas das pessoas cultas manifestavam sua suposta superioridade falando grego e escrevendo nessa língua. Paulo não declara em vão que “os gregos buscam sabedoria”. E agora os cristãos, um grupo de pessoas em geral incultas, procedentes de uma província do Império reconhecida por suas ideias recalcitrantes e seu espírito rebelde, saem a pregar a um mundo imbuído nessa cultura grega. Qual haverá de ser sua atitude ante tal cultura? Alguns simplesmente a rejeitam. Talvez o mais conhecido entre eles — embora não o único - seja Tertuliano, o cristão ardente que no final do século 2 ou início do 3, no norte da África, cunhou as famosas palavras: “O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Que acordo pode haver entre a academia c a igreja?”8 Segundo Tertuliano, a origem dc todas as heresias está na filosofia e, portanto, o que os verdadeiros crentes em Jesus Cristo devem fazer é rejeitar a filosofia e se sujeitar às doutrinas da igreja. Contudo, é interessante que o próprio Tertuliano, apesar de todos os seus protestos contra a intromissão da filosofia grega na vida da igreja, e aparentemente sem sequer se dar conta disso, laz repetidas vezes uso de seu pano de fundo estoico. Como já ressaltamos anteriormente, o caráter da cultura é tal que vivemos nela e a refletimos, ainda que não nos demos conta
Depraescripiione baereticorum, 7. disso. Tertuliano não sabe que é estoico porque essa c a corrente filosófica mais comum na parte do Império na qual ele vive e se formou. E esse mesmo Tertuliano que rejeita o uso da filosofia grega no campo da teologia é o advogado que faz constantemcntc uso de princípios legais romanos para defender a fé cristã c ate para explicar doutrinas como a Trindade e a encarnação. Portanto, embora Tertuliano insistisse na necessidade dc rejeitar a filosofia que vinha da Grécia, ele próprio participava dessa filosofia de modos que desconhecia. O mesmo se aplica à sua relação com a cultura romana, que, em todo caso, era o modo pelo qual a grega lhe chegava. Tertuliano se queixava da imoralidade dos costumes romanos e da injustiça dc suas ações governamentais contra os cristãos. Nesta mesma defesa, porém, fazia uso dos princípios do direito romano. Assim, por exemplo, queixava-se das instruções do imperador Trajano, no sentido de que não se deviam empregar os recursos do Estado para procurar os cristãos, porém, uma vez acusados, devia-se condená-los, dizendo: Que liberalidade miserável! Que contradição interna! Proíbe--sc que sejam procurados, como a inocentes, porém depois eles são castigados, como culpados. E misericórdia e crueldade ao mesmo tempo. Perdoa, e, no entanto, castiga. O juízo, por que enganas a ti mesmo? Se condenas, por que não procuras? E se não procuras, por que não absolves?1' A atitude de Tertuliano c freqüente entre cristãos que, por uma ou outra razão, cruzam fronteiras culturais. Essa foi, por IJ Apologia, 2.
exemplo, a atitude da imensa maioria dos missionários espanhóis e portugueses que chegaram primeiro a nosso hemisfério. Para eles, aqui nada havia que fosse digno de consideração. Pelo contrário, o que viam em nossas culturas não passava de obra do demônio. E assim, embora nenhum deles pareça ter dito isto com essas palavras, podemos imaginá-los declarando: O que Inti tem a ver com o Senhor dos exércitos? Que consonância pode haver entre Roma e Tenochtitlán? Que acordo entre Castela e o Tahuantinsuyo? Do mesmo modo e com as mesmas atitudes outros chegaram mais tarde às Filipinas, â África, às ilhas do Pacífico. E assim também vieram depois alguns
missionários evangélicos procedentes do Atlântico Norte, convencidos de que tudo que havia aqui era ignorância e superstição c de que eles vinham nos trazer a pura lé cristã. O problema é que, do mesmo modo que Tertuliano séculos antes, esses próprios missionários não sc apercebiam do grau cm que sua fé refletia a cultura da qual procediam. E esta atitude é comum, não apenas entre os missionários que chegam a uma cultura com um poder arrasador e usam esse poder para esmagar a cultura aonde chegam, mas também entre as pessoas que, por uma razão ou outra, sc veem marginalizadas em sua própria cultura. Este é claramente o caso de Tertuliano, um advogado respeitado nos círculos jurídicos romanos, a tal ponto que muito possivelmente seja cie o mesmo Tertuliano citado no Cor pus luns Civilis, ele, que agora se torna membro de um grupo desprezado e perseguido. E este era também o meu caso e o de muitos de meus companheiros e pastores, que nos víamos marginalizados dentro de nossa própria cultura e imaginávamos que dc algum modo pertencíamos a outra cultura superior, uma combinação inconsciente de elementos recebidos de culturas estrangeiras com elementos de nossa própria cultura. Mais uma vez o caso de Tertuliano. E vejo o mesmo por todas as partes em nossa América, onde existem grandes grupos evangélicos que parecem pensar que sua fé os chama a afastar-se dc sua cultura, quando na realidade o que ocorre é que essa fé os ajuda a aceitar a marginalização da qual sempre foram objeto. Mas a marginalização não tem de levar necessariamente à alienação. Prova disso é o caso de Paulo, judeu educado nas melhores escolas de sua tradição, tariseu de fariseus, líder de sua sinagoga e da perseguição contra os cristãos. Quando se converte, ele próprio se une ao grupo dos marginalizados e perseguidos. Agora é membro dc uma seita que os judeus tradicionais c as elites religiosas consideram herética e perseguem. Agora ele próprio será objeto de perseguição constante, pois em Atos vemos repetidas vezes que é expulso de uma cidade ou tem de fugir de outra. E quando chega à capital de sua própria nação, acusam-no e o colocam no cárcere. Contudo, Paulo não permite que essa marginalização o leve a rejeitar sua cultura. Rejeita, sim, alguns elementos dela. Mas continua sendo judeu c se certifica de que os cristãos, tanto judaicos quanto gcntílicos, vejam a continuidade entre sua íceo judaísmo, pois o Deus que falou cm Jesus Cristo é também o mesmo Deus que fez um pacto com Israel. E é justamente graças a essa atitude de viver
sua fé dentro de sua própria cultura, ainda que seja uma cultura que o marginaliza e persegue, que Paulo forja boa parte do que por fim seria o Novo Testamento dos cristãos. Assim, desde os tempos de Paulo até os tempos de Tertuliano e depois, houve quem adotasse uma atitude muito diferente da de Tertuliano. Se o evangelho abriu espaço entre as pessoas de cultura grega e por fim se encarnou nessa cultura, isso se deveu em boa parte àqueles que, ao se perguntar, como Tertuliano, “o que a academia tem a ver com a igreja?”, responderam: “muito”. Essa resposta não era apenas uma questão de conveniência ou estratégia missionária, mas se baseava nas convicções fundamentais do cristianismo. Com efeito, se há somente um Deus, criador de tudo que existe, esse Deus deve ser criador não só dos hebreus, mas também dos gregos, romanos e capadócios. E de algum modo deve ser criador não apenas das casas em que vivem os hebreus, mas tatnbcm das casas onde moram os egípcios. Apesar dc muitas vezes termos a ideia dc que o Antigo Testamento c um livro exclusivista, o fato c que a religião de Israel percebia a ação de Deus, tanto em juízo quanto cm amor, entre outros povos e culturas, além dos hebreus. Assim, o livro de Jonas termina falando do amor perdoador de Deus até para com a terrível c corrupta Nínivc. E Amós afirma que não é somente na história de Israel que Deus se manifesta. Assim, Deus declara: Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? - diz o Senhor. Não fiz cu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e dc Quir, os siros? Amós 9.7. Ainda que haja muitas outras passagens no Novo Testamento que possam ser aduzidas para mostrar a relação entre a fé cristã e a cultura circundante, o que os escritores cristãos antigos empregaram com mais frequência foi o prólogo do quarto evangelho. Ali sc fala a respeito do Verbo eterno de Deus, e sc afirma que esse Verbo é o que se encarnou em Jesus Cristo. Mas sc tala também} do alcance universal do Verbo e sua obra: “Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez” (Jo 1.3). E se diz ainda que ele é a luz que ilumina toda pessoa que vem a este mundo. 'Portanto, de algum modo que nem sempre nos é manifesto, mas nem por isso
menos real, o Verbo que se encarnou em Jesus Cristo estava também presente na criação da Grécia e dc Roma, c dc cada grego e cada romano, embora cies mesmos não o soubessem. E, visto que esse Verbo é a luz que. ilumina não apenas todos os profetas, mas todo ser humano que vem a este mundo, se há alguma luz ern um ser humano qualquer, essa luz vem do Verbo que se encarnou cm Jesus Cristo. Se Platão, por exemplo, deu sinais de possuir certa luz, certo conhecimento, certa inspiração, tudo isso lhe veio do mesmo Verbo que “[...] se fez carne e habitou entre nós, [...] c vimos a sua glória [...]” (Jo 1.14). ’ Uma das razoes pelas quais muitos dos antigos escritores cristãos preferiram essa passagem a outras é que a palavra que João utiliza ali, e que nossas Bíblias traduzem como Verbo, c Logos; c o Logos era um tema que vários dos antigos filósofos gregos discutiram c expuseram, e que os filósofos dos séculos 2 e 3 continuavam discutindo. Em termos gerais, podemos dizer que a pergunta que se encontra nas origens da especulação filosófica acerca do Logos é a questão de como o conhecimento é possível. O fato de conhecer c tão natural que muitos de nós sequer perguntamos como ele c possível. Mas quando nos detemos cm refletir sobre isso, percebemos que o conhecimento é uma realidade surpreendente. Com efeito, o conhecimento requer a existência de certa estrutura comum entre a mente que conhece e a realidade conhecida. Como explicar, por exemplo, o fato de que minha mente me diz que dois c dois tem de ser quatro, e quando olho ao redor vejo que, com efeito, é isso o que ocorre na realidade fora dc minha mente? O que nos parece simples não c tão simples assim. Se não houvesse correlação alguma entre a mente e a realidade, minha mente poderia me dizer que dois mais dois são quatro, mas na realidade externa poderia ser que duas maçãs mais duas maçãs fossem três maçãs e que duas pedras mais duas pedras fossem cinco pedras. Não é isso que ocorre, porém; ao contrário, há uma correlação maravilhosa e inexplicável entre a mente e a realidade. E o mesmo pode ser dito a respeito da correlação entre as diversas mentes humanas, pois não c só minha mente que me diz que dois mais dois são quatro, mas todas as mentes das pessoas que encontro em meu caminho. Isto exige que na base tanto de minha mente quanto da realidade externa haja um princípio comum, algo que minha mente compartilha com essa realidade. Atualmente chamamos isso de ra~ zoabilidade. A mente e o mundo concordam porque os dois são razoáveis. Na Antiguidade, os filósofos gregos chamavam dc
Logos esse princípio comum, essa razoabilidade que é fundamento tanto da mente quanto do universo. Segundo esses filósofos, o que faz com que o mundo seja inteligível é que tanto a mente quanto o mundo participam do mesmo Logos. E graças a esse Logos que sabemos que dois c dois são quatro. E é também graças a ele que em todo o universo dois c dois são quatro. Sem o Logos, dois e dois não seriam quatro, e minha mente não poderia sabê-lo. O que dissemos até aqui a respeito de uma verdade tão simples como a de que dois e dois são quatro também se aplica a qualquer outra verdade, inclusive às mais eminentes especulações filosóficas. Se é pelo Logos que qualquer criança sabe que dois e dois são quatro, foi pelo mesmo Logos que Platão alcançou sua enorme sabedoria c suas mais profundas idéias. E agora entram em cena os cristãos, convencidos de que, como diz o Evangelho de João, o Logos por quem todas as coisas foram feitas, o Logos que é a luz que ilumina todas as pessoas que vêm a este mundo, encarnou-se em Jesus Cristo. Como crentes, perguntam-se: “Que haveremos de dizer sobre toda essa sabedoria da Antiguidade? Haveremos de condená-la como obra do demônio?" E a resposta de muitos outros é: “Não, pelo contrário. Toda essa sabedoria foi dada aos antigos pelo mesmo Logos que conhecemos em Jesus Cristo. Por conseguinte, essa sabedoria não é alheia à nossa fc, mas faz parte dela. O que temos de fazer não é condená-la, mas aceitar o que houver nela que seja compatível com nossa fé, com a realidade que conhecemos do Logos encarnado." isto permitiu àqueles primeiros cristãos não apenas aceitar boa parte da cultura circundante, mas também pregar o evangelho de formas que fossem convincentes para essas pessoas que, de outro modo, poderiam ter pensado que se tratava simplesmente de uma superstição nascida em um rincão obscuro do Império c carente de respeitabilidade intelectual. O resultado de tudo isso pode ser visto no modo como muitos desses cristãos apresentaram a fé aos pagãos, ao menos em três pontos principais: a doutrina de Deus, a promessa de vida depois da morte e a esperança do reino. Vamos analisá-los nesta ordem. - Primeiro, a doutrina dc Deus. Por mais estranho que isso nos pareça hoje, uma
das acusações mais comuns das quais os cristãos eram objeto nos séculos 1 a 3 era a dc ateísmo. Os pagãos tinham deuses que se viam. Se alguém lhes perguntasse: “Onde está seu Deus?”, a resposta era bem simples: “Aqui, veja.” Mas um cristão não podia dar tal resposta. Portanto, era fácil para os pagãos concluírem que os cristãos eram ateus e, portanto, pessoas ímpias. Não nos esqueçamos que a impiedade era vista como uma atitude an-tissocial e que Sócrates fora condenado à morte por causa dc uma acusação semelhante. Portanto, quando no século 2, nas atas do martírio de Policarpo, o procônsul lhe ordena que grite “morram os ateus!”111, o que está lhe pedindo é que abandone o cristianismo. Os cristãos são ateus e, por isso, são dignos de morte. A melhor resposta que os cristãos tinham contra tal acusação era ressaltar que vários dos melhores filósofos entre os gregos fizeram afirmações acerca dos deuses e do Ser Supremo semelhantes às que eles agora faziam. Pelo menos desde os tempos pré-socráticos, com Xenófanes de Cólofon, existia toda uma tradição filosófica que criticava os deuses pagãos tanto por causa dc seus vícios quanto de suas limitações. Essa tradição fazia do antropoformismo dos deuses tradicionais o fundamento de suas críticas. Assim, o próprio Xenófanes afirmava: Se os bois e os cavalos ou os leões tivessem mãos, e pudessem pintar com elas e produzir obras dc arte como o fazem os seres humanos, os cavalos desenhariam seus deuses em forma dc cavalos, e os bois como bois, e cada qual faria seus deuses conforme sua própria espécie.'1 E dessa tradição surgiu também outra, pelo menos desde a época de Parmênides de Elcia, que falava dc um Ser Supremo, perfeito, imutável, acima de todos os demais seres, de um ser que é o próprio Scr. Assim dizia Parmênides acerca do Ser Supremo: 2 3 [...] Tudo ele vê; tudo pensa; tudo ouve. Com sua mente, do pensamento sem trabalho algum, move todas as coisas. Com preeminência claro é que permanece sempre no mesmo sem em nada mover-se sem nunca deslocar-se
nos diversos tempos para as diversas partes.4 A mesma tradição uniram-se mais tarde Platão com sua Suprema Idcia do Belo, que c u raiz de todas as idéias e, portanto, de toda a realidade, e Aristóteles com seu Primeiro Motor Imóvel, o qual é a origem e a meta dc todo movimento e todo processo. Pois bem, diziam os cristãos, esse Ser Supremo de Parmênidcs, essa Suprema Ideia do Belo dc Platão, esse Primeiro Motor Imóvel de Aristóteles, esse é o Deus a quem adoramos. Portanto, não nos tenham por ateus. Na verdade, ateus são os pagãos, pois adoram deuses que não o são; por conseguinte, se seus deuses não existem, na verdade eles são ateus; não têm deuses, mas ilusões, ídolos, falsidades. Desse modo, reivindicando para si o que o Logos havia revelado a Parmênidcs, a Platão e a Aristóteles, os cristãos não apenas reivindicavam o melhor da filosofia clássica, mas também defendiam e sustentavam sua postura em relação ao próprio Deus. No entanto, a questão não era tão simples, pois o próprio processo pôs em risco alguns dos elementos fundamentais da doutrina de Deus. Como disse em outras ocasiões, a ponte apologética permite tráfego nas duas direções. O que originalmente foi um modo inteligível de os cristãos apresentarem sua fé aos pagãos pouco a pouco foi sc tornando o modo cotno os próprios cristãos passaram a pensar acerca de Deus. Logo houve muitos que pensaram que o que os filósofos falavam acerca do Ser Supremo era superior à forma como a Bíblia fala acerca de Deus, c às vezes até se tornou difícil para alguns cristãos ver esse Ser Supremo como um Deus de amor e misericórdia, como um Deus que escuta nossas orações e as atende. fO segundo ponto no qual os cristãos dos séculos 2 e 3 foram criticados por seus
contemporâneos pagãos sc referia à vida após a morte. Os cristãos reafirmavam essa vida e criam nela de tal modo que, quando as circunstâncias o exigiam, muitos deles estavam dispostos a ofertar a vida presente em favor da futura. Isto tambcin lhes rendia críticas por parte de seus vizinhos, que diziam que não fazia sentido dar esta vida presente, que é segura, cm troca de outra que não o é.^Alcm disso, muitas pessoas -zombavam da esperança cristã na ressurreição dos mortos. Vocês creem de verdade na ressurreição dos mortos? O que acontece
com uma pessoa que morreu afogada e cujo corpo foi comido pelos peixes? Deus irá pelo mundo todo procurando cada pedacinho do corpo do defunto? E os átomos que pertenceram a vários corpos? A quem pertencerão na ressurreição final? Haverá alguns que ressuscitarão com buracos, porque essa parte do corpo pertence a outros? Em resposta a tais críticas c zombarias, muitos cristãos recorreram aos filósofos cm busca de apoio para sua esperança na vida após a morte. Afinal de contas, se o mesmo Lagos que se encarnou cm Jesus Cristo inspirou também os filósofos, deve haver neles algo acerca dessa vida futura. Este algo íoi encontrado por eles na doutrina da imortalidade da alma, que vários daqueles filósofos venerados haviam ensinado. Assim, Sócrates se tornou um herói para os cristãos, pois morreu cm perfeita calma, convencido de que nada nem ninguém poderia matar sua alma. E os argumentos de Platão para demonstrar a imortalidade da alma se tornaram argumentos cristãos. ■ Mais uma vez, porém, a ponte apologética se desloca nas duas direções. O que no princípio foi um argumento para mostrar que não era tão errado crer na vida após a morte tornou-se o modo mais comum de entender a doutrina cristã da vida futura. Assim, a doutrina da ressurreição ficou praticamente esquecida. Também ficou esquecida a doutrina de que somente Deus c eterno c imortal e que a alma só tem vida na medida em que e enquanto Deus a dá c a sustenta. Em vez disso, começou-se a falar de almas imortais que não devem a vida á graça de Deus, mas à sua própria natureza. 1 O terceiro ponto que devemos mencionar é o que se refere à esperança do
reino. Também neste caso, os pagãos criticavam os cristãos, e estes responderam procurando entre os filósofos tudo o que pudesse sustentar tal esperança. Encontraram esse apoio na doutrina platônica do mundo das idéias: um mundo superior ao presente, um mundo no qual há somente idéias eternas, um mundo que é mais real do que o presente. ' Pela terceira vez, porém, a ponte apologética se projeta nas duas direções. Chegou o dia em que a maioria dos cristãos, em vez de pensar no reino como a promessa de uma ordem futura para toda a criação, convenceu-sc de que a esperança cristã consistia em ser transportado a um nível celestial, a outro mundo, e que o reino não era senão esse outro mundo. Com isso se perdeu a
esperança escatológica de “[...] um novo céu e uma nova terra [...]” (Ap 21.1), e chegou-se a pensar que o reino de Deus c um lugar de puras almas imortais. Voltando, então, à relação entre a fé cristã e a nova cultura na qual ela ia avançando, podemos resumir o que foi dito da seguinte maneira: • Primeiro, alguns pensadores cristãos insistiram que não havia nem podia haver relação alguma. A vantagem de tal posição era que se mantinha — ou se acreditava manter - a pureza da fé, livre dc toda contaminação com a cultura circundante. Tal atitude, contudo, não é satisfatória, pois, como vimos dizendo desde o princípio, a cultura faz parte da obra criadora de Deus. Sc Deus é o criador de tudo quanto existe e se Deus está presente e atuante em toda a criação, não é possível pensar que ele esteve completamente ausente de partes inteiras da história da humanidade, de continentes inteiros, até que a fc cristã chegasse a eles. 'Segundo, a maioria dos pensadores cristãos, baseando-se na doutrina do Logos, mostrou-se disposta a aceitar o que houvesse de bom na cultura circundante. Nesse processo, ao mesmo tempo em que se estabeleceram pontes com essa cultura, abriu-se o caminho para que fossem esquecidos - ou ao menos preteridos — vários elementos fundamentais na fé cristã. Nestes dois poios vemos resumida a questão da relação entre o cristianismo e as culturas, c as duas alternativas principais, cada uma delas com seus perigos concomitantes. Convém que nos detenhamos aqui para ressaltar dois aspectos negativos no uso da doutrina do Logos na tarefa missionária durante o curso da história. O que estes dois aspectos criticam não é necessariamente a doutrina em si, mas o modo como tem sido empregada ao longo dos séculos. Os dois aspectos podem ter c tiveram conseqüências trágicas na história dos povos e das missões, e por isso é de suma importância dizer ao menos uma palavra sobre eles, com a esperança de evitar no futuro pelo menos alguns dos erros do passado. O primeiro aspecto pode ser resumido em uma breve frase: in-felizrnente, a igreja só parece lembrar-se da doutrina do T.ogos nos casos em que não lhe é
possível se impor à força a uma cultura. Este foi o caso do encontro que deu origem à própria doutrina, ou seja, do encontro entre a fé cristã e a cultura grecoromane. O pequeníssimo mi mero de cristãos - a maioria deles de classes mais baixas e menos influentes - dificilmente poderia sonhar cm se impor à força à cultura greco-romana, apoiada por uma tradição de séculos e pelo poderio do próprio império. Assim, a doutrina do Logos permitiu à igreja ver e reconhecer sabedoria mesmo naquela cultura que lhe era hostil e que a desprezava. Semelhautenientc, quando Mattco Ricci chegou à China e Roberto de Nobili à índia, embora os dois contassem com um forte respaldo europeu, não lhes ocorreu conquistar nenhum desses países e impor a cultura europeia. Tanto Ricci quanto De Nobili se distinguiram por seu apreço pelas respectivas culturas em que trabalhavam. Seguindo a antiga tradição do Logos, ambos viam a mão cie Deus nas maiores realizações dessas culturas, especialmente cm seus sistemas de valores éticos. Em contraposição a isso, quando os primeiros missionários espanhóis e portugueses chegaram a estas terras, foram poucos os que viram algo de bom nas culturas que se desenvolveram aqui ao longo dos séculos. Para a maioria deles e certamente para a oficialidade tanto civil quanto religiosa o que havia nestas terras era obra do demônio. Embora nunca o tenham dito tão abertamente, parecia que o /,0üü.v ou Verbo dc Deus não tinha estado por aqui, que nosso hemisfério não estava entre “todas as coisas” que toram teitas pelo Verbo e que nossos antepassados não faziam parte dessa humanidade que o Verbo ilumina. E, como sabemos, um dos modos de assegurar que a questão do Verbo não fosse levantada foi colocar em dúvida a própria humanidade de nossos antepassados. De modo semelhante c na mesma época, quando outros cristãos chegaram à África com o propósito de se apossar de seres humanos que depois venderiam como escravos, não ocorreu nem à oficialidade religiosa nem à civil levantar a questão sobre o que o Logos estivera fazendo entre os africanos antes da chegada dos europeus e sobre como essa obra do Logos ainda podia ser vista nas culturas africanas. Portanto, eis a primeira crítica ou advertência: infelizmente nós, cristãos, não temos aplicado coerentemente o que dizemos acerca do Logos ou Verbo de Deus e sua presença nas culturas. Pelo contrário, temos apelado à presença do Logos somente nas culturas que não podemos devastar.
O segundo aspecto é semelhante e se refere também à forma como a doutrina do Logos foi empregada tradicionalmentc. Em poucas palavras, o que ocorreu é que raramente a teoria do Logos foi aplicada alem do âmbito meramente racional ou doutrinário. Já nos primeiros séculos, ao ser formulada, essa teoria foi empregada para sustentar a correlação entre as doutrinas e os ensinamentos cristãos e os dos filósofos. Quando, posteriormente, ela foi utilizada em outros lugares, o que se fez foi propor perguntas doutrinárias. Assim, por exemplo, no encontro com outra cultura, propomos perguntas como as seguintes: eles tem alguma percepção da divindade? Há entre eles uma visão monoteísta, ou pelo menos a ideia de um deus que reina sobre os deuses? O que pensam da vida após a morte? etc. Mas ocorre a poucos perguntar o que o Logos fez quanto ao modo como a sociedade e as famílias se organizam nessa cultura, ou até que ponto os valores morais e o conceito de justiça que vemos ali são produto do mesmo Logos que vimos encarnado em Jesus Cristo. Mais uma vez, o segundo ponto fraco quanto à maneira como tradicionalmcntc se aplicou a teoria do Logos c que quase sempre sc limitou sua ação ao âmbito racional e doutrinário. Isto não deve nos surpreender. Indicamos anteriormente como, entre os filósofos gregos, a teoria do Logos foi, sobretudo, uma forma de explicar a racionalidade do universo. Além disso, a própria palavra Logos, em sua origem, quer dizer, entre várias outras coisas, razão ou discurso racional. E isso ainda se reflete no modo em que a usamos ao compor os nomes de disciplinas como a geologia, a fisio-logia ou a teologia. Por estas duas razões, na discussão missiológic.a a teoria do Logos foi empregada relativamente pouco depois de sua criação e seu apogeu nos séculos 3 e 4. Mas, ao ler o prólogo do quarto evangelho, percebemos que o que ali sc entende por Verbo ou Logos é muito mais do que a mera razão ou o discurso racional. Não obstante, devc-sc reconhecer que essa teoria tem ao menos o valor de colocar a tarefa missionária dentro de seu contexto cósmico mais amplo e ajudar-nos a ver nela muito mais do que nosso esforço para obedecer ao mandato de Jesus Cristo. Talvez, então, o melhor modo de ver essa dimensão cósmica da missão, assim como a dimensão teológica das culturas, seja voltar-se à mais conhecida das passagens empregadas como base e justificação para a tarefa missionária. Refiro-me ao que se chama tradicionalmente de a Grande Comissão, em Mateus
28.19: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações Essa passagem sempre me intrigou. Mas não somente por causa de seu chamado à missão universal, ou por causa dos temas que outros têm debatido acerca da relação entre o ensino, a pregação, o batismo e os mandamentos de Jesus. Intrigou-me simplesmente por uma questão gramatical. Intrigou-me porque começa com “portanto”1'1. Ninguém começa a falar dizendo “portanto”. A própria expressão requer um antecedente. Não dizemos: “Portanto, não posso comprar mais.” Dizemos: “Meu dinheiro acabou; portanto, não posso comprar mais.” Seria muito estranho um orador começar um discurso dizendo: “Portanto, alegro-me por estar aqui.” Ele diria: “Gosto dc Lima; portanto, alegro-me por estar aqui.” Qual é, então, o antecedente da Grande Comissão? O texto está muito claro. Jesus diz: “Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, [...]” (Mt 28.18-19). A razão para ir é que Jesus recebeu todo o poder na terra e no céu. Sc levarmos a sério esse texto, o propósito de nosso ir, a razão de nosso ir não é levar Jesus Cristo para um novo lugar, e tampouco levar seu senhorio. Segundo esse texto, Jesus já é Senhor desse lugar muito antes de chegarmos lá. Percebe-se isso claramente no capítulo 10 de Atos, na passagem que comumente se chama “a conversão de Cornélio”, mas que com igual razão poderia sc chamar “a conversão de Pedro”. 0 que vemos ali é o contraste e a confluência entre duas visões, ambas de Deus. A primeira sobrevem não a Pedro, que já é crente, mas a Cornélio, " l)eve-se reconhecer que o que u RVR traduz como “portanto" c a partícula de, intraduzívcl ao castelhano, mas cuja força não c a de um “portanto”, e sim a de um “pois”. Em todo caso, porém, a própria partícula requer uma relação com o que a antecede.
que é centurião do mesmo exército que crucificou Jesus e que vive na cidade majoritariamente paga dc Cesareia. Além disso, a túsão de Cornélio é clara e precisa. O texto diz que “[...] observou cla-ramcnte durante uma visão [...]” (At 10.3). Nessa visão, um anjo lhe aparece e lhe dá instruções precisas: “[...] envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beiramar” (At 10.5-6).
Em contraposição ã visão de Cornélio, a de Pedro lhe sobrevem um dia depois, quando os enviados de Cornélio já estão chegando a Jope. E sua visão não é clara. O texto diz que ele “[...] viu [... | um objeto como se fosse um grande lençol [...1” (At 10.11). Nesse grande lençol há toda espécie de animais, c uma voz convida Pedro a matar c comer. Pedro se nega, pois no lençol há animais imundos, e ele é um bom judeu. A voz lhe diz: “Ao que Deus purificou não consideres comum” (At 10.15). Mas Pedro se nega novamente, e na terceira vez o lençol desaparece e a visão se csfiima. Quanto a Pedro, o texto diz que ele “[...] estava perplexo” (At 10.17). Ê então que chegam os enviados de Cornélio. Pedro vai com eles porque o Espírito lhe ordena que o laça, mas na verdade ele não sabe por que nem para que vai. Quando finalmente chega à casa dc Cornélio, recorda-se de que “[... | é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém dc outra raça [...]” (At 10.28) e lhe diz que só veio porque Deus assim o ordenou. Vemos aqui que Pedro começa a mudar de atitude para com os gentios, embora não pareça fazê-lo de boa vontade. Quando finalmente Pedro começa a explicar o evangelho a Cornélio c aos seus, o Espírito Santo desce sobre todo o grupo. E aí que Pedro finalmente tem um lampejo e sc pergunta: “Porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?” (At 10.47). Portanto, o que acontece é que Cornélio e os seus se convertem ao cristianismo e são batizados; mas também Pedro se converte de um cristianismo estreito, limitado aos filhos de Israel, para um cristianismo mais amplo, em que o Espírito atua além dos limites do povo judeu. E, se continuarmos lendo o livro de Atos, no capítulo 11 veremos que isto leva à conversão da igreja na própria Jerusalém. Ao se inteirarem do que Pedro fez, os crentes dc Jerusalém pedem que ele se explique. Quando Pedro lhes narra o acontecido, eles também descobrem uma nova dimensão em sua fé: “Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida” (At 11.18). ‘Pedro não foi a Ccsareia para levar Jesus. Foi porque Jesus já estava lá. E, indo a Ccsareia, aprendeu algo acerca do senhorio de Jesus Cristo que dc mesmo já pregava há tempo em Jerusalém e na Judeia. O fundamento da Grande Comissão consiste cm que Jesus pode afirmar “Toda a autoridade me foi dada no céu c na terra” (Mt 28.18). Aquela Cesareia e aquele Cornélio, cidade pagã e
centurião pagão, já estuvam sob o domínio de Jesus Cristo, embora não o soubessem. E, ao ir para lá, Pedro descobriu algo acerca desse mesmo Jesus Cristo e dc seu evangelho. Se levamos a sério o que antecede a Grande Comissão, não são apenas as nações que necessitam do testemunho da igreja. A igreja também necessita das nações, porque, cada vez que conhece c experimenta a presença de Jesus Cristo em um novo contexto, cia aprende algo do significado e alcance do poder de seu Senhor. Sem Jerusalém, o evangelho não teria chegado a Cesareia; portanto, de certo modo, Cesareia é a gloria de Jerusalém. Contudo, sem Cesareia, o evangelho teria ficado enquistado em Jerusalém. Tudo isso nos ajuda, portanto, a refletir um pouco mais sobre a relação entre as culturas e o evangelho. Como indicamos desde o princípio, o fato de haver cultura faz parte do propósito de Deus na própria criação. A diversidade de culturas, que Gênesis atribui à história de Babel, é ao mesmo tempo castigo e libertação. Como castigo, causa confusão, falta de comunicação. Corno diversidade, liberta toda cultura de seus sonhos de universalidade. Em Pentecostes, ao mesmo tempo em que se reafirma a diversidade, reafirma-se também a comunicação. Cada pessoa ouve em sua própria língua; mas todas ouvem o evangelho dc Jesus Cristo. Visto que quem sc encarnou em Jesus Cristo e nos deu de seu Espírito em Pentecostes é o criador dc tudo quanto existe e a fonte de tudo quanto se conhece, e visto que em sua ressurreição toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, cabe a nós, crentes em Jesus Cristo, descobrir e anunciar seu poder e sua presença em todo lugar e em toda cultura. Assim o fez Pedro, ainda que para sua surpresa, ao se encontrar com Cornélio. Assim o fez Paulo no Areópago de Atenas. Assim o fez a igreja dos séculos 2 c 3 ao desenvolver a doutrina do Logos... Mas a coisa não é tão simples. Pedro descobriu a ação do Espírito em Cornélio e nos seus, porém logo o império que o próprio Cornélio representava estaria perseguindo os cristãos. E tudo parece indicar que o próprio Pedro foi morto por esse império. Paulo disse aos atenienses que lhes pregava o “[...] Deus desconhecido [...]” (At 17.23) a quem eles também se referiam; entretanto, ao lhes falar acerca da ressurreição dos mortos, provocou zombaria e desprezo entre eles. Justino, um dos principais promotores da doutrina do Logos e, portanto, um dos autores cristãos que mais respeito mostrou pela filosofia grecoromana, morreu como mártir
nas mãos do Império Romano sob o governo de Marco Aurélio, o imperador que, mais do que qualquer outro, respeitava c seguia os ensinamentos dos filósofos. A explicação teológica de tudo isso é clara: o pecado afetou toda a criação, inclusive suas culturas. A cultura greco-romana, ao dar amplos sinais da presença de Deus, dava igualmentc amplos sinais da presença do pecado. Assim, aquela mesma cultura que falou em tons tão sublimes da sabedoria e da justiça não considerava nada extraordinário nem condenável que se expusessem os recém-nascidos indesejados para morrer na intempérie, presas de feras ou vítimas dos elementos. A cultura chinesa, na qual Ricci trabalhou e na qual viu tantos indícios da presença iluminadora do Verbo de Deus, era a mesma que amarrava e deformava os pés das meninas, de modo tal que quase não conseguiam andar. A cultura hindu, onde De Nobili observou também tantos indícios de sabedoria, era a mesma que queimava vivas as viúvas nas piras fúnebres dc seus esposos e sacrificava crianças ao Ganges. Em algumas de nossas culturas indígenas, que hoje em dia às vezes romantizamos, praticava-se o sacrifício humano e ocasionalmentc até o canibalismo. Em suma, repitamos, o pecado atetou toda a criação, e isto inclui também as culturas. Mas isso não basta. Por mais pecaminosas que possam ser as culturas, como seres humanos temos dc viver dentro delas. Como cristãos, devemos julgá-las ao mesmo tempo em que as apreciamos; temos de dar testemunho, dentro delas, do poder redentor de Jesus Cristo, que é poder não apenas para mudar vidas de indivíduos, mas também para transformar as culturas. Por isso, é necessário que pensemos em termos práticos acerca do que acontece - c do que deveria acontecer - quando o evangelho cruza fronteiras culturais. Em outras palavras, é necessário que nos detenhamos em analisar algumas das considerações, expectativas c práticas que melhor se aplicam no contexto da missão transcultural. 1 Transtating lhe gcape!: The missionary impact on culture. Maryknoll, NY: Orbis Books.
2
Martyr. Polyc., 9.2.
3 Fmg. 15.
4 Cit. ap. García BACCA.Juan David. Lospmocrdtitos. México: Pondo dc Cultura Economica, 1943, p. 3.
CULTURA E MISSÃO . té aqui vimos que o próprio fato de haver cultura - e de existir cultivo e culto — faz parte do propósito de Deus a partir da criação. Vimos também que o pecado que corrompeu a criação c a vida humana corrompeu também todas as culturas. Acrescentamos a isso que a diversidade das culturas, ao mesmo tempo em que pode ser vista como conseqüência do pecado, é também ação libertadora por parte de Deus. Finalmente, no capítulo 5 vimos que o Verbo de Deus que existia desde o princípio com Deus, por meio do qual todas as coisas foram ícitas, é o mesmo Verbo que continua atuando na criação e, portanto, em todas as suas culturas. Vimos ainda que a Grande Comissão se fundamenta justamenlc nessa presença universal de Jesus Cristo, que a introduz com as palavras “Toda a autoridade mc toi dada no céu c na terra” (Mt 28.18). O que tudo isso quer dizer, cm suma, é que toda cultura deve ser vista sob a lente dupla do amor e da presença de Deus, por um lado, e da corrupção do pecado, por outro. Toda cultura é pecaminosa, mas, ao mesmo tempo, Deus atua em toda cultura. Isto parece scr um bom princípio, mas não é suficiente, e muito menos quando sc trata de cruzar fronteiras culturais. Se parte da missão da igreja consiste em encarnar o evangelho em uma diversidade de culturas, como se consegue isso? O que significa para a obra missionária da igreja? Significa, em primeiro lugar, o que já dissemos anteriormente: que, ao se encontrarem com uma nova cultura, os crentes em Jesus Cristo devem tratá-la com respeito, como lugar sagrado no qual a autoridade de Jesus Cristo já é exercida, embora as pessoas que estão ali não o saibam. Como indicamos, foi assim que os primeiros cristãos conseguiram abrir caminho no mundo grecoromano e dar origem a uma igreja que, sendo semita em sua origem, logo se arraigou e se encarnou nessa outra cultura. Vamos nos deter por um momento em pensar e imaginar: o que poderia ter ocorrido se aqueles primeiros cristãos europeus que chegaram a nossas terras tivessem visto nossos antepassados indígenas não como pessoas
desencaminhadas pelos demônios, mas como povos c culturas nos quais o Verbo de Deus já estava presente? Certamente, em vez de destruir os antigos códices, os teriam estudado para ver que valor havia neles. Teriam aprendido de nossos antepassados remédios que poderiam ter salvo muitas vidas em todo o mundo; teriam aprendido observações astronômicas que a velha Europa ainda não havia feito; teriam aprendido como cultivar a terra de modo a poder continuar sustentando a população. Quanto à vida eclesiástica, teriam aprendido que não é preciso adorar a Deus sempre em latim. Teriam aprendido o arawak, o náhuatl, o quíchua e o aymara. Teriam feito dessas línguas verdadeiros instrumentos para o culto e a comunicação. Estariam dispostos a colocar pessoal nativo à frente das igrejas o mais rápido possível. E assim teria surgido uma igreja verdadeiramente arraigada cm nossas culturas e, depois, nas novas culturas que iam nascendo com o passar do tempo e com os encontros entre diversas culturas. Mas não, não foi isso que eles fizeram. E por duas razões: A primeira delas é que aqueles cristãos - não apenas os conquistadores que vinham para enriquecer c sc apossar das terras e dos tesouros, mas inclusive os mais sinceros cristãos espanhóis - não conheciam um modo de ser cristão diferente do deles. Por longos séculos a Espanha fora uma terra compartilhada entre cristãos, mouros e judeus. Mas, pouco mais de um século antes da Conquista, fora criado o mito da reconquista. Segundo ele, desde o ano 711, quando os mouros invadiram a península e destruíram o reino visigodo, até aquele momento culminante da capitulação dc Granada em 1492, a Espanha se dedicara a um longo processo de reconquista no qual os heróis cristãos pouco a pouco voltaram a capturar o território perdido para o islã. A verdade histórica é outra. Por muito tempo a Espanha não passou dc um mosaico de reinos e senhorios, cada qual lutando por seus próprios interesses, e no qual muitas vezes os cristãos se aliavam aos muçulmanos para fazer guerra contra outro cristão ou contra outro muçulmano. Mas os espanhóis do século 16 acreditavam no mito. Para eles, a Espanha nascera justamente da guerra contra o infiel. Essa visão foi confirmada quando o rei da Espanha, Carlos 1, mais conhecido por seu título como imperador Carlos V, viu-se confrontado com a Reforma Protestante em seus territórios alemães. Vendo-se em tal situação, não pôde
deixar de apelar à Espanha para que ela fosse o principal recurso econômico e militar na oposição ao protestantismo. Do ponto de vista da Espanha, isto confirmava o que já fora visto na reconquista: a Espanha era a nação chamada a proteger a ortodoxia católica, não mais somente perante o islã, mas também perante os protestantes e qualquer um que diferisse o mínimo dessa ortodoxia. Tudo isso foi possível porque a Espanha praticamente não tinha nenhum contato com pessoas que eram cristãs de outro modo. A queda de Constantinopla ante os turcos alguns anos antes produzira muitos refugiados gregos, mas a maioria deles fora à Itália, de modo que seu impacto na Espanha foi leve. Além disso, por 'algum tempo a coroa dc Aragão e depois a da Espanha desfrutaram de forte influência sobre o papado. Na própria Espanha, a Inquisição se ocupava com a perseguição c supressão de qualquer indício de diferença. Havia, portanto, um línico modo de ser cristão, e esse modo era o espanhol. Pedir a tais pessoas que ao menos considerassem a possibilidade de uma igreja diferente, encarnada em uma cultura diferente, teria sido como pedir que o olmo produza peras. Esta falta de experiência com outros cristianisrnos foi uma das razões pelas quais a igreja espanhola não pôde ver o grande valor que havia nestas terras e interpretou tudo como obra do demônio. A outra razão é que não lhes convinha. Se nossos antepassados indígenas eram selvagens guiados pelos demônios, não havia por que respeitar seus direitos dc propriedade c suas instituições. Por isso houve na Espanha, particularmente na Universidade dc Salamanca, debates longos e veementes em que se discutia se os nativos destas terras eram donos legítimos delas, sc seus governantes eram governantes legítimos, e até se tinham alma. Enquanto ocorriam os debates, aqui os conquistadores agiam como melhor lhes convinha, tomando posse das terras e casas, tirando o ouro e a prata de templos e palácios, destruindo as instituições que não serviam aos seus interesses e apossando-se de outras que, de algum modo, pudessem interessar. Em suma, tanto por causa de sua conveniência quanto de sua miopia e falta de perspectiva, aqueles primeiros cristãos que chegaram a estas terras não podiam conceber de que modo o Verbo de Deus pôde ter estado presente aqui muito antes deles, c muito menos como esse Verbo pôde ter se manifestado nas culturas
com as quais os espanhóis agora se deparavam. Voltemos então à nossa pergunta inicial: se parte da missão da igreja consiste em encarnar o evangelho cm uma diversidade de culturas, como se consegue isso? O que significa isso para a obra missionária da igreja? E nossa primeira resposta é: significa o que já dissemos anteriormente, que, ao se encontrar com uma nova cultura, os crentes em Jesus Cristo devem tratá-la com respeito, como um lugar sagrado no qual a autoridade de Jesus Cristo já é exercida, ainda que as pessoas que ali estão não o saibam. Em segundo lugar, isso significa que quem leva o evangelho de uma cultura a outra deve estar consciente de que o leva envolto em um contexto cultural; que leva consigo não o evangelho puro, abstrato, mas o evangelho encarnado em sua própria cultura. Aqui também poderíamos tomar o exemplo dos missionários espanhóis e portugueses. Mas não é preciso ir tão longe. Todo missionário ou missionária, não importa sua procedência ou postura teológica, traz consigo sua cultura. Isto é inevitável, e faríamos mal se os culpássemos ou criticássemos por isso. Eu não posso tne despojar de minha cultura e não devo exigir que outra pessoa faça o que eu não consigo. / . .... ’ O que podemos, sim, fazer c estar conscientes do fato inevitável de que nossa cultura impacta o modo como entendemos e vivemos a fé.íPelo próprio fato de ela ser nossa cultura e a considerarmos parte da realidade, não podemos saber exatamente como ou de que formas ela exerce influência sobre nossas vidas em geral e sobre nossa fé em particular. O fato é que, se conheço apenas minha cultura, por mais que me examine, não posso ver como ela mc afeta, tal como, imagino eu, o peixe não pode perceber como a água o afeta. Por outro lado, embora pedir às pessoas que cruzam fronteiras culturais que se despojem de sua cultura seja exigir o impossível, devemos ao menos esperar que tais pessoas estejam conscientes, pelo menos em teoria, de que seu modo de entender e viver o evangelho - por mais ortodoxo que seja — é seu modo dc entender c viver o evangelho dentro de sua cultura c que, ao levar essa mensagem a outra cultura, não deverão se surpreender caso ela se encarne de formas inesperadas. E o que dizemos a respeito dc quem vem de fora dc nossas culturas, isto devemos dizer também acerca de nós mesmos quando nos
encontramos em um contexto cultural diferente do nosso. 1 Voltemos, então, uma vez mais á nossa pergunta inicial: se parte da missão da igreja consiste em encarnar o evangelho cm uma diversidade de culturas, como se consegue isso? O que significa para a obra missionária da igreja? E nossa segunda resposta é: significa que quem cruza fronteiras culturais levando consigo o evangelho deve fazé-lo sabendo que também leva consigo sua cultura e que é inevitável que boa parte do que essa pessoa considera parte essencial do evangelho seja apenas o modo concreto em que o evangelho é vivido dentro de sua cultura. A tudo isso poderíamos acrescentar, em terceiro lugar, que o verdadeiro processo de encarnar o evangelho em uma nova cultura tem de ser levado a cabo não por missionários procedentes de outras culturas, mas principalmente pelas pessoas que, de dentro dessa cultura e como parte dela, aceitam o evangelho. Neste sentido, os missiólogos e outros distinguem entre aculturação e enculturação. Aculturação é o que os bons missionários tentam fazer. Ela consiste errTtcntar adaptar sua apresentação à cultura receptora. E natural que o primeiro passo nesse processo normalmente seja a tradução ou aculturação lingüística. O missionário ou missionária aprende a língua das pessoas a quem quer comunicar sua fé. Isto é acompanhado por outras aprendizagens, c todas elas são meios e graus de aculturação. Assim, o missionário descobre que, em uma cultura, é costume entrar descalço em um lugar, em sinal de respeito, e se adapta a esse princípio celebrando o culto descalço e convidando os participantes a deixarem seus calçados na porta do templo. Foi isso que Ricci fez na China ao estudar a sabedoria de Confúcio e se apresentar como um sábio dentro dessa tradição. Mas torna-se praticamente impossível para o missionário passar da aculturação para a enculturação. A enculturação ocorre quando um número suficiente de pessoas dentro de uma cultura sc apossa do evangelho de tal modo que começa a interpretá-lo e vivê-lo dentro de seus padrões culturais, c não mais dentro dos padrões do missionário. O que ocorre com mais frequência é que alguns dos membros da cultura receptora se apercebem da defasagem existente entre sua cultura c sua fc c começam a procurar modos dc reinterpretar esta última dentro de seus próprios padrões culturais. Era nessa fase que cu me encontrava naqueles momentos que descrevi no primeiro capítulo deste livro. Como disse ali, por um lado eu estava convencido de minha fé evangélica,
mas por outro causava-me dor o modo como essa fé parecia se opor a boa parte de minha herança cultural. No entanto, a verdadeira enculturação c alcançada mais tarde, quando se passa da fase do questionamento, c o evangelho se encarna em uma cultura não porque alguém reflete sobre como cie deve sc encarnar, ou porque alguém prepara um plano para essa encarnação, mas simplesmente porque os crentes vivem sua fé dentro de sua própria cultura e pouco a pouco vão descobrindo formas de expressar e interpretar o evangelho cm termos dessa cultura. Como o normal c que a pessoa que vive dentro de uma cultura não sc dê conta de suas peculiaridades, a enculturação, a encarnação do evangelho dentro de uma cultura, tem muito de inconsciente. Não é uma questão de sentar-se e analisar sua própria cultura, fazer uma lista de características culturais e outra de elementos presentes no evangelho e ver como as duas listas sc juntam. E, antes, uma questão de fazer parte de uma comunidade profundamente inserida em sua cultura, que, ao mesmo tempo, tenta viver o evangelho, adorar o Senhor, entender as Escrituras, etc. Além disso, se levamos a serio o que dissemos antes acerca da autoridade que foi dada a Jesus Cristo sobre toda a criação e que o Verbo que se encarnou em nosso Salvador é a luz que ilumina toda pessoa que vem a este mundo, temos de dizer que até a palavra enculturação ainda é insuficiente em relação ao que é na realidade nossa tarefa no tocante à cultura, porque o que devemos fazer não c adaptar o evangelho para que ele se expresse cm termos de nossa cultura. O que devemos fazer é olhar nossa cultura à luz do evangelho para tentar descobrir nela aqueles elementos nos quais verdadeiramente podemos dizer que o Verbo tem atuado c nos certificar de que eles fazem parte de nossa compreensão não apenas do evangelho, mas da realidade toda. Voltemos, então, pela terceira vez, à nossa pergunta inicial: se parte da missão da igreja consiste em encarnar o evangelho em uma diversidade de culturas, como se consegue isso? O que significa para a obra missionária da igreja? Agora devemos aerescentar à nossa resposta que a enculturação é tarefa dos nacionais, das pessoas que já pertencem a uma cultura, que não é justo nem sensato esperar que pessoas de outras culturas possam realizá-la e que essa enculturação é somente o princípio de um processo mediante o qual vamos descobrindo o que Deus vem fazendo cm nossas culturas há séculos.
Mas um outro problema se coloca. Visto que a cultura c para o ser humano como a água para o peixe, há o sério perigo de que simplesmente tomemos o que nossa cultura nos ensina, a “batizemos”, por assim dizer, c façamos pouco para transformar seus elementos negativos. Esse perigo não c imaginário, mas é tão real que a história nos proporciona exemplos abundantes. À guisa de advertência, vejamos alguns desses exemplos. Já mencionamos o primeiro deles.Trata-se da penetração do evangelho na cultura helenista da bacia do Mediterrâneo nos primeiros séculos de nossa era. Em outro capítulo vimos como, pouco a pouco, a igreja foi modificando suas doutrinas acerca dc Deus, do reino de Deus e da alma, ajustando-as à visão helenista destes temas. Mas isto não é o mais gravef O mais grave é que, também pouco a pouco, à medida que foi sc tornando mais aceitável à cultura greco-romana, a Igreja dos primeiros séculos foi abandonando sua visão inicial de uma sociedade distinta da do Império Romano. E a tal ponto que, quando por fim, no século 4, o Impcrio se tornou cristão, isso acarretou poucas mudanças na ordem da sociedade, no sistema de escravidão e opressão, nas leis referentes à propriedade c na ordem da administração civi] e militar. 1 Outro exemplo: quando, nos séculos 5 e 6, e depois através de uma série de invasões sucessivas, os povos germanos se uniram à igreja e se tornaram o grupo dominante dentro dela, seu modo de entender a sociedade veio a ser o modo como os cristãos pensavam que a sociedade deveria organizar-se. A doutrina da expiação foi reformulada em termos da ordem hierárquica da sociedade germânica e dos sistemas de honra das leis sálicas. A fé se militarizou cada vez mais. Chegou-se a escrever “evangelhos” nos quais Jesus Cristo era o grande guerreiro rodeado por seus 12 capitães. Foram criadas ordens militares monásticas nas quais os monges eram guerreiros. E se prensou que a melhor maneira de reagir à ameaça da hetero-doxia e de outras religiões era arremeter contra elas nas cruzadas. Isto chegou a tal ponto que, visto que os gregos, embora cristãos, não eram como os ocidentais, os cruzados se lançaram sobre Cons-tantinopla, saquearam-na e assim abriram passagem para o avanço final dos turcos. Outro exemplo: quando aqueles primeiros europreus chegaram a estas terras, estavam tão convencidos de que seu modo de ver a realidade era o único modo cristão que não conseguiam enxergar aqui nada além de erro e engano. Até no
caso de batizar nossos antepassados, era preciso lhes dar nomes “cristãos”, como se os nomes espanhóis c portugueses tivessem em si mesmos algo particularmente cristão. Mais um exemplo: quando, no início da era industrial, o capitalismo abriu passagem principalmente entre as nações protestantes, estas começaram a desfrutar dc riquezas nunca antes sonhadas. Nas principais nações que floresceram graças ao capitalismo Holanda, Grã-Bretanha, Alemanha e Estados Unidos — havia uma forte presença cristã, majoritariamente protestante. Mas foram poucos os que viram o lado negativo do que estava ocorrendo; Com uma facilidade incrível, a igreja abandonou o que ensinara durante séculos acerca do abuso dos empréstimos a juros e dos direitos dos pobres. Chegou o dia - c ele ainda persiste - em que a maioria dos cristãos nesses países pensou que o capitalismo fazia parte de uma ordem cssencialmente cristã estabelecida por Deus e que toda alternativa - e às vezes até toda crítica - aos desmandos do capital era necessariamente anticristã. E por meios semelhantes justificou-se o imperialismo, primeiro europeu e depois norte-americano, ao ponto dc muitos pensarem que a expansão do império era um grande serviço prestado a Deus. E, por último, talvez o mais trágico e vergonhoso dos exemplos. Quando, nas primeiras décadas do século 20, a Alemanha começou a perder sua hegemonia européia, c o nacionalismo que surgiu como reação a isso trouxe consigo o nazismo, houve cristãos alemães - milhões deles - que não viram incompatibilidade, alguma entre a ideologia do novo regime e sua fé. Ao contrário, muitos cristãos — pastores e teólogos - simplesmente chegaram à conclusão de que a fé cristã tinha sua máxima expressão na Alemanha e que não havia melhor modo de ser cristão do que scr nacionalista alemão. Graças a Deus, houve outros que entenderam a situação de maneira bem diferente e cujos nomes vieram a scr glória da igreja universal. Parece-me que esses exemplos são suficientes para mostrar o perigo dc toda enculturaçâo. O perigo é real c onipresente. Ninguém escapa dele, simplesmente porque, como eu disse repetidas vezes, nossa cultura é tão parte de nossa realidade quanto a água é para o peixe. Retornemos então à questão que eu me colocava cm minha juventude e da qual
falei no primeiro capítulo: o que devemos fazer para que o evangelho tome forma em nossa cultura, para que deixe de ser uma importação do Atlântico Norte e seja uma realidade verdadeiramente nossa? A resposta é simples: isso já ocorreu de formas que eu não podia prever. Quando, ainda jovem, eu me colocava essa pergunta, os evangélicos em meu país eram pouco mais de 1% da população. Em algumas aulas, eu era o único protestante que meus colegas conheciam. Atualmente, cm todos os países da América Latina há igrejas evangélicas fortíssimas. Em vários deles, os evangélicos somam milhões. Quando eu era jovem, era difícil reunir uma centena de pastores de todas as denominações no país. Agora, em tempos recentes, tive oportunidade de falar a milhares de pastores de uma única denominação em um único país, e esses milhares eram apenas uma fração do corpo ministerial dessa denominação! Portanto, a enculturação do cristianismo evangélico cm nossa América não é mais um projeto. E uma realidade. As perguntas que eu me fazia quando rapaz encontraram resposta, não cm algo que cu tenha feito ou pesquisado, mas nos milhões que atualmente em nossas terras, do Rio Bravo à Terra do Fogo, declaram-se simultaneamente evangélicos e participantes da cultura que os viu nascer. Mas, por isso mesmo, a questão da relação entre a fé e a cultura se coloca de um modo muito mais urgente. Cada vez mais, a questão já não é como fazer para que nossa fé seja compatível com nossa cultura, mas como nos certificar de que essa fé pronuncia os juízos corretos sobre essa cultura. !0s perigos da enculturação dos quais falávamos antes não sâo mais apenas perigos da igreja antiga quando se helenizou, ou da igreja medieval quando se germanizou, ou da igreja moderna quando se anglo-saxonizou. São também perigos de nossa igreja cada vez mais latino-americana., E esses perigos são mais graves na medida em que, como tentei mostrar nos exemplos anteriores, todos temos muita dificuldade de perceber como nossa cultura afeta nosso modo de ser, ou nesse caso, a maneira como cremos e a forma como vivemos a fé. Que faremos então? Não há dúvida de que a eneulturação é boa c necessária. Mas tampouco há dúvida de que é muito perigosa. E aqui que entra cm jogo a diversidade à qual nos referimos antes, e particularmente a catolicidade. A guisa de breve recapitulação, repitamos simplesmente que o verdadeiro e
etimoíogicamente católico é o que é conforme o todo. A catolicidade requer uma diversidade de perspectivas. Por isso, desde o dia em que a igreja nasce, no Pentecostes, ela nasce como um corpo no qual o evangelho c ouvido em uma multiplicidade de línguas. E por isso, também, nosso Novo Testamento inclui dentro de uma única capa e como um único volume quatro evangelhos, todos diferentes, cada qual com seus interesses e seu pano de fundo cultural, mas todos dando testemunho do mesmo evangelho. Se dizíamos, vários capítulos atrás, que a grande variedade de culturas tem uma função libertadora e que essa função consiste em livrar toda cultura particularmentc as culturas hegemônicas - da ilusão de que são absolutas, agora vemos que essa função se estende também à vida da igreja. A multiplicidade dc culturas na igreja, longe de ameaçar sua fidelidade, a possibilita. ■ Quando Roberto de Nobili fundou na índia uma igreja na qual o sistema dc castas era aceito sem crítica alguma, foi o restante da igreja que lembrou àquela igreja nascente que o evangelho não permite tais distinções. Quando o sistema econômico das grandes plantações na América levou as igrejas a aceitar o regime de escravidão como se fosse coisa normal, foram cristãos de outros países onde não existiam tais plantações que primeiro e com muita força condenaram o tráfico de escravos. Hoje, quando a globalização econômica divide o mundo cada vez mais entre ricos c pobres, são os cristãos nos países empobrecidos que chamam a atenção de toda a igreja para o caráter esscncialmcnte anticristão da ordem econômica que vai surgindoA A verdadeira catolicidade não é uniformidade, mas, muito pelo contrário, é uma variedade tal que toda a igreja cm todas as partes do mundo, como um único corpo com vários membros, mantém-se em comunicação para o bem de todo o corpo. Parece-me que não há modo melhor de dizer isto do que como o fez Paulo: [,..J assim como o corpo c um c tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. lCoríntios 12.12-13. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aos que louvam a Deus em castelhano, aos que o louvam em quíchua ou em chinês e aos que o louvam em
línguas desconhecidas. Aos que adoram a Deus com tambores, aos que o adoram com guitarras e pandeiros e aos que o adoram com fugas de Bach. Aos que batizam de uma maneira e aos que batizam dc outra. Aos que manifestam a enculturação do evangelho em uma cultura e aos que a manifestam em outra. E tudo isto foi feito, segundo Paulo, para que cada um de todos esses membros tão díspares complemente, corrija e enriqueça os demais: Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo c que há muitos membros, mas um só corpo. lCoríntios 12.18-20. Se o que Paulo diz está certo - e está —, ou seja, que é a edificação de todo o corpo o que temos de buscar, do mesmo modo como um membro qualquer do corpo só pode ser saudável se todo o restante do corpo c saudável, também ocorre o mesmo no caso das igrejas em diferentes culturas. E por isso, “se um membro sofre, todos sofrem com ele; c, se um deles é honrado, com ele todos se regozifam” (ICo 12.26). Há, contudo, um modo que a igreja, em suas melhores épocas, empregou para sc assegurar de sua própria identidade perante as culturas onde existe, sejam estas favoráveis ou não. Esse meio é o culto, do qual nos ocuparemos no próximo capítulo. í á dissemos c repetimos que as palavras culto e cultura sc relacionam etimologicamente e que essa relação verbal aponta para ■, urna relação real. Não há dúvida de que o culto deve refletir, e normalmcnte reflete, a cultura que o celebra. Foi dito tanto sobre isso que não há por que se demorar nesse tema, embora mais adiante façamos alguns comentários a respeito. Mas pouco se diz sobre o modo como a própria adoração cristã mostra e celebra certa relação entre a fé c a cultura. Desde tempos antiquíssimos, e ao longo de quase toda a sua história e todas as suas diversas encarnações em uma grande variedade de culturas, o culto cristão se centra em dois ritos fundamentais que tradicionalmente se chamam sacramentos, embora alguns prefiram chamá-los de ordenanças. São eles o batismo e a comunhão. Lím é o rito de iniciação, e o outro, o que assinala e fortalece nossa união com Cristo c entre nós. Um é celebrado apenas uma vez na vida, e o outro se celebra - ou pelo menos deveria se celebrar - de maneira
regular e repetida. Contudo, ao examinarmos esses dois ritos do ponto de vista do que temos discutido acerca da relação entre a cultura c o cultivo, percebemos que há diferenças importantes entre eles. Primeiro o batismo. Ele c celebrado com água. A água não é algo que o ser humano produza por si mesmo, mas é um dom dc Deus que encontramos em toda parte. Encontramo-la nos mares, rios, lagos e na chuva. Deus a dá a nós, e no batismo a usamos tal como ele a deu. O que muitas vezes não percebemos é o paralelismo entre a água e a graça dc Deus. A água não é produto do esíorço humano, c a graça tampouco o c. Esta é, antes, como a chuva que cai do céu. Até relativamentc pouco tempo atrás não sabíamos dc onde vinham as nuvens, nem por que razão o vento soprava cm uma direção ou em outra. A chuva nos chegava trazida por nuvens cuja origem desconhecíamos, levadas por ventos que não podíamos -nem podemos governar nem entender. Assim também c a graça. Ela nos chega por meios cuja verdadeira origem c funcionamento desconhecemos, trazida por ventos desse Espírito que “sopra onde quer” Ccrtamente, há entre os cristãos muitas e diversas posições em relação ao modo como o batismo deve ser administrado, quem deve recebê-lo c exatamente o que ocorre nele. Uns dizem que o batismo não é mais do que um testemunho da graça recebida, e outros sustentam que ele c o meio eficaz pelo qual Deus concede tal graça e a faz chegar a nós. Mas nos envolvemos tanto nessas discussões que muitas vezes perdemos de vrsta o aspecto central do batismo, no qual todos nós concordamos; a graça de Deus, como a chuva das nuvens, nos chega livremente; como a água, é produto direto de Deus, sem intervenção humana. Em contraposição a isso, a comunhão emprega pão e vinho. Nem o pão nem o vinho são produtos diretos da natureza. O vinho não flui pelos riachos nem chove do céu. O pão não cresce em árvores, como as maçãs. Tanto o pão quanto o vinho necessitam da atividade humana. Embora certamente tenha havido tempos em que o trigo não passava dc uma erva silvestre, já nos tempos bíblicos o trigo era semeado e cultivado, e meses mais tarde era colhido, corno se faz ainda hoje, embora com máquinas enormes
que fazem o trabalho antes realizado por dezenas de trabalhadores. Mas não basta cultivá-lo; é preciso debulhá-lo, trilhá-lo e moê-lo. Depois de tudo isso, ainda não temos pão, mas somente farinha. Agora é necessário acrescentar água e, na maioria dos casos, fermento. E preciso dar tempo para que a massa levede. Deve-se colocá-la no forno. E só depois desse longo processo temos pão. Algo semelhante ocorre com o vinho. As vides tèm de ser semeadas, cultivadas, enxertadas, podadas e adubadas. Quando finalmente dão fruto, o que produzem não é vinho, mas uvas. As uvas têm de ser pisadas no lagar. E o que se obtém então é mosto. Este precisa fermentar, e se esse processo de fermentação não for controlado, em lugar dc vinho se produzirá vinagre. O vinho, como o pão, é produto do esforço humano. Uma vez mais, há um contraste entre o batismo, o qual é celebrado com o que Deus dá de graça, e a comunhão, que é realizada com o que o ser humano faz com aquilo que Deus lhe deu. Se relacionarmos isso com o que dissemos nos capítulos anteriores acerca de como a cultura é o modo pelo qual um grupo humano responde e se relaciona com seu meio ambiente, vemos que a diferença entre a água do batismo e o pão e o vinho da comunhão é paralela à diferença entre o jardim que Deus dá ao ser humano c o resultado do cultivo desse jardim, ou do restante da criação. E de se supor que no jardim houvesse água, mas não havia pão nem vinho. Estes deveriam ser - e são - o produto do esforço humano a serviço dos propósitos do Deus que nos pôs em sua criação para que a cultivássemos. Portanto, se o batismo aponta para a graça livre e soberana de Deus, a comunhão nos recorda que, justamente por sua graça, ele nos permite colaborar em sua obra criadora e redentora. Esta é uma das razões pelas quais tradicionalmente a igreja tem insistido na necessidade do batismo antes da comunhão. iSe fosse possível participar da comunhão antes do batismo ou à parte dele, isso nos ocultaria a primazia e prioridade da livre graça de Deus, sem colaboração alguma de nossa parte. Para tomar a comunhão é preciso ser batizado, porque a única entrada que temos na colaboração com a obra redentora dc Deus é mediante a graça gratuita para a qual o batismo aponta. Mas sc nos contentamos com o batismo, esquecemos que o Deus da graça nos convida a ser participantes em sua obra criadora ou, como diz Gênesis, a cultivar o jardim. Na comunhão, ao apresentar
diante de Deus o produto do trabalho humano e empregá-lo para o culto, indicamos que o culto a Deus inclui o cultivo, a tarefa de tomar a criação e a ordem em que vivemos e torná-las mais conformes aos propósitos de Deus. i Tanto o batismo quanto a comunhão são sinal e instrumento da unidade entre os crentes, de uma unidade capaz dc cruzar fronteiras culturais. E aqui também há uma diferença, de modo que mais uma vez o batismo e a comunhão se complementam entre si. No batismo se emprega água, elemento comum a todas as culturas e situações. A água bebida por um indonésio é a mesma que o mexicano ou o húngaro bebem. Em compensação, o pão muda dc região para região e de cultura para cultura. Alguns usam fermento, e outros não. Os franceses comem pão em forma de flautas ou baguetes, os mexicanos em forma de tortilhas, e os libaneses em forma achatada, o pão pita. Alguns gostam do pão leve como se fosse espuma, e outros o preferem sólido c pesado. Alguns creern que ele deve ser tostado de tal modo que faça barulho ao ser mastigado, e outros o preferem borrachudo. Alguns o fazem de trigo integral, outros dc farinha refinada, e outros ainda de milho, centeio ou cevada. Todos são pães, mas bem diferentes uns dos outros. E notável que, ao longo da história da igreja, se tenha discutido tanto acerca da forma e do sentido do batismo - sc deve ser por imersão ou não, sc somente os adultos devem ser batizados, etc. - e ao mesmo tempo tenhamos perdido dc vista o fato simples e. claro dc que o batismo, seja como for, é sempre praticado com água, c com a mesma água cm todas as partes. Por outro lado, também sc discutiu muito acerca da comunhão - se sc deve usar pão levedado ou não, como se deve interpretar a presença de Cristo nela, etc. — e ao mesmo tempo perdemos de vista o fato dc que a própria variedade cultural implica variedade no pão, e a variedade no pão indica a aceitação das diversas culturas por parte de Deus. Talvez seja útil explorar o modo pelo qual a combinação dos dois sacramentos nos indica o caminho rumo à unidade cristã/Há uma única água para o batismo, mas o povo batizado com essa única água serve a Deus com uma grande variedade de pães. Tanto o batismo quanto a comunhão são sacramentos de nossa união com Cristo e entre nós. Mas um aponta para a união na graça recebida de Deus gratuitamente, e o outro, para a união na própria diversidade dos modos como cultivamos o jardim. Um nos recorda nossa
fé comum; o outro, ao mesmo tempo em que nos lembra essa fé, recorda-nos também nossa encarnação na cultura em que vivemos. Ambos são necessários para que haja verdadeira unidade cristã, pois esta é unidade na origem e em nossa identidade comum, c é também unidade na missão, no ir, por parte de cada um, a nosso mundo c nossa cultura para ali servir a Deus. O que podemos dizer, então, a respeito do culto e de sua presença em uma cultura concreta, a nossa, por exemplo? Um dos modos em que nos colocávamos a questão de fé e cultura há 50 anos, quando, como expus no primeiro capítulo, essa relação me preocupava muito, era a necessidade de que o culto refletisse nossa cultura. Assim, nós nos queixávamos dos hinos traduzidos, da música estrangeira, dos templos copiados de outros em climas muito diferentes do nosso, etc. Foi em meio a essas preocupações que li um dos livros de um autor que pouco depois foi meu professor, o celcbérrimo intelectual evangélico Alberto Remirão. Era um livro pequeno intitulado Discurso a Ia nación evangélica' '. O que Rembao propunha nele é que se deveria criar, e já se estava criando, uma cultura evangélica latino-americana, diferente do restante da cultura latino-americana. ínicialmcnte, a proposta de Rembao não me agradou. Eu estava procurando o modo de encarnar o evangelho em minha cultura latino-americana, para que ele não fosse um elemento estranho dentro dessa cultura, e Rembao agora propunha a formação de uma cultura evangélica. Aparentemente, o que aquele livrinho sugeria era uma alienação cultural semelhante à que eu experimentava e que tanta 1 dor me causava. Rembao íalava de uma nação evangélica em contraposição ao resto das nações, e dizia que, como toda outra nação, esta era “[...] o conjunto de pessoas que têm a mesma origem, falam a mesma língua e se veem ligadas por uma história comum”15. Além disso, Rembao propunha e defendia a tese de que há contradição, há abismo conceituai entre essa cultura evangélica e qualquer outra cultura das que se oferecem no foro de nossos dias”’6. Tudo isso parecia confirmar c santificar a alienação cultural que tanto me preocupava e, por isso, não me parecia muito convincente. Mas não era tão fácil ignorar Rembao. Não se tratava de um missionário estrangeiro tentando nos dizer que sua cultura era melhor do que a nossa e que para ser verdadeiramente evangélico era preciso aceitar sua cultura. Tratava-se
de um patriota mexicano e latino-americano que perdera uma perna ao militar nas fileiras de Rancho Villa. Tratava-se de um erudito que por anos, em seus escritos na revista J