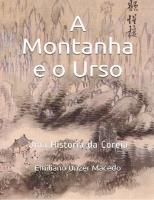A Menina da Montanha 9788581227467
Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula. Nascida nas montanhas de Idaho, Estados
577 86 2MB
Portuguese Pages 455
Polecaj historie
Table of contents :
OdinRights
Folha de rosto
Dedicatória
Epígrafe
Sumário
Nota da autora
Prólogo
Parte 1
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Parte 2
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Parte 3
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Agradecimentos
Nota sobre o texto
Créditos
A Autora
Citation preview
DADOS DE ODINRIGHT Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe eLivros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura. É expressamente proibida e totalmente repudíavel a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo.
Sobre nós: O eLivros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de dominio publico e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site: eLivros.
Como posso contribuir? Você pode ajudar contribuindo de várias maneiras, enviando livros para gente postar Envie um livro ;) Ou ainda podendo ajudar financeiramente a pagar custo de servidores e obras que compramos para postar, faça uma doação aqui :) "Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e
poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível."
eLivros
.love
Converted by ePubtoPDF
Para Tyler
“O passado é belo porque ninguém se dá conta de uma emoção no momento. Ela cresce depois, e assim não sentimos emoções completas a respeito do presente, apenas do passado.” VIRGINIA WOOLF
“Eu acredito, por fim, que a educação deve ser concebida como uma reconstrução contínua, que o processo e o objetivo da educação são iguais.” JOHN DEWEY
Sumário
Para pular o Sumário, clique aqui. NOTA DA AUTORA PRÓLOGO PARTE UM 1. ESCOLHER O BEM 2. A PARTEIRA 3. SAPATOS CREME 4. MULHERES APACHE 5. SUJEIRA HONESTA 6. ESCUDO E BROQUEL 7. O SENHOR PROVERÁ 8. RAMEIRAS MIRINS 9. PERFEITO EM SUAS GERAÇÕES 10. PRECÁRIA PROTEÇÃO 11. INSTINTO 12. OLHOS DE PEIXE 13. SILÊNCIO NAS IGREJAS 14. MEUS PÉS JÁ NÃO TOCAM A TERRA 15. NÃO MAIS UMA CRIANÇA 16. HOMEM DESLEAL, CÉU DESOBEDIENTE PARTE DOIS 17. MANTER O SAGRADO
18. SANGUE E PENAS 19. NO COMEÇO 20. RECITAL DOS PAIS 21. ESCUTELÁRIA 22. OS SUSSURROS E OS GRITOS 23. VIM DE IDAHO 24. UM CAVALEIRO ERRANTE 25. A FUNÇÃO DO ENXOFRE 26. À ESPERA DA CURA 27. SE EU FOSSE MULHER 28. PIGMALIÃO 29. FORMATURA PARTE TRÊS 30. A MÃO DO TODO-PODEROSO 31. TRAGÉDIA E FARSA 32. MULHER IMBATÍVEL NA CASA GRANDE 33. FEITIÇO DA FÍSICA 34. A SUBSTÂNCIA DAS COISAS 35. A OESTE DO SOL 36. QUATRO BRAÇOS LONGOS GIRANDO 37. APOSTANDO NA REDENÇÃO 38. FAMÍLIA 39. OLHA O BÚFALO 40. EDUCAÇÃO AGRADECIMENTOS NOTA SOBRE O TEXTO
Nota da autora
Esta história não fala de mormonismo. Também não trata de qualquer outra convicção religiosa. Aqui há vários tipos de pessoas, algumas religiosas, outras não; algumas boas, outras não. A autora discorda de qualquer correlação, positiva ou negativa, entre elas. Os seguintes nomes, em ordem alfabética, são pseudônimos: Aaron, Audrey, Benjamin, Emily, Erin, Faye, Gene, Judy, Peter, Robert, Robin, Sadie, Shannon, Shawn, Susan, Vanessa.
PRÓLOGO
Estou no vagão vermelho que jaz abandonado ao lado do celeiro. O vento sopra forte, batendo meus cabelos contra o rosto e jogando friagem pela gola aberta da minha camisa. Aqui, tão perto da montanha, a ventania é intensa, como se o próprio pico estivesse soprando. Lá embaixo o vale está calmo, imperturbado. Mas nossa fazenda dança: as pesadas coníferas balançam devagar, as sálvias e os cardos tremem, vergando diante de toda rajada de vento e bolsão de ar. Atrás de mim a encosta se adianta suavemente para o topo e se estica para baixo até o pé da montanha. Olhando para cima, vejo a forma escura da Princesa Índia. A encosta é coberta de trigo-selvagem. Se as coníferas e as sálvias são solistas, o campo de trigo é um corpo de baile, cada haste acompanhando todas as outras em movimentos rítmicos, milhões de bailarinas se curvando, uma após a outra, quando grandes lufadas amassam suas cabeças douradas. A forma das marcas das lufadas dura apenas um momento, e é o único jeito de ver o vento. Voltando-me para olhar nossa casa na encosta, há movimentos diferentes, sombras altas enfrentando rijamente o vendaval. Meus irmãos estão acordados, vendo como está o tempo. Imagino minha mãe junto ao fogão, curvada sobre as panquecas de farelo. Vejo meu pai
agachado na porta dos fundos, amarrando suas botas de ponteira metálica e enfiando as mãos calosas nas luvas de trabalho. Na rodovia lá embaixo o ônibus escolar passa e não para. Tenho apenas 7 anos, mas compreendo que esse fato, mais que qualquer outro, é o que torna minha família diferente: nós não vamos à escola. Papai teme que o governo nos obrigue a ir, mas isso é impossível, porque nem sabe de nós. Quatro dos sete filhos de meus pais não têm certidão de nascimento. Não temos uma ficha médica, porque nascemos em casa e nunca fomos atendidos por médico nem enfermeira.[1] Não temos registro escolar, porque nunca pisamos numa sala de aula. Quando eu tiver 9 anos, terei uma Certidão Tardia de Nascimento, mas por enquanto, para o estado de Idaho e o governo federal, eu não existo. É claro que eu existia. Cresci sendo preparada para os Dias da Abominação, à espera de o sol escurecer e a lua pingar como se fosse de sangue. Passei cada verão guardando pêssegos em conserva e cada inverno fazendo o rodízio de mantimentos. Quando o Mundo dos Homens sucumbisse, minha família continuaria, inabalável. Fui educada nos ritmos da montanha, ritmos em que a mudança não era fundamental, mas cíclica. Todo dia o mesmo sol aparecia de manhã, varria o vale e descia atrás do pico. A neve que caía no inverno sempre derretia na primavera. Nossa vida era um ciclo – o ciclo do dia, o ciclo das estações –, círculos de mudança perpétua que, uma vez completos, significavam que nada tinha mudado. Eu acreditava que minha família fazia parte desse padrão, que éramos, em certo sentido, imutáveis. Mas a eternidade pertencia somente à montanha.
Meu pai contava uma história sobre o pico. Era uma coisa antiga e grandiosa, uma montanha-catedral. A cordilheira tinha outras montanhas, mais altas, mais imponentes, mas o Buck’s Peak era o mais finamente elaborado. Sua base se estendia por mais de um quilômetro, sua forma escura vinha inchando da terra e se elevava num perfeito pináculo. A distância, tinha-se a impressão de um corpo de mulher na face da montanha, com as pernas formadas por imensas ravinas, os cabelos um spray de pinheiros se espalhando sobre a crista norte. Sua postura era resoluta, uma perna avançando num movimento poderoso, mais uma passada larga que um simples passo. Meu pai a chamava de Princesa Índia. Todo ano, quando a neve começava a derreter, ela aparecia de frente para o sul, olhando os búfalos retornando ao vale. Papai dizia que os índios nômades aguardavam o ressurgimento dela como um sinal da primavera, do degelo da montanha, do fim do inverno e da hora de voltar para casa. Todas as histórias de meu pai eram sobre nossa montanha, nosso vale, nosso pedacinho recortado em Idaho. Ele nunca me disse o que fazer se eu fosse embora da montanha, se atravessasse mares e continentes e me encontrasse em terras estranhas, onde eu não conseguiria mais ver a Princesa no horizonte. Nunca me disse como saber que era hora de ir para casa. 1 A não ser minha irmã Audrey. Ela quebrou um braço e uma perna quando era mais nova e teve que colocar gesso.
PARTE UM
Capítulo 1
Escolher o bem
Minha recordação mais forte não é uma lembrança. É algo que imaginei e depois vim a recordar como se tivesse acontecido. Essa lembrança se formou quando eu tinha 5 anos, pouco antes de fazer seis, e vinha de uma história que meu pai contou com tantos detalhes que eu, meus irmãos e minha irmã, cada um de nós criou sua própria versão cinematográfica, com gritaria e tiroteio. Minha versão tinha grilos. É o som que escuto enquanto minha família toda está reunida na cozinha, luzes apagadas, escondida da polícia federal, os Feds, que cercavam a casa. Uma mulher tenta pegar um copo d’água, e sua silhueta se destaca sob a luz da lua. Um tiro ecoa com um barulho de açoite e ela cai. Em minha lembrança, é sempre minha mãe que cai, e ela está com um bebê nos braços. A presença do bebê não faz sentido – eu sou a mais nova dos sete filhos de mamãe –, mas, como falei, nada disso aconteceu.
Uma noite, um ano depois que meu pai nos contou essa história, estávamos reunidos para ouvi-lo ler, em Isaías,
uma profecia sobre Emanuel. Sentado no sofá cor de mostarda, ele tinha uma grande Bíblia no colo. Minha mãe se encontrava ao lado dele. Nós estávamos espalhados pelo velho tapete marrom surrado. – Manteiga e mel ele comerá – papai entoou em voz baixa e monótona, cansado de um longo dia recolhendo sucata. – Que ele saiba recusar o mal e escolher o bem. Houve uma pausa pesada. Ficamos em silêncio. Meu pai não era um homem alto, mas era muito capaz de se impor. Tinha uma presença forte e a solenidade de um oráculo. Suas mãos eram grossas e rijas, as mãos de quem trabalhara duro a vida inteira, e seguravam com firmeza a Bíblia. Leu a passagem pela segunda vez, depois uma terceira e uma quarta. A cada repetição, seu tom de voz ficava mais alto. Seus olhos, momentos antes inchados de fadiga, agora estavam bem abertos, alertas. Havia uma doutrina divina ali, ele disse, e ia perguntar ao Senhor. Na manhã seguinte, papai tirou da geladeira todo o leite, o iogurte e o queijo, e à tarde chegou em casa com o caminhão carregado de cinquenta galões de mel. – Isaías não diz o que é do mal, se a manteiga ou o mel – papai disse, rindo, enquanto meus irmãos carregavam os galões para o porão. – Mas, se perguntarem, o Senhor vai lhes dizer! Quando papai leu o versículo para sua mãe, ela riu na cara dele. – Tem uns trocados na minha bolsa – ela disse. – Melhor pegar. É só o que vale o seu juízo. Vovó tinha um rosto magro, anguloso, e um enorme acervo de bijuterias índias, de prata e turquesa, que pendiam em borbotões de seu pescoço espigado e de seus dedos magros. Como ela morava no pé da montanha, perto
da rodovia, a gente a chamava de vovó-lá-de-baixo. Isso a diferenciava da mãe de mamãe, chamada de vovó-dacidade, que morava 25 quilômetros ao sul, na única cidade do condado, onde havia um único sinal de trânsito e um armazém. Papai e a mãe dele se relacionavam como dois gatos de rabo amarrado um no outro. Podiam passar uma semana conversando sem concordar em coisa nenhuma, mas estavam presos por sua devoção à montanha. A família de meu pai vivia havia um século na base do Buck’s Peak. As filhas de vovó tinham se casado e mudado, e meu pai permaneceu. Construiu uma casinha amarela que nunca ficou pronta, pouco acima da casa de vovó, localizada no pé da montanha, e instalou ali um ferro-velho – um dos muitos –, justo ao lado do bem-cuidado gramado da mãe. Discutiam diariamente sobre a bagunça do ferro-velho, mas principalmente sobre as crianças. Vovó achava que devíamos ir à escola, e não, como ela dizia, “ficar correndo pela montanha como selvagens”. Papai falava que a escola pública era uma tática do governo para afastar as pessoas de Deus. – Prefiro entregar meus filhos ao Demônio a mandá-los para essa escola – ele dizia. Deus disse ao meu pai que divulgasse a revelação entre as pessoas que moravam por ali e tinham fazendas à sombra do Buck’s Peak. Aos domingos, todos iam à igreja, uma capela cor de noz ao lado da rodovia, com um pequeno campanário acanhado, comum às igrejas mórmons. Na saída, papai cercava os pais de família. Começou com seu primo Jim, que escutou bem-humorado enquanto papai brandia a Bíblia anunciando os pecados do leite. Jim riu e deu um tapinha nas costas de papai, dizendo que nenhum Deus do bem iria privar alguém, em uma tarde de verão, de
um sorvete de morango feito em casa. A esposa de Jim o puxou pelo braço. Quando ele passou por nós, senti um leve cheiro de esterco. E então me lembrei de que a grande fazenda de gado leiteiro, logo ao norte do Buck’s Peak, era de Jim.
Depois
que papai começou a pregar contra o leite, vovó encheu a geladeira dela. Ela e vovô só bebiam desnatado, mas logo havia todo tipo de leite, semidesnatado, integral e até com chocolate. Ela parecia acreditar que era uma linha de ação importante. O café da manhã passou a ser um teste de lealdade. Minha família se sentava ao redor de uma grande mesa reformada, de carvalho vermelho, e comia cereais matinais de sete grãos com mel e melado ou panquecas de sete grãos também acompanhadas de mel e melado. Como éramos nove, as panquecas nunca ficavam totalmente no ponto. Eu não me importava de comer o cereal se pudesse ser com leite, deixando a nata grudar nos grãos e amolecer os flocos, mas desde a revelação ele era servido com água. Parecia que eu estava comendo uma tigela de lama. Não demorei a pensar naquele leite todo se estragando na geladeira da vovó. Então passei a pular o café da manhã e ir direto para o celeiro. Dava a lavagem aos porcos, enchia os cochos das vacas e dos cavalos, depois pulava a cerca do curral, rodeava o celeiro e descia até a porta lateral da casa da vovó. Numa dessas manhãs, quando eu estava sentada no banco alto do balcão vendo vovó encher uma tigela de flocos de milho, ela perguntou: – O que você acha de ir à escola? – Eu não iria gostar – respondi.
– Como você sabe? Nunca experimentou – ela falou, ríspida. Ela pôs o leite, me deu a tigela, se debruçou no balcão bem na minha frente e ficou observando enquanto eu enfiava colheradas cheias na boca. – Amanhã nós vamos para o Arizona – ela disse, mas eu já sabia. Ela e vovô sempre iam para o Arizona quando o tempo começava a virar. Vovô dizia que estava muito velho para os invernos de Idaho, tinha dor nos ossos. – Acorde bem cedo amanhã – disse vovó –, lá pelas cinco horas, e levamos você conosco. Vai entrar para a escola. Estremeci no banco alto. Tentei imaginar uma escola, mas não consegui. O que vi foi a escola dominical que eu frequentava toda semana e odiava. Um menino chamado Aaron contou a todas as meninas que eu não sabia ler porque não ia à escola, e agora nenhuma delas falava comigo. – O papai deixou? – perguntei. – Não. Mas já estaremos longe quando ele sentir a sua falta. Ela pôs a minha tigela na pia e ficou olhando pela janela. Vovó era uma força da natureza, impaciente, agressiva, segura de si. Ao olhar para ela, as pessoas recuavam. Tingia os cabelos de preto, o que intensificava suas feições severas, especialmente as sobrancelhas, pintadas todas as manhãs em grossos arcos negros. Ela as pintava tão grandes que seu rosto parecia ter sido esticado. E altas demais, de modo que davam aos traços do rosto uma expressão de tédio, quase de sarcasmo. – Você deveria estar na escola – ela disse. – O papai não vai obrigar você a me trazer de volta? – O seu pai não pode me obrigar a coisa nenhuma.
Vovó ficou de pé, se endireitando, e continuou: – Se quiser, ele que vá lá buscar você. Ela hesitou e, por um instante, pareceu envergonhada. – Eu conversei com ele ontem. Ele não vai poder buscar você tão cedo porque ainda está construindo aquele galpão na cidade. Não vai poder arrumar tudo e dirigir até o Arizona, pelo menos enquanto o tempo estiver firme e ele e os garotos puderem trabalhar o dia inteiro. O golpe da vovó era bem planejado. Papai sempre trabalhava do nascer ao pôr do sol nas semanas que antecediam as primeiras neves, recolhendo sucata e construindo celeiros a fim de arrumar dinheiro para atravessar o inverno, quando havia escassez de trabalho. Mesmo se a mãe dele fugisse com sua filha caçula, ele só poderia parar de trabalhar quando a empilhadeira estivesse incrustada no gelo. – Eu preciso alimentar os animais antes de ir – disse. – Ele com certeza vai notar que eu fui embora se as vacas arrebentarem a cerca procurando água.
Não
dormi naquela noite. Fiquei sentada no chão da cozinha, vendo as horas passar. Uma da madrugada. Duas. Três. Às quatro me levantei e deixei as botas na porta dos fundos. Estavam cheias de esterco, e vovó não iria me deixar entrar no carro assim. Imaginei as botas abandonadas na varanda da casa dela enquanto eu fugia descalça para o Arizona. Imaginei o que aconteceria quando dessem pela minha falta. Meu irmão Richard e eu costumávamos passar o dia todo na montanha, portanto era provável que ninguém notasse até o pôr do sol, quando Richard chegasse em casa
para jantar e eu não. Imaginei meus irmãos abrindo a porta e saindo para me procurar. Primeiro, iriam ao pátio do ferrovelho, levantando placas de ferro caso alguma folha de metal tivesse escorregado e me machucado. Depois percorreriam a fazenda, subindo em árvores e no sótão do celeiro. Por fim, procurariam na montanha. Então já teria passado o lusco-fusco, aquele momento logo antes da caída da noite, quando a paisagem é visível apenas como escuridão e menos escuridão, e a gente mais sente do que vê o mundo em volta. Imaginei meus irmãos se espalhando pela montanha, procurando nas matas escuras. Nenhum deles falava, todos tinham o mesmo pensamento. Coisas horríveis podiam acontecer na montanha. Penhascos surgiam de repente. Cavalos soltos, que pertenciam ao meu avô, corriam selvagens em bancos espessos de cicuta-aquática, e havia muitas cascavéis. Nós tínhamos feito essa busca antes, quando demos falta de um bezerro no estábulo. No vale, o animal estaria ferido; na montanha, morto. Imaginei mamãe na porta dos fundos, com o olhar percorrendo a crista da montanha quando meu pai chegasse dizendo que não tinham me achado. Minha irmã, Audrey, diria para alguém perguntar à vovó, e mamãe falaria que vovó havia ido para o Arizona. Essas palavras ficariam pairando no ar por um momento, e então todos saberiam para onde eu tinha ido. Imaginei a cara de meu pai, apertando os olhos escuros, a boca se franzindo e perguntando a minha mãe: – Você acha que ela quis ir? Sua voz ecoou baixa e pesarosa. Então foi afogada pelos sons de outra lembrança conjurada: grilos, depois tiroteio e silêncio.
O evento era conhecido, segundo eu soube depois – como o massacre de Wounded Knee ou o cerco de Waco –, mas, quando meu pai nos contou a história, era como se ninguém no mundo soubesse, além de nós. Começou perto do fim da estação de fazer compotas, que outras crianças provavelmente chamavam de “verão”. Minha família sempre passava os meses quentes estocando frutas em potes, porque papai dizia que iríamos precisar nos Dias da Abominação. Naquela noite, papai chegou irrequieto do ferro-velho. Ficou andando pela cozinha e mal comeu. Tínhamos que deixar tudo em ordem, ele falou. O tempo era curto. Passamos o dia seguinte descascando e fervendo pêssegos. No fim do dia, enchemos dezenas de potes Mason, que foram arrumados em fileiras perfeitas, ainda quentes da panela de pressão. Papai supervisionou os trabalhos, contando os potes, murmurando para si mesmo, e falou com mamãe: – Não é suficiente. Naquela noite, papai convocou uma reunião de família. Nos sentamos em volta da mesa da cozinha, que era comprida e larga, com espaço para todos nós. Ele falou que tínhamos o direito de saber o que estávamos enfrentando. Ficou de pé à cabeceira da mesa, e nós encarapitados nos bancos, de olhos fixos nas tábuas de carvalho vermelho. – Não longe daqui há uma família – papai disse – que luta pela liberdade. Eles não deixam o governo fazer lavagem cerebral nos filhos em escolas públicas, e os Feds foram atrás deles. Papai respirou longa e lentamente. – Os policiais cercaram o chalé, mantiveram a família trancada lá durante semanas, e quando uma criança com
fome, um menino pequeno, saiu escondida para ir caçar, eles a mataram a tiros. Olhei para meus irmãos. Nunca antes eu tinha visto medo em Luke. – Eles ainda estão no chalé – disse papai. – Ficam com as luzes apagadas e se arrastam pelo chão, longe de portas e janelas. Não sei quanta comida eles ainda têm. Talvez morram de fome antes que os policiais desistam. Ninguém falou nada. Então Luke, que tinha 12 anos, perguntou se podíamos ajudar. – Não – disse papai. – Ninguém pode. Eles estão presos na própria casa. Mas eles têm armas, e pode apostar que é por isso que os policiais não a invadiram. Papai fez uma pausa para se sentar, curvando-se até o banco baixo em movimentos lentos, rígidos. A meus olhos, ele pareceu velho, gasto. – Não podemos ajudá-los, mas podemos nos ajudar. Quando os policiais vierem ao Buck’s Peak, estaremos prontos. Naquela noite, papai veio arrastando do porão uma pilha de velhos sacos do exército. Disse que eram nossos sacos “para as montanhas”. Passamos a noite ensacando suprimentos, ervas medicinais, purificadores de água, pederneira e aço. Papai havia comprado um carregamento de RPCs – Refeições-Prontas-para-Comer –, e pusemos tudo o que cabia em cada saco, imaginando o momento em que, fugidos de casa e escondidos nas ameixeiras silvestres perto do riacho, iríamos comê-las. Alguns dos meus irmãos guardaram revólveres, mas eu só tinha um canivete, e mesmo assim meu saco já estava da minha altura quando terminamos. Pedi a Luke para guardá-lo numa prateleira do meu armário, mas papai me disse para deixar num lugar
mais baixo, onde eu pudesse pegar depressa, e então passei a dormir com o saco na cama. Comecei a treinar sair correndo com o saco nas costas. Eu não queria ser deixada para trás. Imaginei nossa fuga, uma corrida à meia-noite para ficar a salvo na Princesa. Entendi que a montanha era nossa aliada. Era gentil com aqueles que a conheciam, mas era pura traição para com intrusos, o que nos dava vantagem. Mas, se iríamos nos abrigar na montanha quando os policiais chegassem, eu não entendia por que tínhamos feito tantas conservas de pêssegos. Não poderíamos carregar mil potes pesados até o pico. Ou precisávamos dos pêssegos para ficarmos entrincheirados em casa, como os Weaver, e lutar? Uma luta parecia provável, especialmente alguns dias depois, quando papai chegou em casa com mais de uma dúzia de rifles excedentes do exército, a maioria SKS, cada um com a fina baioneta prateada dobrada cuidadosamente sob o cano da arma. Vieram em longos estojos de metal, besuntados de Cosmoline, uma substância marrom com consistência de banha, que precisava ser retirada. Depois de limpas as armas, meu irmão Tyler escolheu uma, colocou sobre um plástico preto, enrolou e selou com metros e metros de fita adesiva prateada. Apoiando o embrulho no ombro, ele desceu a encosta e o largou junto ao vagão vermelho. Em seguida, começou a cavar. Quando o buraco estava bem largo e fundo, colocou lá o rifle e cobriu de terra, seus maxilares apertados e os músculos saltando com o esforço. Pouco depois papai comprou uma máquina de fazer balas usando cartuchos vazios. Disse que agora poderíamos ficar mais tempo resistindo. Pensei no saco “para as montanhas”, à espera em minha cama, no rifle escondido perto do vagão, e fiquei preocupada com a máquina de fazer balas.
Ela era volumosa e ficou assentada sobre uma base de ferro no porão. Se fôssemos apanhados de surpresa, não teríamos tempo de pegá-la. Imaginei se não seria melhor enterrar a máquina também, junto com o rifle. Continuamos estocando pêssegos. Não me lembro de quantos dias se passaram nem de quantos potes guardamos até papai nos contar mais daquela história. – Randy Weaver foi baleado – ele falou, com a voz baixa e errática. – Saiu do chalé para pegar o corpo do filho, e os policiais atiraram nele. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, mas agora as lágrimas caíam num fluxo contínuo pelo nariz. Ele não as enxugava, só as deixava pingar na camisa. – A esposa dele ouviu o tiro e correu para a janela, com o bebê no colo. Então veio o segundo tiro. Mamãe estava sentada com os braços cruzados, uma das mãos no peito e a outra cobrindo a boca. Fixei os olhos no linóleo salpicado enquanto papai contava que o bebê foi tirado dos braços da mãe com o rosto coberto pelo sangue dela. Até aquele momento, uma parte de mim queria que os policiais viessem, ansiava pela aventura. Agora eu sentia medo de verdade. Imaginei meus irmãos agachados no escuro, o suor fazendo as mãos escorregarem no rifle. Imaginei mamãe, cansada e com sede, se afastando da janela. E também a mim deitada no chão, imóvel e muda, ouvindo o cricrilar agudo dos grilos lá fora. Então vi mamãe se levantar e ir para a torneira da cozinha. Um flash branco, um barulhão de tiro, e ela caiu. Levantei-me de um salto para pegar o bebê. Papai nunca nos contou o fim da história. Não tínhamos TV nem rádio, e por isso talvez ele também nunca tenha
sabido o final. A última coisa que o ouvi dizer a respeito foi: “Da próxima vez, podemos ser nós.” Aquelas palavras me acompanharam. Eu escutava seu eco no cricrilar dos grilos, no esguicho dos pêssegos caindo no pote, no ruído metálico do SKS sendo polido. Ouvia toda manhã quando passava pelo vagão de trem e parava sobre as ervas e cardos crescendo onde Tyler tinha enterrado o rifle. Muito tempo depois de papai ter esquecido a revelação em Isaías, e de mamãe ter voltado a encher a geladeira de garrafões de leite integral, eu ainda me lembrava dos Weaver.
Era quase cinco da manhã. Voltei ao meu quarto, a cabeça cheia de grilos e tiros. No beliche de baixo, Audrey ressonava, um zumbido baixo e satisfeito que me convidava a fazer o mesmo. Em vez disso, subi para minha cama, cruzei as pernas e fiquei olhando pela janela. Cinco horas. Depois seis. Às sete vovó apareceu, ficou andando pra lá e pra cá no pátio, voltando o olhar a todo instante na direção de nossa casa. Em seguida, ela e vovô entraram no carro e pegaram a rodovia. Quando o carro sumiu de vista, desci da cama e comi uma tigela de farelo com água. Lá fora fui recebida por Kamikaze, o bode de Luke, mordiscando minha camisa enquanto eu ia para o celeiro. Passei pelo kart que Richard estava construindo a partir de um cortador de grama velho. Dei a lavagem aos porcos, enchi o cocho e levei os cavalos de vovô para outro pasto. Quando terminei, subi no vagão e olhei para o vale. Era fácil fingir que ele estava em movimento, indo embora, e a qualquer momento o vale iria desaparecer atrás de mim. Eu ficava horas repassando essa fantasia na cabeça, mas hoje
o filme não rodava. Virei na direção oeste, para longe dos campos, de frente para o pico. A Princesa era sempre mais brilhante na primavera, logo que as coníferas emergiam da neve, com suas agulhas verdes parecendo quase negras contra os marrons amarelados da terra e dos troncos rugosos. Agora era outono. Eu ainda podia vê-la, mas estava esmaecida, os vermelhos e amarelos do verão que morria camuflavam sua forma escura. Em breve iria nevar. No vale, a primeira neve derretia, mas na montanha ainda permanecia, enterrando a Princesa até a primavera, quando ela reaparecia, vigilante.
Capítulo 2
A parteira
-V ocê tem calêndula? – a parteira perguntou. – Eu vou precisar também de lobélia e avelã. Ela estava no balcão da cozinha, vendo mamãe dar uma busca nos armários de compensado. No balcão entre as duas havia uma balança elétrica que mamãe usava às vezes para pesar folhas secas. Era primavera. Apesar do sol, fazia um friozinho de manhã. – Fiz um maço de calêndulas na semana passada – disse mamãe. – Tara, corre lá e traz aqui. Peguei a tintura, mamãe colocou na sacola plástica do armazém, junto com as ervas secas. – Alguma coisa mais? – Mamãe riu, num tom alto, nervoso. A parteira a intimidava, e quando isso acontecia mamãe ficava meio frágil, apressada a cada vez que a parteira fazia um de seus movimentos lentos, sólidos. A parteira inspecionou a lista. – Isso basta. Era uma mulher baixinha, gordinha, de quarenta e poucos anos, com onze filhos e uma verruga amarronzada no queixo. Tinha os cabelos mais compridos que já vi, uma cascata cor de rato do campo que descia até os joelhos
quando ela soltava o coque. Suas feições eram pesadas, e a voz era grossa de autoridade. Não tinha diploma, nenhum certificado. Era uma parteira inteiramente por obra de afirmar que era, o que era mais que suficiente. Mamãe viria a ser assistente dela. Lembro que naquele primeiro dia olhei para as duas, comparando-as. Mamãe, com aquela pele de pétalas de rosa e os cabelos caindo pelos ombros em ondas suaves. Suas pálpebras brilhavam. Ela se maquiava todas as manhãs, e quando não tinha tempo passava o dia inteiro se desculpando, como se aquilo fosse um inconveniente para todos nós. A parteira parecia ter passado uma década sem dar a menor atenção à sua aparência, e o modo como se portava fazia a gente se sentir tola por ter notado. A parteira se despediu com um aceno, levando uma braçada de ervas de mamãe. Na vez seguinte apareceu trazendo sua filha Maria, que ficou junto à mãe, imitando seus movimentos, com um bebê encaixado em seu corpo magrela de menina de 9 anos. Contemplei-a esperançosa. Além de Audrey, era a primeira menina parecida comigo que eu via e que também não ia à escola. Fui chegando mais perto, tentando chamar a sua atenção, mas ela estava totalmente absorvida em escutar a mãe explicando como ministrar rosa-de-gueldres e agripalma no tratamento de contrações pós-parto. Maria concordava com acenos de cabeça. Seus olhos não desgrudavam do rosto da mãe. Atravessei vagarosamente o hall até o meu quarto, sozinha, mas quando me virei para fechar a porta ela estava ali, ainda com o bebê encaixado no quadril. Ele era uma bolota de carne, e o torso dela adernava fortemente na cintura a fim de contrabalançar o peso. – Você vai? – ela disse.
Não entendi a pergunta. – Eu sempre vou – ela disse. – Já viu um bebê nascendo? – Não. – Eu já, muitas vezes. Sabe o que significa quando um bebê vem sentado? – Não – eu disse, um pouco me desculpando.
Na
primeira vez que minha mãe foi assistente em um parto, passou dois dias fora. Depois entrou pela porta dos fundos, meio trôpega e tão pálida que estava quase translúcida, desabou no sofá e lá ficou tremendo. – Foi horrível – ela sussurrou –, até a Judy disse que teve medo. – Mamãe fechou os olhos. – Ela não parecia estar com medo. Mamãe ficou descansando um bom tempo até recuperar a cor e, então, contou a história. O trabalho de parto fora longo, extenuante, e quando finalmente o bebê nasceu a mãe tinha se rasgado, e muito. Havia sangue por todo lado. A hemorragia não parava. Foi quando mamãe percebeu que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê. Ele se encontrava roxo e tão imóvel que mamãe pensou que estivesse morto. À medida que contava esses detalhes, o sangue fugia de seu rosto, até que ela se sentou, branca como um ovo cozido, com os braços em torno do corpo. Audrey fez chá de camomila e levamos mamãe para a cama. Quando papai chegou, ela contou a mesma história. – Não consigo fazer isso – ela disse. – Judy consegue, mas eu não. Papai passou o braço sobre os ombros dela. – É um chamado do Senhor – ele disse. – Às vezes o Senhor pede coisas difíceis.
Mamãe não queria ser parteira. Tinha sido ideia de papai, mais uma jogada para ter autossuficiência. Não havia nada que ele odiasse mais do que depender do governo. Uma vez papai falou que ficaríamos totalmente livres do sistema. Tão logo ele conseguisse juntar dinheiro, iria construir uma adutora para trazer água da montanha e depois instalar painéis de energia solar na fazenda inteira. Assim teríamos água e eletricidade nos Últimos Dias, quando todo mundo estivesse bebendo água de poças e vivendo na escuridão. Mamãe era entendida em ervas e podia cuidar de nossa saúde. Se aprendesse a ser parteira, seria capaz de trazer ao mundo os netos, quando fosse a hora. A parteira veio visitar mamãe dias depois daquele primeiro parto. Trouxe Maria, que voltou a me procurar em meu quarto. – Pena que sua mãe pegou um complicado na primeira vez – ela disse, sorrindo. – Na próxima vai ser mais fácil. Poucas semanas depois, sua previsão foi testada. Era meia-noite. Como não tínhamos telefone, a parteira ligou para a vovó-lá-de-baixo, que subiu a encosta e chegou cansada e irritada, berrando que estava na hora de mamãe ir “bancar o médico”. Ficou só uns minutos, mas acordou a casa inteira. – Não entendo por que vocês aí não vão para o hospital como todo mundo faz! – ela gritou, batendo a porta ao sair. Mamãe pegou a sacola de pernoite e a frasqueira cheia de vidros escuros de tinturas e caminhou vagarosamente para a porta. Eu estava ansiosa, dormi mal, mas quando mamãe chegou no dia seguinte, cabelos desarrumados e manchas negras sob os olhos, seus lábios se abriram num sorriso largo. “Era uma menina”, ela disse. Depois se deitou na cama e dormiu o dia inteiro.
Assim os meses se passaram, com mamãe saindo de casa a qualquer hora e voltando, tremendo, aliviada até a alma porque tinha acabado. Quando as folhas de outono começaram a cair, ela havia ajudado em uma dúzia de partos. No fim do inverno, muitas dúzias. Na primavera, ela disse ao meu pai que bastava. Que já era capaz de ajudar um bebê a chegar ao mundo, se precisasse, se houvesse o Fim do Mundo. Agora podia parar. Ao ouvir isso, papai fechou a cara. Ele lembrou a ela que era a vontade de Deus, que era uma bênção para a família. – Você tem que ser parteira. Tem que fazer um parto sozinha – ele falou. Mamãe meneou a cabeça. – Eu não consigo. Além disso, quem vai me chamar se podem chamar a Judy? Assim ela amaldiçoou a si própria, desafiou a Deus. Pouco tempo depois, Maria me contou que o pai dela tinha arrumado um emprego no Wyoming. – Mamãe falou que sua mãe deve assumir – disse Maria. Uma imagem eletrizante se formou em minha imaginação: eu no lugar de Maria, a filha da parteira, confiante, instruída. Mas quando vi minha mãe ao meu lado a imagem se evaporou. As parteiras de Idaho trabalhavam à margem da lei, sem qualquer formação ou sanção oficial. Isso significava que, se um parto corresse mal, a parteira poderia ser acusada de praticar medicina sem licença. Se corresse muito mal, ela poderia ser acusada de homicídio e cumprir pena na prisão. Poucas mulheres estavam dispostas a correr esse risco; portanto, havia escassez de parteiras. No dia em que Judy se mudou para o Wyoming, mamãe se tornou a única parteira num raio de mais de 150 quilômetros.
Mulheres barrigudas começaram a vir à nossa casa, implorando para que mamãe fizesse seus partos. Mamãe se encolhia só de pensar. Uma mulher se sentou na beira do nosso velho sofá amarelo-mostarda e, de olhos postos no chão, contou que seu marido estava longe, a trabalho, e não tinham dinheiro para pagar um hospital. Mamãe ouviu em silêncio, olhar fixo, lábios apertados, toda a sua expressão momentaneamente rígida. Então o semblante se desfez e ela disse em voz baixa: – Não sou parteira, só assistente. A mulher retornou várias vezes, ficava sentadinha no sofá, contando como os partos de seus filhos tinham sido fáceis. Cada vez que papai via o carro da mulher, ele vinha do pátio do ferro-velho e entrava em casa discretamente pela porta dos fundos, com o pretexto de beber água. Ficava na cozinha dando golinhos em silêncio, com os ouvidos espichados para a sala. Cada vez que a mulher ia embora, papai mal continha o entusiasmo, até que, sucumbindo ao desespero da mulher, ou à animação de papai, ou a ambos, mamãe cedeu. O parto correu bem. Mas a mulher tinha uma amiga que estava grávida, e mamãe fez o parto da amiga também. E essa mulher tinha uma amiga. Mamãe arrumou uma assistente. Em breve estava fazendo tantos partos que Audrey e eu passávamos os dias correndo o vale com mamãe, observando enquanto ela fazia exames pré-natais e receitava ervas. Ela se tornou mais do que nunca nossa professora, já que raramente tínhamos ensinamentos em casa. Explicava cada remédio e cada paliativo. Se fulana estava com pressão alta, tinha que tomar espinheiro para estabilizar o colágeno e dilatar os vasos coronários. Se beltrana estava tendo contrações prematuras, precisava de
um banho de gengibre para aumentar a chegada de oxigênio ao útero. A prática de parteira mudou minha mãe. Ela era uma mulher adulta com sete filhos, mas pela primeira vez na vida estava, sem dúvida alguma, à frente da situação. Às vezes, nos dias seguintes a um parto, eu via nela algo da presença pesada de Judy, num gesto vigoroso da cabeça, num imperioso levantar de sobrancelha. Ela parou de usar maquiagem e, depois, de se desculpar por não estar usando. Mamãe cobrava uns quinhentos dólares por parto, e isso foi outra mudança que o trabalho causou em sua vida: de repente, ela estava ganhando dinheiro. Papai achava que mulheres não deviam trabalhar, mas acredito que ele pensava ser correto mamãe receber pelos partos porque era um jeito de ficar contra o governo. Além disso, precisávamos do dinheiro. Papai trabalhava mais que qualquer homem que conheci, mas recolher sucata, construir celeiros e galpões não rendia tanto, e ajudava muito o fato de mamãe poder comprar comida com os envelopes de notas pequenas que ela guardava na bolsa. Às vezes, quando passávamos o dia inteiro no vale, entregando ervas e fazendo exames pré-natais, mamãe usava o dinheiro para levar a mim e Audrey para comer. A vovó-dacidade me deu um diário, de capa cor-de-rosa com um urso cor de caramelo, onde anotei a primeira vez que mamãe nos levou a um restaurante, que descrevi como “muito luxuoso, com cardápios e tudo”. Segundo a anotação, minha refeição custou 3,30 dólares. Mamãe usava o dinheiro também para se aperfeiçoar como parteira. Comprou um balão de oxigênio, caso o bebê nascesse sem conseguir respirar, e teve aulas de sutura para poder costurar mulheres que ficassem rasgadas. Judy
sempre mandava mulheres para levar pontos no hospital, mas mamãe estava determinada a aprender. Autoconfiança, eu a imaginava pensando. Com o resto do dinheiro, mamãe instalou uma linha telefônica. Um dia apareceu uma van branca e um punhado de homens de macacão preto foi subindo nos postes da rodovia. Papai irrompeu na porta dos fundos exigindo saber o que diabos estava acontecendo. – Pensei que você quisesse um telefone – disse mamãe, os olhos tão cheios de surpresa que eram irrepreensíveis. E continuou, falando rápido: – Você disse que poderia haver problema se alguém entrasse em trabalho de parto e vovó não estivesse em casa para atender o telefone. Pensei: ele tem razão, precisamos de um telefone! Que boba! Entendi mal? Papai ficou ali parado, de boca aberta. Claro que uma parteira precisa de telefone, ele disse. Depois voltou para o ferro-velho, e não se falou mais a respeito. Desde que me lembrava, nunca tivéramos um telefone, mas no dia seguinte lá estava ele, pousado numa base verde-limão, com o verniz brilhante destoando dos frascos opacos de acteia e escutelária.
Luke tinha 15 anos quando pediu à mamãe para ter uma certidão de nascimento. Queria se inscrever no Driver’s Ed porque Tony, nosso irmão mais velho, estava ganhando um bom dinheiro transportando cascalho, e só podia com carteira de habilitação. Shawn e Tyler, os irmãos logo abaixo de Tony, tinham certidão de nascimento. Só os quatro mais novos, Luke, Audrey, Richard e eu, que não. Mamãe preencheu os formulários. Não sei se ela falou antes com papai. Se falou, não sei explicar o que o fez
mudar de ideia – por que de repente uma política de dez anos de não registrar os filhos acabou sem briga? –, mas acho que talvez tenha sido o telefone. Parecia que meu pai havia aceitado que, se iria mesmo enfrentar o governo, teria que correr certos riscos. O fato de mamãe ser parteira era um ato de subversão à ordem médica estabelecida, mas para ser parteira ela necessitava de telefone. Talvez a mesma lógica se estendesse a Luke, que precisava ganhar dinheiro para sustentar uma família, comprar suprimentos e se preparar para os Últimos Dias, portanto precisava de uma certidão de nascimento. A outra possibilidade era mamãe não ter falado com papai. Talvez ela tenha decidido por conta própria, e ele tenha aceitado a decisão dela. Talvez até mesmo ele – aquele vendaval carismático em forma de homem – estivesse temporariamente sendo deixado de lado pela força dela. Uma vez preenchidos os formulários para Luke, mamãe resolveu que podia tirar certidões também para todos nós. Foi mais difícil do que ela esperava. Quase pôs a casa abaixo à procura de documentos que provassem que éramos filhos dela. Não encontrou nada. No meu caso, ninguém sabia ao certo quando eu tinha nascido. Mamãe se lembrava de uma data, papai de outra e vovó-lá-de-baixo, que foi à cidade declarar sob juramento que eu era neta dela, deu uma terceira data. Mamãe telefonou para a sede da igreja em Salt Lake City. Um funcionário achou uma certidão da bênção do meu nome, quando eu era bebê, e outra do meu batismo, que, como todas as crianças mórmons, ocorrera quando eu tinha 8 anos. Mamãe pediu cópias. Chegaram pelo correio, alguns dias depois. – Ai, misericórdia! – exclamou mamãe ao abrir o envelope. Cada documento tinha uma data de nascimento
diferente, e nenhuma era igual à que vovó pusera na declaração. Naquela semana, mamãe passou horas ao telefone todos os dias. Com o fone apoiado no ombro e o fio atravessando a cozinha, ela cozinhava, limpava, depurava tinturas de raiz-amarela e cnicus, enquanto repetia a mesma conversa: – É óbvio que eu devia tê-la registrado quando nasceu, mas não registrei. Então é isso. Vozes murmuravam do outro lado da linha. – Eu já disse a você, e ao seu subordinado, e ao subordinado do seu subordinado, e a cinquenta outras pessoas nesta semana, que ela não tem registro médico nem registro escolar. Ela não tem! Não, não perdi. Não posso pedir cópias. Eles não existem! – Dia do aniversário? Digamos que seja 27. – Não, não tenho certeza. – Não, não tenho nenhum documento. – Sim, eu aguardo. As vozes sempre deixavam mamãe à espera quando ela admitia não saber o dia do meu aniversário e passavam a chamada para um superior, como se não saber o dia em que nasci deslegitimasse toda a questão de eu ter uma identidade. Pelo que diziam, não pode haver uma pessoa sem um aniversário. Eu não entendia por que não. Até mamãe resolver tirar minha certidão de nascimento, não saber o dia do meu aniversário nunca me parecera estranho. Eu sabia que tinha nascido no fim de setembro, e a cada ano eu escolhia um dia, que não caísse no domingo, porque não tem graça passar o aniversário na igreja. Às vezes desejava que mamãe me desse o telefone para eu poder explicar, dizendo às vozes: “Eu faço aniversário igual a você, só que muda. Você não gostaria de poder mudar o dia do seu aniversário?”
A certa altura, mamãe convenceu vovó-lá-de-baixo a fazer outra declaração sob juramento, afirmando que eu tinha nascido no dia 27, embora vovó ainda acreditasse que havia sido no dia 29, e o estado de Idaho acabou emitindo minha certidão de nascimento. Lembro-me do dia em que chegou pelo correio. Eu me senti estranhamente espoliada ao receber a primeira prova legal da minha existência como pessoa: até então, nunca me ocorrera que aquilo fosse necessário. Afinal, recebi minha certidão de nascimento muito antes de Luke ter a dele. Quando mamãe disse às vozes ao telefone que ela achava que eu tinha nascido na última semana de setembro, elas ficaram em silêncio. Mas quando disse que não sabia exatamente se Luke havia nascido em maio ou junho, as vozes ficaram realmente exaltadas.
Naquele outono, quando eu tinha 9 anos, fui com mamãe a um parto. Eu vinha pedindo havia meses, lembrando a ela que Maria acompanhara vários partos quando tinha a minha idade. – Não estou te dando de mamar – ela disse. – Não há motivo para levar você. Além disso, você não iria gostar. Mas certa vez mamãe foi contratada por uma mulher que tinha muitos filhos pequenos, e foi combinado que eu ficaria tomando conta deles na hora do parto. O telefonema veio no meio da noite. O som mecânico da campainha abriu caminho pelo hall e segurei o fôlego, torcendo para que não fosse engano. Um minuto depois, mamãe estava ao lado da minha cama. – Está na hora – ela disse, e corremos juntas para o carro. Mamãe passou 15 quilômetros ensaiando comigo o que dizer se o pior acontecesse e os policiais aparecessem. Em
nenhuma circunstância eu poderia dizer que ela era parteira. Se perguntassem o que eu estava fazendo ali, eu não diria nada. Mamãe chamava a isso “a arte de calar a boca”. – É só ficar dizendo que estava dormindo, que não viu nada, não sabe de nada e não se lembra por que estamos aqui – ela disse. – Não dê a eles mais corda do que já têm para me enforcar. Mamãe ficou em silêncio. Fiquei observando enquanto ela dirigia. Seu rosto, iluminado pelas luzes do painel, era de uma brancura fantasmagórica contra a total escuridão das estradas. O medo se estampava em suas feições, no franzido da testa, no aperto dos lábios. Sozinha ali comigo, ela deixava de lado a persona apresentada aos outros. Era de novo ela mesma, frágil, ofegante. Ouvi sussurros e entendi que vinham dela. Estava murmurando vários “e se” para si mesma. E se alguma coisa desse errado? E se houvesse algum caso de doença que não tinham contado a ela, alguma complicação? E se fosse alguma coisa comum, uma crise corriqueira, e ela entrasse em pânico, travasse, e não pudesse conter a hemorragia a tempo? Dali a pouco, ela chegaria lá e teria duas vidas em suas mãos trêmulas e pequenas. Até aquele momento, eu não havia entendido o risco que ela corria. – As pessoas morrem no hospital – ela murmurou, com os dedos crispados no volante, como uma assombração. – Às vezes, Deus os chama para casa, e ninguém pode fazer nada. Mas se acontece com uma parteira... – Ela se virou, falando diretamente comigo: – Basta um erro e você vai me visitar na prisão. Ao chegarmos, mamãe estava transformada. Dava instruções a todo mundo, ao pai, à mãe e a mim. Eu quase esquecia de fazer o que ela mandava porque não conseguia
tirar os olhos dela. Hoje sei que, naquela noite, eu estava vendo pela primeira vez a força secreta de minha mãe. Ela gritava ordens e nós as seguíamos sem dizer uma palavra. O bebê nasceu sem complicações. Era mítico e romântico ser uma testemunha íntima daquele momento de virada no ciclo da vida, mas mamãe tinha razão, eu não gostei. Era longo, fatigante e tinha cheiro de suor genital. Não pedi para ir ao parto seguinte. Mamãe chegou em casa pálida e trêmula. Sua voz falhava enquanto ela contava a mim e a minha irmã o que tinha acontecido. Os batimentos do coração do bebê ainda não nascido diminuíram perigosamente, chegando a ser apenas um leve tremor. Ela chamou uma ambulância, mas achou melhor não esperar, e levou a mãe no carro dela. Dirigiu com tanta velocidade que, quando chegou ao hospital, já tinha escolta policial. No atendimento de emergência, ela tentou dar as informações necessárias ao médico, mas sem parecer muito conhecedora, para que não suspeitassem de que ela era parteira não licenciada. Fizeram uma cesariana de emergência. A mãe e o bebê ficaram muitos dias no hospital, e só quando tiveram alta é que mamãe parou de tremer. Na verdade, ela parecia ter se alegrado, e começou a contar uma história diferente, mudando a parte em que foi detida pelo policial, que ficou surpreso ao ver uma mulher gemendo no banco de trás, obviamente em trabalho de parto. – Apelei para a crença de que toda mulher é idiota – ela contou a Audrey e a mim, com a voz mais alta, mais forte. – Os homens gostam de achar que estão salvando uma mulher boboca de uma situação difícil. Fiquei de lado e deixei o policial bancar o herói. O momento mais perigoso foi pouco depois, no hospital, quando levaram a mulher na maca. Um médico interpelou
mamãe, querendo saber por que ela estava lá na hora do parto. Mamãe sorriu ao se lembrar dessa cena. – Fiz a ele as perguntas mais bobas que me ocorreram. – Ela relatou numa voz coquete, muito diferente da dela: – Ah! Era a cabeça do bebê? Os bebês não nascem com os pés primeiro? O médico se convenceu de que ela não poderia de forma alguma ser parteira.
No
Wyoming não havia quem se igualasse a mamãe no conhecimento de ervas, e por isso, poucos meses depois do incidente no hospital, Judy veio a Buck’s Peak para reabastecer seu estoque. As duas ficaram conversando na cozinha, Judy empoleirada num banco alto e mamãe debruçada no balcão com a cabeça preguiçosamente apoiada na mão. Fui à despensa buscar as ervas da lista. Maria, carregando outro bebê, foi comigo. Peguei nas prateleiras as folhas secas e os líquidos túrbidos, falando sem parar sobre as façanhas de mamãe, até o confronto no hospital. Maria também relatou histórias de truques para escapar da polícia, mas, quando ela começou a contar mais uma, a interrompi. – Judy é ótima parteira – eu disse, estufando o peito. – Mas, quando se trata de médicos e policiais, ninguém finge ser idiota melhor do que mamãe.
Capítulo 3
Sapatos creme
Minha
mãe, Faye, era filha de um carteiro. Cresceu na cidade, em uma casa amarela com cerquinha branca enfileirada de íris roxas. A mãe dela era costureira, a melhor do vale segundo alguns. Portanto, quando jovem, Faye tinha roupas lindas, de corte perfeito, de casacos de veludo e calças de poliéster a terninhos de lã e vestidos de gabardine. Frequentava a igreja e participava de atividades da escola e da comunidade. Sua vida tinha um ar de intensa ordem, normalidade e inquestionável respeitabilidade. Esse ar de respeitabilidade era cuidadosamente arranjado por sua mãe. Minha avó, LaRue, chegara à maioridade nos anos 1950, na década da febre idealista que ardia depois da Segunda Guerra Mundial. O pai de LaRue era alcoólatra numa época anterior à invenção dos termos adicção e empatia, quando alcoólatras não eram chamados de alcoólatras, eram chamados de beberrões. Ela era de uma família “malfalada” e integrada a uma piedosa comunidade mórmon, que, como muitas outras, transmitia aos filhos a má fama dos pais. Era considerada inelegível para casamento com os homens respeitáveis da cidade. Quando conheceu e se casou com meu avô, um jovem
simpático recém-saído da marinha, ela se dedicou a construir a família perfeita ou, pelo menos, com tal aparência. Achava que isso iria proteger suas filhas do desprezo social que tanto a fizera sofrer. Um resultado disso foi a cerquinha branca e as boas roupas feitas em casa. O outro foi que a filha mais velha se casou com um rapaz severo, de cabelos preto-azeviche e uma predileção pelo anticonvencional. Ou seja, minha mãe reagiu intencionalmente à respeitabilidade imposta sobre ela. Vovó queria dar à filha o bem que ela não tivera, a sorte de vir de uma família boa. Mas Faye não queria isso. Minha mãe não era uma revolucionária social. Mesmo no auge da rebeldia, ela preservou a fé mórmon, com sua dedicação ao casamento e à maternidade. As mudanças sociais dos anos 1970, porém, devem ter exercido pelo menos um efeito sobre ela, que não queria uma cerquinha branca nem vestidos de gabardine. Minha mãe me contou muitas histórias sobre sua infância, as aflições de vovó sobre o posicionamento social da filha mais velha, se o vestido de piquê tinha o corte apropriado ou se o tom de azul das calças de veludo estava correto. Essas histórias quase sempre terminavam com a chegada intempestiva de meu pai, trocando o veludo por calças jeans. Uma cena significativa permaneceu comigo. Tenho 7 ou 8 anos e estou no meu quarto me vestindo para ir à igreja. Havia passado um pano úmido no rosto, nas mãos e nos pés, esfregando só as partes visíveis da pele. Mamãe me vê enfiando pela cabeça um vestido de algodão, escolhido por causa das mangas compridas, de modo que eu não precisava limpar os braços, e uma certa inveja brilha em seus olhos.
– Se você fosse filha de sua avó – ela diz –, estaríamos desde o raiar do sol arrumando seus cabelos. E a manhã inteira na agonia de resolver quais sapatos, brancos ou de cor creme, passariam a impressão correta. O rosto de mamãe se contorce num sorriso feio. Ela tenta fazer graça, mas é traída pela lembrança. – Mesmo depois de escolher o de cor creme, estamos atrasadas, porque na última hora sua avó entra em pânico e vamos à casa da prima Donna pedir emprestados os sapatos creme dela, que têm salto mais baixo. Mamãe olha pela janela. Tinha se recolhido em si mesma. – Branco ou creme? – pergunto. – Não é a mesma cor? Eu tinha só um par de sapatos para ir à igreja. Eram pretos ou, pelo menos, haviam sido quando foram da minha irmã. Já vestida, me vejo no espelho e limpo a crosta de sujeira do pescoço, pensando em como mamãe teve sorte de escapar de um mundo em que havia uma diferença importante entre branco e creme, e onde essas questões duravam toda uma bela manhã que poderia muito bem ser passada saqueando o ferro-velho de papai com o bode de Luke.
Meu pai, Gene, foi um desses jovens que conseguiam ser ao mesmo tempo solenes e astutos. Sua aparência física era impressionante: cabelos de ébano, rosto angular rigoroso, nariz como uma flecha apontando para ferozes olhos fundos. Seus lábios estavam sempre pressionados num risinho jocoso, como se o mundo inteiro estivesse ali para ele zombar. Embora eu tenha passado a infância na mesma montanha que meu pai, dando lavagem aos porcos na
mesma calha de ferro, sei muito pouco de sua vida de menino. Ele nunca falava nisso, portanto só o que sei foi através de comentários de mamãe, que me contou que o vovô-lá-de-baixo tinha sido de temperamento violento, de pavio curto. Sempre achei engraçado mamãe usar as palavras “tinha sido”. Todos nós bem sabíamos que não se podia irritar o vovô. Que ele era um fio desencapado era um fato, e todo mundo no vale diria a mesma coisa. Era destemperado por fora e por dentro, rijo e desenfreado como os cavalos que ele largava correndo pela montanha. A mãe de papai trabalhava na cidade, como corretora de seguros. Quando adulto, papai desenvolveu opiniões graves sobre mulheres que trabalhavam, radicais até mesmo para nossa comunidade rural mórmon. “Lugar de mulher é em casa”, ele dizia cada vez que via uma mulher casada trabalhando na cidade. Hoje, mais velha, às vezes imagino se o ardor de papai tinha mais a ver com a mãe dele do que com a doutrina. Imagino se ele queria apenas que ela tivesse ficado em casa, não o deixasse por tanto tempo, passando aquelas longas horas sozinho com o temperamento do vovô. O trabalho na fazenda consumiu a infância de papai. Duvido que ele pensasse em universidade. Nem sei se concluiu o ensino médio. Mas mamãe dizia que mesmo assim papai esbanjava energia, gargalhadas e petulância. Tinha um Fusca azul-bebê, usava ternos chamativos, de cores fortes, e ostentava um vasto bigode, muito em moda então. Conheceram-se na cidade. Faye era garçonete num boliche, e em uma sexta-feira Gene chegou lá com um monte de primos. Como nunca o tinha visto, ela soube imediatamente que ele não era dali e devia ter vindo das montanhas que cercavam o vale. A vida na fazenda tornara
Gene diferente dos outros jovens. Ele era sério para sua idade, mais independente e de aspecto físico impressionante. Há uma certa soberania dada pela vida nas montanhas, uma percepção de privacidade e isolamento, até mesmo de domínio. Naquela vastidão, a gente pode passar horas navegando desacompanhada, flutuar em pinheiros, relvas e pedras. É uma tranquilidade nascida da pura imensidão, que acalma por sua magnitude, que traz uma desimportância do humano. Gene foi constituído por essa hipnose alpina, esse silenciar do drama humano. No vale, Faye tentava tapar os ouvidos para escapar às fofocas intermináveis de cidade pequena, opiniões que entravam pelas janelas e rastejavam por baixo das portas. Mamãe costumava dizer que se sentia obrigada a agradar, que não conseguia deixar de corresponder ao que as pessoas pareciam querer dela, vivia se virando compulsivamente, relutantemente, para estar à altura do que quer que fosse. Morando no centro da cidade, naquela casa respeitável cercada por outras quatro, tão juntas que qualquer pessoa podia espiar pela janela e cochichar uma crítica, Faye se sentia encurralada. Muitas vezes imaginei o momento em que Gene levou Faye ao topo do Buck’s Peak, e ela, pela primeira vez, não podia ver as caras nem ouvir as vozes das pessoas na cidade lá embaixo. Elas estavam muito longe. Minimizadas pela montanha, silenciadas pelo vento. Pouco depois, ficaram noivos.
Mamãe
contava uma história dos tempos antes de se casar. Ela era muito ligada a seu irmão Lynn, e o levou para conhecer o homem que ela esperava que se tornasse seu
marido. Era verão, entardecia, e os primos de papai estavam na balbúrdia que sempre faziam quando acabava a colheita. Quando Lynn chegou, ao ver um lugar cheio de rufiões de pernas arqueadas gritando uns com os outros, de punhos cerrados, dando socos no ar, achou que era uma briga saída de um filme de John Wayne e quis chamar a polícia. – Eu disse a ele para escutar – mamãe contava, com lágrimas nos olhos de tanto rir. Ela sempre narrava essa história do mesmo jeito, e era tão recontada que, se saía do roteiro, a gente mesmo continuava. – Eu disse a ele que prestasse atenção nas palavras que estavam gritando. Todos pareciam enfurecidos como vespas, mas, na verdade, era uma conversa muito amigável. Era preciso ouvir o que falavam, e não como estavam falando. Eu disse a ele: “É assim que os Westover conversam!” Quando ela acabava de contar, a gente estava rolando de rir no chão. Ríamos até as costelas doerem, imaginando nosso tio empertigado, com aquele ar de professor, encontrando a turma de desordeiros do papai. Lynn achou a cena tão desagradável que nunca mais voltou, e em toda a minha vida nunca o vi na montanha. Bem feito para ele, pensávamos, por se intrometer, por tentar arrastar mamãe de volta àquele mundo de vestidos de gabardine e sapatos creme. Entendíamos que a dissolução da família de mamãe era a inauguração da nossa. As duas não podiam existir juntas. Mamãe só podia ser parte de uma. Mamãe nunca nos disse que a família dela se opusera ao casamento, mas nós sabíamos. Havia traços que as décadas não tinham apagado. Papai raramente punha os pés na casa da vovó-da-cidade, e quando ia lá ficava emburrado, olhando para a porta. Quando menina, eu mal conhecia minhas tias, tios e primos do lado de mamãe. Raramente os
visitávamos, eu nem sabia onde morava a maioria deles, e era mais raro ainda eles virem à montanha. A exceção era minha tia Angie, a irmã mais nova, que morava na cidade e insistia em visitar mamãe. O que sei do noivado chegou a mim aos poucos, a maior parte pelas histórias que mamãe contava. Sei que ela ganhou o anel de noivado antes de papai sair em missão – o que se esperava de todo mórmon devoto – e passar dois anos fazendo doutrinação na Flórida. Lynn aproveitou essa ausência para apresentar mamãe a todos os bons partidos que pôde encontrar deste lado das Rochosas, mas nenhum a fez esquecer o severo moço de fazenda que governava a própria montanha. Gene voltou da Flórida e se casaram. LaRue fez o vestido de noiva.
Só vi uma única fotografia do casamento. É de meus pais posando em frente a uma cortina translúcida em tom de marfim. Mamãe está com um tradicional vestido de casamento de seda bordada com miçangas e renda veneziana, e gola alta. Sua cabeça está coberta por um véu bordado. Meu pai veste um terno creme com grande lapela preta. Ambos estão transbordando de felicidade, mamãe com um sorriso calmo, papai com um riso tão largo que extrapola as pontas do bigode. É difícil acreditar que aquele jovem tranquilo na foto é meu pai. Ele só entra em foco para mim como um homem de meia-idade fatigado, cheio de medo e ansiedade, estocando comida e munição. Não sei quando aquele homem na foto se tornou o homem que conheço como meu pai. Talvez não tenha havido um momento exato. Papai se casou aos 21 anos,
teve o primeiro filho, Tony, aos 22. Aos 24, papai perguntou a mamãe se podiam contratar uma parteira herborista para o nascimento de meu irmão Shawn. Ela concordou. Teria sido o primeiro sinal ou apenas Gene sendo ele mesmo, excêntrico e anticonvencional, querendo afrontar os pais da mulher? Afinal, quando Tyler nasceu, vinte meses depois, o parto foi no hospital. Quando papai tinha 27 anos, Luke nasceu em casa, pelas mãos de uma parteira. Ele decidiu não registrá-lo, uma decisão repetida comigo, com Audrey e com Richard. Poucos anos depois, por volta de seus 30 anos, papai tirou meus irmãos da escola. Não me lembro disso porque foi antes de eu nascer, mas me pergunto se não foi um ponto de virada. Nos quatro anos que se seguiram, papai tirou o telefone de casa e não renovou mais sua carteira de motorista. Parou de registrar e fazer seguro do carro da família. E começou a estocar comida. Essa última parte é bem o meu pai, mas não o pai de que meus irmãos mais velhos se lembram. Papai tinha acabado de fazer 40 anos quando os policiais cercaram os Weaver, e esse evento confirmou seus piores temores. A partir daí, ele entrou em guerra, embora ela estivesse apenas dentro de sua cabeça. Talvez por isso Tony veja papai nessa foto, e eu só observo um estranho. Catorze anos depois do incidente com os Weaver, eu estava numa aula da universidade ouvindo o professor de psicologia explicar algo chamado transtorno bipolar. Até aquele momento eu nunca ouvira falar de doença mental. Eu sabia que as pessoas podiam ficar loucas, usar um gato morto como chapéu ou se apaixonar por um nabo, mas a ideia de que alguma coisa assim pudesse ocorrer com uma pessoa lúcida, funcional, persuasiva nunca tinha me passado pela cabeça.
O professor recitava fatos numa voz enfadonha, objetiva: a idade mais comum para o início é 25 anos; pode não haver sintomas antes disso. A ironia é que, se papai era bipolar, ou se tivesse algum dos vários transtornos que poderiam explicar seu comportamento, a mesma paranoia que era um sintoma da doença seria um empecilho para o diagnóstico e o tratamento. Ninguém jamais saberia.
Vovó-da-cidade morreu há três anos, aos 86. Não a conheci bem. Em todos aqueles anos em que passei pela cozinha dela, vovó nunca me falou como era para ela ver a filha se fechar, encarcerada por fantasmas e paranoias. Quando a imagino agora, uma única imagem me aparece, como se minha memória fosse um projetor de slides travado. Ela está sentada num banco estofado. Seus cabelos se projetam da cabeça em cachos apertados e seus lábios estão esticados num sorriso cordial, forçado a permanecer no lugar. Seus olhos são gentis, mas desocupados, como se ela assistisse a uma peça de teatro. Aquele sorriso me assombra. Era constante, a única coisa eterna, inescrutável, distanciada, desapaixonada. Agora que sou mais velha e me dei ao trabalho de conhecê-la, principalmente por meio de meus tios e tias, sei que ela não era nada disso. Eu fui ao velório. No caixão aberto, fiquei sondando o rosto dela. Os embalsamadores não acertaram a posição de seus lábios; o sorriso gracioso que ela usava como uma máscara de ferro fora tirado. Pela primeira vez, eu a via sem o sorriso, e só então me ocorreu que talvez vovó tenha sido a única pessoa que entendeu o que estava acontecendo comigo. Como a paranoia e o fundamentalismo vinham
esculpindo minha vida, me afastando das pessoas de quem eu gostava e deixando apenas notas e diplomas – um ar de respeitabilidade – em seu lugar. O que acontecia agora havia ocorrido antes. Era o segundo corte entre mãe e filha. O filme estava passando outra vez.
Capítulo 4
Mulheres apache
Ninguém viu o carro saindo da estrada. Meu irmão Tyler, com 17 anos, dormiu na direção. Eram seis horas da manhã e ele tinha dirigido o station wagon a maior parte da noite, atravessando o Arizona, Nevada e Utah. Estávamos em Cornish, uma cidade de fazendeiros trinta quilômetros ao sul do Buck’s Peak, quando o veículo cruzou a faixa para a contramão e depois saiu da estrada. O carro atravessou uma vala, bateu em dois grossos postes de luz feitos de troncos de cedro e, finalmente, parou ao colidir com um trator de colheita.
A viagem tinha sido ideia de mamãe. Meses antes, quando as folhas secas começaram a deslizar anunciando o fim do verão, papai estava muito animado. Marcava ritmos musicais com os pés durante o café da manhã, e no jantar apontava para a montanha, com os olhos brilhando, mostrando onde iria colocar as tubulações para trazer água até a casa. Prometeu que, quando começasse a nevar, faria a maior bola de neve do estado de Idaho. Iria subir na base da montanha, fazer uma
bola de neve pequena, insignificante, e rolá-la pela encosta vendo-a triplicar de tamanho cada vez que ultrapassasse um outeiro ou descesse numa ravina. Quando atingisse a casa, que ficava no último morro antes do vale, estaria do tamanho do celeiro do vovô, e as pessoas na rodovia ficariam olhando, abismadas. Só precisava da neve certa. Flocos grossos, que grudassem bem. Depois de cada nevasca, trazíamos punhados de neve, que ele esfregava entre os dedos. Essa neve era fina demais. Aquela, muito molhada. Depois do Natal, ele disse: “Aí vocês vão pegar neve de verdade.” Mas depois do Natal papai pareceu se esvaziar, desmoronar para dentro de si mesmo. Parou de falar na bola de neve, então parou de falar totalmente. Uma escuridão foi tomando seus olhos até enchê-los por completo. Andava com os braços moles, os ombros caídos, como se alguma coisa tivesse se apossado dele, arrastando-o para o chão. Em janeiro, papai não conseguia sair da cama. Ficava deitado, olhando sem ver o intricado desenho de nervuras e veios no teto de estuque. Nem piscava quando eu lhe trazia o jantar toda noite. Não sei se ele sabia que eu estava ali. Foi então que mamãe avisou que íamos para o Arizona. Ela disse que papai era como um girassol, que morria na neve e, em fevereiro, precisava ser arrancado e plantado ao sol. Apertados no carro, viajamos durante 12 horas, contornando cânions em zigue-zague e acelerando em autoestradas escuras, até chegarmos à casa-trailer no ressecado deserto do Arizona, onde meus avós esperavam o inverno passar. Chegamos bem depois do nascer do sol. Papai conseguiu andar até a varanda, onde passou o resto do dia, com uma almofada de tricô sob a cabeça e a mão calosa sobre o estômago. Ficou dois dias nessa posição, os olhos abertos,
sem dizer uma palavra, parado como um arbusto naquele calor seco e sem vento. No terceiro dia, pareceu voltar a si, a tomar conhecimento do que se passava em volta, ouvir nossas conversas nas refeições, em vez de ficar olhando fixo, indiferente, para o carpete. Naquela noite, depois do jantar, vovó ouviu as mensagens de telefone gravadas, que eram principalmente de vizinhos e amigos para dizer olá. Então veio uma voz de mulher lembrando que vovó tinha uma consulta médica no dia seguinte. Essa mensagem teve um efeito dramático sobre papai. Primeiro, ele fez perguntas a vovó: que consulta era aquela, com quem, por que ela iria a um médico se podia se tratar com as tinturas de mamãe? Papai sempre acreditara piamente nas ervas de mamãe, mas naquela noite estava diferente, como se algo dentro dele estivesse se deslocando para um novo credo. O herbalismo, ele disse, era uma doutrina espiritual que separava o joio do trigo, os infiéis dos fiéis. E usou uma palavra que eu nunca ouvira antes: Illuminati. Palavra exótica, poderosa, fosse lá o que fosse. E falou que vovó era uma agente inadvertida dos Illuminati. E Deus não suportava deslealdade, ele disse. Por isso os mais odiosos pecadores eram aqueles que não se decidiam, que usavam tanto ervas como medicamentos, que recorriam à mamãe na quarta-feira e na sexta-feira ao médico – ou, nas palavras de papai: “Que um dia adoram a Deus no altar e no dia seguinte oferecem um sacrifício a Satanás!” Essa gente era igual aos antigos israelitas, que receberam a verdadeira religião, mas ficavam seguindo falsos ídolos. – Médicos e pílulas – papai falou, quase gritando. – Esse é o deus deles, e eles se prostituem depois disso.
Mamãe estava de olhos baixos, olhando para o prato de comida. Ao ouvir a palavra “prostituem” ela se levantou, lançou um olhar de raiva para papai, foi para o quarto e bateu a porta. Nem sempre mamãe concordava com papai. Quando ele não estava por perto, eu a ouvia dizer coisas que ele, ou pelo menos essa nova encarnação dele, chamaria de sacrilégio, coisas do tipo: “Ervas são suplementos. Em casos graves, é preciso ir ao médico.” Papai nem reparou que a cadeira de mamãe estava vazia. – Esses médicos não querem te salvar – ele disse à vovó. – Eles querem matar você! Quando penso nesse jantar, as cenas me retornam com clareza. Estou sentada à mesa. Papai está falando, com urgência na voz. Vovó está sentada na minha frente, mastigando aspargos sem parar com seu maxilar torto, como um bode mastiga, tomando golinhos de água gelada, sem dar a menor indicação de estar ouvindo o que papai diz, exceto por um ocasional olhar irritado para o relógio, que lhe diz que ainda é muito cedo para ir dormir. – Você é uma participante voluntária dos planos de Satanás – papai fala. Essa cena se repetiu todos os dias, senão muitas vezes em um dia, durante toda a nossa estada. Era sempre o mesmo roteiro. Papai, no auge do fervor, falava sem parar durante uma hora ou mais, repetindo as mesmas frases, alimentado pelo fogo de uma paixão interna que continuava queimando até muito tempo depois que todos nós, exaustos do sermão, caíamos em estupor. Vovó tinha um jeito memorável de rir ao fim desses sermões. Era uma espécie de suspiro, um longo exalar até o esvaziamento da respiração, que terminava com ela rolando os olhos para cima numa imitação de exasperação, como se quisesse jogar as mãos para o alto, mas estava cansada
demais para completar o gesto. Depois ela sorria, não um sorriso para acalmar os outros, mas para si mesma, de divertida perplexidade, um sorriso que sempre me pareceu dizer Não existe nada mais engraçado que a vida real, pode crer.
Era
uma tarde escaldante, tão quente que a gente não podia andar descalça no chão cimentado, quando vovó me pegou e a Richard para um passeio de carro no deserto, atarraxados em cintos de segurança, que nunca tínhamos usado. Fomos até onde a estrada começa a subir e seguimos até que o asfalto virou terra, mas continuamos em frente, com vovó subindo cada vez mais pela estrada tortuosa até as montanhas brancas e parando somente quando a estrada de terra acabou numa trilha. Fomos caminhando. Vovó ficou com falta de ar pouco depois, sentou-se numa pedra vermelha achatada e apontou para uma formação de arenito lá longe, com pináculos despencando em ruínas, e nos mandou subir até lá. Uma vez lá, tínhamos que procurar pepitas de uma rocha preta. – Chamam de lágrimas de apache – ela disse. Tirou do bolso uma pedrinha preta, suja e irregular, coberta de veios cinzentos e brancos como vidro rachado. – É assim que elas ficam depois de um pouco polidas – disse, tirando do outro bolso outra pedra, preta como carvão e tão lisa que parecia até macia. Richard identificou as duas como obsidianas. – São rochas vulcânicas – ele disse em sua melhor voz enciclopédica. – Mas essa não é – ele acrescentou, chutando uma pedra descorada e acenando para a formação. – Essa é sedimentar.
Richard tinha uma vocação para minúcias científicas. Em geral, eu ignorava as preleções dele, mas ali fui arrebatada por elas e pelo terreno estranho, ressequido. Ficamos uma hora andando em volta da formação e voltamos com a barra da camiseta dobrada cheia de pedras para vovó. Ela ficou satisfeita, poderia vendê-las. Guardou as pedras no portamalas e, na volta para o trailer, nos contou a lenda das lágrimas dos apaches. Segundo vovó, cem anos atrás uma tribo de apaches tinha enfrentado a cavalaria dos Estados Unidos naquelas rochas descoradas. Estavam em menor número, perderam a batalha e a guerra acabou. Só lhes restava esperar a morte. Pouco depois do começo da batalha, os guerreiros tinham ficado encurralados numa saliência do penhasco. Para não sofrer a humilhação da derrota e serem abatidos um a um tentando romper as fileiras da cavalaria, eles montaram nos cavalos e avançaram para o precipício. Quando as mulheres encontraram seus corpos destroçados nas rochas lá embaixo, choraram enormes lágrimas desesperadas que viraram pedras ao tocar o solo. Vovó não nos contou o que aconteceu com as mulheres. Os apaches continuavam em guerra, mas não tinham mais guerreiros, e talvez por isso o final fosse tão desolador que ela achou melhor não contar. A palavra “abate” me veio à mente porque abater significa isso, quando um lado não tem defesa. Era a palavra que a gente usava na fazenda. Nós abatíamos as galinhas, não lutávamos contra elas. Um abate era o resultado mais provável da bravura dos guerreiros. Eles morreram como heróis e suas mulheres como escravas. Na volta para o trailer, com o sol caindo no céu e os últimos raios atravessando a estrada, pensei nas mulheres apaches. Assim como o bloco de arenito em que eles tinham
morrido, a forma da vida delas havia sido determinada anos atrás, antes que aqueles cavalos começassem a galopar com os corpos castanhos arqueados para a colisão final. Muito antes do salto final dos guerreiros já estava decidido como as mulheres viveriam e como morreriam. Pelos guerreiros, pelas próprias mulheres. Decidido. Escolhas, tão numerosas quanto grãos de areia, haviam sido comprimidas em camadas, aglutinadas em sedimentos, depois em rochas, até tudo se firmar em pedras.
Eu nunca tinha saído da montanha antes e ardia por voltar, ansiava pela visão da Princesa entalhada nos pinheiros contra o maciço. Ficava olhando para o céu vazio do Arizona, desejando que sua forma negra se avolumasse da terra clamando por seu quinhão de céu. Mas ela não estava lá. Mais do que a visão dela, eu sentia falta de suas carícias, do vento que ela mandava pelos cânions e ravinas para afagar meus cabelos de manhã. No Arizona não havia vento. Havia apenas uma hora calorenta atrás da outra. Eu passava o dia perambulando dentro do trailer, depois saía pela porta dos fundos, andava pelo pátio, ia até a rede, depois para a varandinha da frente, onde passava por cima do meu pai semiconsciente, e entrava de novo. Foi um grande alívio quando, no sexto dia, o quadriciclo de vovô quebrou e Tyler e Luke o desmontaram para achar o defeito. Fiquei assistindo sentada num barril de plástico azul, imaginando quando iríamos voltar para casa. Quando papai iria parar de falar nos Illuminati. Quando mamãe iria parar de sair da sala cada vez que papai entrava. Naquela noite, logo depois do jantar, papai falou que íamos embora.
– Peguem suas coisas. Em meia hora vamos pegar a estrada. Era começo da noite, e vovó disse que era uma hora ridícula para sair numa viagem de 12 horas. Mamãe disse que devíamos esperar amanhecer, mas papai queria chegar em casa para que ele e os garotos apanhassem sucata de manhã. – Não posso perder nem mais um dia de trabalho – ele disse. Os olhos de mamãe se escureceram de preocupação, mas ela não disse nada.
Acordei quando o carro bateu no primeiro poste. Eu estava dormindo no chão, aos pés de minha irmã, com um cobertor sobre a cabeça. Tentei me sentar, mas o carro sacudia, pulava, parecia estar se despedaçando, e Audrey caiu em cima de mim. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo, mas sentia e ouvia. Outra batida forte, uma guinada, minha mãe gritando “Tyler!” no banco da frente, um último tranco violento, depois tudo parou e instalou-se o silêncio. Passaram-se muitos segundos sem acontecer nada. Então ouvi a voz de Audrey chamando um a um pelo nome. Depois disse: “Todo mundo aqui, menos Tara!” Tentei gritar, mas meu rosto estava apertado no chão debaixo do banco. Debati-me sob o peso de Audrey quando ela gritou meu nome. Finalmente consegui arquear as costas e empurrar Audrey para fora, tirei o cobertor da cabeça e falei “Aqui”. Olhei em volta. Tyler tinha torcido o corpo de modo que parecia estar praticamente escalando para o banco de trás, seus olhos esbugalhados verificando cada corte, cada
machucado, cada par de olhos arregalados. Eu via seu rosto, mas não parecia o dele. O sangue jorrava de sua boca e ensopava a camisa. Fechei os olhos tentando esquecer os ângulos retorcidos de seus dentes ensanguentados. Quando abri os olhos, foi para ver todos os outros. Richard segurava a cabeça com as mãos tapando as orelhas, como se tentasse bloquear um barulho. O nariz de Audrey estava com uma curva estranha, escorrendo sangue sobre seu braço. Luke tremia, mas não vi sangue. Eu estava com um corte no braço onde a borda do banco tinha me apertado. – Todo mundo bem? – A voz de meu pai. Houve um resmungo geral. – Tem fios de alta tensão no carro – papai falou. – Ninguém sai até que tenham desligado a força. A porta dele se abriu e por um instante achei que ele seria eletrocutado, mas papai deu um pulo bem alto e para longe, de modo que seu corpo não encostou no carro e no chão ao mesmo tempo. Lembro-me de ficar olhando para ele pela janela estilhaçada enquanto dava a volta ao carro, com o boné vermelho empurrado para trás e a viseira apontando para cima, lambendo o ar. Parecia estranhamente juvenil. Depois de contornar o carro, ele parou e se agachou, trazendo a cabeça ao nível do passageiro. – Você está bem? – ele perguntou. Indagou de novo. Na terceira vez que perguntou, sua voz tremeu. Eu me debrucei para ver com quem ele falava, e só então me dei conta de quanto o acidente fora grave. A metade dianteira do carro tinha sido comprimida, o motor arqueou, curvando sobre si mesmo como uma dobra em rocha sólida. No para-brisa havia um brilho do sol nascendo. Vi fissuras e rachaduras entrecruzadas. Era uma imagem familiar. Eu já tinha visto centenas de para-brisas estourados no ferro-
velho, e cada um era singular, com a própria forma de teia de aranha se espalhando do ponto de impacto, uma crônica da colisão. As rachaduras no nosso para-brisa contavam sua história. O epicentro era um pequeno anel com um círculo de fissuras se expandindo. O anel estava diretamente em frente ao banco do carona. – Você está bem? – papai suplicava. – Meu amor, consegue me ouvir? Mamãe estava no banco do carona, o corpo de costas para a janela. Não consegui ver seu rosto, mas havia algo aterrador na forma como seu corpo estava caído contra o assento. – Está me ouvindo? Papai repetiu várias vezes. Em certo instante, em um movimento tão pequeno que foi quase imperceptível, vi a ponta do rabo de cavalo de mamãe se mexer quando ela fez que sim. Papai se pôs de pé, olhando para os cabos de eletricidade, para o chão, para mamãe. Desamparado. – Você acha que devo chamar uma ambulância? Eu acho que ouvi papai falar isso. E se falou, e certamente deve ter falado, mamãe deve ter murmurado uma resposta, ou nem conseguiu sussurrar nada, não sei. Sempre imaginei que ela pediu para ir para casa. Mais tarde disseram que o fazendeiro dono do trator no qual batemos veio correndo de casa. Ele quis pedir socorro à polícia, mas sabíamos que haveria problemas, já que o carro não tinha seguro e nenhum de nós estava com cinto de segurança. Levou talvez vinte minutos, depois que o fazendeiro informou o acidente à Companhia de Energia de Utah, para que desligassem a corrente mortal pulsando nos fios. Então papai tirou mamãe do carro e vi o rosto dela, seus olhos escondidos atrás de círculos negros do tamanho
de ameixas, e o inchaço distorcendo seus traços suaves, esticando uns, comprimindo outros. Não sei como ou quando chegamos em casa, mas lembro que a face da montanha brilhava alaranjada na luz da manhã. Já lá dentro, vi Tyler cuspindo torrentes carmesins na pia do banheiro. Seus dentes da frente tinham sido esmagados contra o volante e ficaram deslocados, virados para trás em direção ao céu da boca. Mamãe foi colocada deitada no sofá. Murmurou que a luz feria seus olhos. Fechamos as persianas. Ela queria ficar no porão, onde não havia janelas. Papai a carregou lá para baixo, e por muitas horas não a vi de novo, até chegar a noite, quando usei uma lanterna fraca para levar seu jantar. Quando a vi, não a reconheci. Os dois olhos estavam tão roxos que pareciam negros, e tão inchados que eu não sabia se estavam abertos ou fechados. Ela me chamou de Audrey, mesmo depois que a corrigi duas vezes. – Obrigada, Audrey, mas só o escuro e o silêncio, isso já está bom. Escuro. Silêncio. Obrigada. Venha me ver de novo, Audrey, daqui a pouquinho. Mamãe ficou uma semana sem sair do porão. A cada dia os inchaços pioravam, os hematomas negros ficavam mais negros. A cada noite, eu tinha certeza de que seu rosto estava o mais marcado e deformado possível, mas a cada manhã se encontrava ainda mais escuro, mais intumescido. Passada uma semana, quando caiu a noite, apagamos as luzes, e mamãe subiu do porão. Parecia ter dois objetos amarrados na testa, grande como maçãs, negros como azeitonas. Não se falou mais em hospital. O momento daquela decisão havia passado, e voltar a ele seria retornar a toda a fúria e medo do próprio acidente. Papai disse que os
médicos não podiam fazer nada pela mamãe, afinal. Ela estava nas mãos de Deus. Nos meses seguintes, mamãe me chamou por vários nomes. Quando me chamava de Audrey, eu não me importava, mas era preocupante quando, em conversas, ela se referia a mim como Luke ou Tony. Em nossa família sempre concordamos, inclusive a própria mamãe, que ela nunca mais foi a mesma depois do acidente. Nós, crianças, a chamávamos de Guaxinim. Para nós era uma grande piada, uma vez que os anéis pretos perduraram muitas semanas, tempo suficiente para a gente se acostumar e fazer piadas. Não tínhamos ideia de que era um termo médico. Sinal do guaxinim. Um indício de grave dano cerebral. A culpa de Tyler era total e desmedida. Ele se responsabilizava pelo acidente e continuou se culpando de todas as decisões que se seguiram, todas as repercussões, toda reverberação que ressoou ao longo dos anos. Reivindicava aquele momento e todas as suas consequências, como se o tempo tivesse começado no instante em que o station wagon saiu da estrada, e não havia história, contexto nem arbítrio antes que ele os tivesse inaugurado, aos 17 anos, quando dormiu ao volante. Mesmo hoje, quando mamãe esquece algum detalhe, por mais trivial que seja, irrompe nos olhos dele aquela mesma expressão de momentos após a colisão, quando o sangue escorria de sua boca enquanto ele entendia a cena, seus olhos torturados pelo que imaginava ter sido obra de suas mãos, e tão somente delas. Eu nunca culpei ninguém pelo acidente e muito menos a Tyler. Foi só uma coisa que aconteceu. Dez anos mais tarde meu entendimento mudou, como parte da forte oscilação para a idade adulta, e depois disso o acidente sempre me
fazia pensar nas mulheres apache e em todas as decisões que formam uma vida, as escolhas que as pessoas fazem, juntas ou por conta própria, que se combinam para produzir um único evento. Grãos de areia, incalculáveis, pressionados em sedimento e depois em pedra.
Capítulo 5
Sujeira honesta
A montanha descongelou e a Princesa apareceu em sua face, a cabeça escovando o céu. Era domingo, um mês depois do acidente, e a família se reuniu na sala. Papai tinha começado a explicar uma escritura quando Tyler pigarreou e disse que estava indo embora. – V-v-vou p-para a fac-faculdade – ele falou, com rosto rígido. Enquanto ele forçava a saída das palavras, uma veia pulava em seu pescoço, aparecendo e desaparecendo como uma grande cobra se mexendo. Todo mundo olhou para papai. Sua expressão era fechada, impassível. O silêncio era pior que uma gritaria. Tyler seria o terceiro dos meus irmãos a sair de casa. O mais velho, Tony, dirigia um caminhão-reboque carregando cascalho e sucata a fim de arrumar dinheiro para se casar com a garota que morava no fim da estrada. Shawn, o segundo, havia brigado com papai uns meses antes e saiu de casa. Não o vi mais desde então, embora todo mês mamãe recebesse um telefonema rápido dizendo que ele estava bem, trabalhando com soldas ou reboque. Se Tyler também fosse embora, papai não teria mais uma equipe, e
sem ela não poderia construir galpões e celeiros. Teria que voltar a recolher sucata. – O que é faculdade? – perguntei. – Faculdade é uma escola extra para quem é burro demais para aprender na primeira vez – papai falou. Tyler olhava para o chão, o rosto tenso. Depois soltou os ombros, relaxou o rosto e levantou os olhos. Parecia que ele havia saído de si. Tinha um olhar suave, amável. Eu não via nada dele ali. Prestou atenção em papai, que fazia um sermão: – Existem dois tipos desses professores de faculdade. Tem os que sabem que estão mentindo e os que acham que estão falando a verdade. – Papai deu um riso forçado. – Pensando bem, não sei qual é pior, se um sincero agente dos Illuminati, que pelo menos sabe que está a serviço do diabo, ou um professor dedicado que pensa que sua sabedoria é maior que a de Deus. Papai continuou rindo. A situação não era grave. Ele só precisava pôr algum juízo na cabeça do filho. Mamãe disse que papai estava perdendo tempo, que ninguém podia convencer Tyler de coisa alguma depois que ele tomava uma decisão. – É mais fácil pegar uma vassoura e varrer toda a terra das montanhas – ela disse. Então se levantou, tomou algum tempo para se equilibrar e desceu tropegamente a escada. Mamãe tinha enxaqueca, quase o tempo todo. Ainda passava os dias no porão, subindo apenas depois que o sol se punha, e mesmo assim raramente ficava mais que uma hora, até o barulho e o esforço fazerem sua cabeça latejar. Eu via seu progresso lento, cauteloso, ao descer os degraus, as costas curvadas e as mãos agarradas no corrimão, como se fosse cega e precisasse sentir o caminho. Ela esperava que os dois pés estivessem bem plantados num degrau
antes de passar ao seguinte. O inchaço do rosto estava sumindo, e ela quase tinha a mesma aparência de novo, exceto pelas rodelas que haviam passado de negras a um roxo escuro e eram agora um misto de lilás e uva. Uma hora depois, papai já não estava rindo. Tyler não repetiu seu desejo de ir para a faculdade, mas também não prometeu ficar. Continuou parado ali, por trás de uma expressão vazia, resistindo. – Um homem não pode viver de livros e pedaços de papel – papai falou. – Você vai ser um chefe de família. Como vai conseguir sustentar mulher e filhos com livros? Tyler inclinou a cabeça, mostrando que prestava atenção, e não disse nada. – Um filho meu na fila da lavagem cerebral por socialistas e espiões dos Illuminati... – A fa-fa-culdade é dirigida pela ig-igreja – Tyler interrompeu. – C-c-como pode ser ruim? A boca de papai caiu aberta, deixando escapar uma lufada de ar. – E você acha que os Illuminati não estão infiltrados na igreja? – A voz dele era estrondosa, cada palavra reverberava com uma energia poderosa. – Não pensa que o primeiro lugar aonde vão é a escola, onde podem criar uma geração inteira de mórmons socialistas? Eu eduquei você para ser mais inteligente do que isso! Sempre me lembrarei de meu pai nesse momento, de sua potência e desespero. Ele se inclina para a frente, queixo cerrado, olhos apertados, perscrutando o rosto do filho em busca de algum sinal de assentimento, algum vinco de convicção compartilhada. Não encontra.
A história de como Tyler decidiu deixar a montanha é muito estranha, cheia de lacunas e reviravoltas. Começa com o próprio Tyler, com o bizarro fato de ser quem é. Às vezes acontece numa família um filho que não se encaixa, que tem um ritmo descompassado. Em nossa família, era Tyler. Ele valsava enquanto a gente saltitava, era surdo à música ruidosa de nossa vida, e nós éramos surdos à serena polifonia dele. Tyler gostava de livros, de silêncio. Adorava organizar, arrumar e etiquetar. Uma vez mamãe achou no armário dele uma pilha de caixas de fósforos organizadas por ano. Tyler disse que continham seus restos de lápis apontados nos últimos cinco anos, que guardava para acender fogo em nossa “ida para a montanha”. O resto da casa era uma confusão total: pilhas de roupas para lavar, grudentas de graxa e sujeira do ferro-velho se amontoavam no chão dos quartos. Na cozinha, frascos turvos de tinturas enchiam todas as mesas e armários e eram retirados apenas para dar espaço a algum projeto que aumentava ainda mais a bagunça, como esfolar a carcaça de um veado ou raspar Cosmoline de um rifle. E no meio desse caos, Tyler tinha meia década de restos de lápis, catalogados por ano. Meus irmãos eram como lobos numa alcateia. Viviam se testando uns aos outros e partiam para confrontos físicos cada vez que um mais novo chegava a um ponto de crescimento em que sonhava com a superioridade. Quando eu era pequena, essas escaramuças geralmente terminavam com mamãe gritando por causa de uma luminária ou um vaso quebrado, mas à medida que eu crescia restavam cada vez menos coisas por quebrar. Mamãe contou que tínhamos uma televisão quando eu era bebê, até que Shawn enfiou a cabeça de Tyler nela.
Enquanto os irmãos brigavam, Tyler ouvia música. Ele tinha o único aparelho de som que eu já vira, e junto ao aparelho uma pilha de CDs com palavras estranhas como “Mozart” e “Chopin”. Numa tarde de domingo, quando ele tinha uns 16 anos, me pegou olhando para os CDs. Tentei fugir porque achei que ia me bater por estar no quarto dele, mas ele me pegou pela mão e me levou até a pilha. – Q-q-qual que v-você gosta mais? – perguntou. Um era preto, com um monte de mulheres e homens vestidos de branco na capa. Apontei para aquele. Tyler me olhou, descrente. – Is-is-isso é c-canto coral – ele disse. Ele pôs o disco na caixinha preta, se sentou à escrivaninha e ficou lendo. Eu me agachei no chão, junto aos pés dele, rabiscando desenhos no carpete. A música começou. Um suspiro de cordas, depois um sussurro de vozes, numa entonação suave como seda, mas penetrante. O hino me era familiar, cantávamos na igreja elevando em louvor as vozes desencontradas, mas esse era diferente. Era uma adoração, mas também era algo mais, alguma coisa a ver com estudo, disciplina e colaboração. Algo que eu ainda não entendia. A música acabou e fiquei paralisada, a seguinte tocou, e depois outra, até o fim do CD. O quarto parecia sem vida na ausência da música. Pedi a Tyler para ouvir de novo, e uma hora depois, quando a música parou, implorei para repetir. Era muito tarde, a casa estava silenciosa quando Tyler se levantou da escrivaninha e pôs para tocar dizendo que era a última vez. – P-p-podemos o-ouvir amanhã d-de novo – ele disse. A música se tornou nossa linguagem. A dificuldade de fala de Tyler fazia com que ficasse calado, sua língua pesava. Por causa disso, ele e eu nunca falávamos muito,
eu não conhecia meu irmão. Agora, toda noite, quando ele voltava do ferro-velho, eu já estava esperando. Depois que tomava banho, esfregando-se para tirar a graxa da pele, ele se sentava à escrivaninha e dizia: – Oq-oq-que nós vamos o-o-ouvir hoje? Eu escolhia um CD e ele ficava lendo, enquanto eu, estendida no chão aos pés dele, com os olhos fixos em suas meias, ouvia. Eu era tão turbulenta quanto meus irmãos, mas quando estava com Tyler me transformava. Talvez fosse a música, o encanto dela, ou talvez fosse o encanto dele. De algum modo, ele me fazia ver a mim mesma por meio dos olhos dele. Tentei me lembrar de não gritar. Tentei evitar brigas com Richard, principalmente as que terminavam com nós dois rolando no chão, ele puxando meus cabelos, eu enfiando as unhas no rosto macio dele. Eu devia ter sabido que um dia Tyler iria embora. Tony e Shawn tinham ido, mesmo tendo uma ligação com a montanha de uma forma que Tyler nunca tivera. Tyler sempre amara o que papai chamava de “aprender com os livros”, a que todos nós, à exceção de Richard, éramos totalmente indiferentes. Houve um tempo, quando Tyler era menino, em que mamãe era idealista quanto a educação. Ela costumava dizer que ficávamos em casa para ter uma educação melhor que a das outras crianças. Mas era só mamãe que dizia isso, porque papai achava que precisávamos aprender coisas mais práticas. Quando eu era muito pequena, essa era a batalha entre eles: mamãe tentando dar aulas toda manhã, e papai levando os meninos para o ferro-velho assim que ela virava as costas. Ela acabou perdendo a batalha. Começou com Luke, o quarto dos cinco filhos. Luke era inteligente, esperto no que
se referia à montanha. Ele trabalhava com os animais, parecendo que falava com eles, mas tinha uma grave deficiência de aprendizado, lutando para conseguir ler. Mamãe passou cinco anos sentada com ele à mesa da cozinha toda manhã, explicando os mesmos sons vezes sem conta, mas aos 12 anos Luke só conseguia se engasgar em frases da Bíblia nos nossos estudos das escrituras. Mamãe não conseguia entender. Ela não tivera problemas para ensinar Tony e Shawn a ler, e todos os outros tinham captado. Tony me ensinou a ler quando eu tinha 4 anos. Acho que foi para ganhar uma aposta com Shawn. Quando Luke aprendeu a esgarranchar seu nome e ler frases simples e curtas, mamãe passou à matemática. O pouco que cheguei a aprender de matemática foi lavando os pratos do café da manhã e ouvindo mamãe explicar repetidas vezes o que era uma fração ou como usar os números negativos. Luke nunca fez qualquer progresso e, passado um ano, mamãe desistiu. Parou de falar que nós teríamos uma educação melhor que as outras crianças. Passou a fazer eco a papai. Certo dia ela me falou: – Só o que importa é vocês aprenderem a ler. O resto é conversa fiada, pura lavagem cerebral. Papai passou a vir cada vez mais cedo pegar os meninos, e quando eu estava com 8 anos e Tyler, 16, já tínhamos uma rotina que omitia as aulas de mamãe e a escola também. Entretanto, a conversão de mamãe à filosofia de papai não foi completa, e às vezes ela era tomada do antigo entusiasmo. Nesses dias, quando a família estava em torno da mesa no café da manhã, mamãe anunciava que hoje íamos estudar. Ela mantinha no porão uma estante cheia de livros de herbalismo e algumas velhas brochuras. Havia uns poucos livros de matemática, em que todos estudávamos, e
um de história americana que nunca vi ninguém ler, a não ser Richard. E também um livro de ciências, que devia ser para crianças pequenas, porque era cheio de ilustrações em cores vivas. Geralmente levava meia hora para achar todos os livros, depois os repartíamos entre nós e íamos para cômodos separados para “estudar”. Não tenho ideia do que meus irmãos faziam enquanto estudavam, mas eu abria meu livro de matemática e passava dez minutos virando as páginas e correndo os dedos pela junção delas. Se meu dedo passava por cinquenta páginas, eu relatava a mamãe que tinha estudado cinquenta páginas de matemática. – Incrível! – ela dizia. – Viu só? Esse ritmo nunca seria possível em uma escola pública. Você só consegue fazer isso em casa, onde pode ficar realmente concentrada, sem outras distrações. Mamãe nunca nos deu aulas nem aplicou testes. Nunca nos passou trabalhos. Havia um computador no porão com um programa chamado Mavis Beacon, que dava aulas de datilografia. Às vezes, quando ela estava entregando ervas, se tínhamos terminado nossos afazeres, mamãe nos levava à biblioteca Carnegie, no centro da cidade. No porão havia uma sala cheia de livros infantis, que líamos. Richard pegava livros até do andar de cima, livros para adultos, com títulos fortes sobre história e ciência. O aprendizado em nossa família era totalmente autodirigido. Cada um podia ler o que quisesse aprender, desde que tivesse terminado suas tarefas. Alguns eram mais disciplinados que outros. Eu era uma das mais indisciplinadas, e quando fiz 10 anos a única matéria que tinha estudado sistematicamente era o código Morse, porque papai insistia que eu soubesse.
– Se cortarem o telefone, seremos as únicas pessoas no vale capazes de se comunicar – ele dizia, embora eu não tivesse muita certeza, porque se éramos os únicos a aprender, com quem iríamos nos comunicar? Os mais velhos – Tony, Shawn e Tyler – haviam crescido numa década diferente, e era como se tivessem tido pais diferentes. O pai deles nunca tinha ouvido falar dos Weaver, jamais falava dos Illuminati. Matriculou os três filhos mais velhos na escola, e apesar de tê-los tirado poucos anos depois prometendo ensiná-los em casa, quando Tony pediu para voltar, papai deixou. Tony ficou na escola todo o ensino médio, mas faltou a tantas aulas trabalhando no ferro-velho que não pôde se formar. Sendo o terceiro filho, Tyler mal se lembrava da escola e gostava de estudar em casa. Até fazer 13 anos. Então, talvez por mamãe passar tanto tempo ensinando Luke a ler, Tyler pediu a papai que o matriculasse na oitava série. Tyler ficou aquele ano inteiro na escola, do segundo semestre de 1991 ao primeiro semestre de 1992. Aprendeu álgebra, que parecia tão natural à sua mente quanto o ar em seus pulmões. Então houve o cerco aos Weaver, em agosto. Não sei se Tyler teria voltado à escola, mas sei que depois de papai saber dos Weaver nunca mais permitiu que nenhum dos filhos pisasse numa sala de aula. Só que a imaginação de Tyler estava cativada. Ele juntou todo o dinheiro que tinha para comprar um velho compêndio de trigonometria e continuou a estudar sozinho. Em seguida, queria aprender cálculo, mas não podia comprar outro livro. Então foi à escola e pediu ao professor de matemática que lhe desse um. O professor riu na cara dele. – Você não vai aprender cálculo sozinho. É impossível. Tyler respondeu: – Me dê um livro, eu acho que consigo.
E saiu com o livro debaixo do braço. O desafio maior era encontrar tempo para estudar. Todo dia, às sete da manhã, meu pai reunia os filhos, dividia em equipes e mandava realizarem as tarefas do dia. Geralmente, levava uma hora até papai notar que Tyler não estava com os irmãos. Ele irrompia pela porta dos fundos e entrava pisando firme em casa até achar Tyler no quarto, estudando. – Que diabos você está fazendo?! – ele gritava, deixando pegadas de lama no irrepreensível tapete de Tyler. – Luke está lá sozinho carregando vigas, um homem fazendo o trabalho de dois; eu chego aqui e você está com a bunda sentada na cadeira? Se papai tivesse me apanhado com um livro enquanto deveria estar trabalhando, eu teria saído correndo, mas Tyler ficava firme. – Papai, v-v-vou tr-tr-trabalhar d-depois do almoço. M-mas p-preciso da manhã p-para estudar. Eles ficavam discutindo alguns minutos em muitas manhãs, e então Tyler largava o lápis e, com os ombros caídos, calçava as botas e as luvas de soldar. Mas, em outras manhãs – manhãs que sempre me deixavam atônita –, quem saía bufando pela porta dos fundos era papai, sozinho.
Eu não acreditava que Tyler fosse mesmo para a faculdade, que abandonaria a montanha para se unir aos Illuminati. Achava que papai tinha o verão inteiro para enfiar juízo na cabeça de Tyler, o que tentava fazer quase todo dia, quando a equipe chegava para almoçar. Os rapazes ficavam ali pela cozinha, repetindo o prato duas ou três vezes, papai se deitava no linóleo duro, porque estava cansado e precisava
descansar, mas se encontrava sujo demais para o sofá da mamãe, e começava o sermão sobre os Illuminati. Um almoço em particular se alojou em minha memória. Tyler está se servindo de porções de taco preparadas por mamãe. Ele alinha três tacos em uma fileira perfeita no prato, coloca o hambúrguer, alface e tomate, medindo as quantidades, distribuindo o creme azedo com perfeição. Papai fala sem parar. Assim que papai chega ao fim do sermão e toma fôlego para recomeçar, Tyler despeja os três tacos impecáveis na centrífuga que mamãe usa para fazer as tinturas e liga. Um rugido alto invade a cozinha, impondo silêncio. O bramido cessa, papai recomeça. Tyler coloca o líquido alaranjado num copo e vai tomando com cuidado, delicadamente, por causa dos dentes da frente que ainda estão bambeando, ameaçando saltar da boca. Muitas lembranças podem ser invocadas para simbolizar esse período de nossa vida, mas foi esse que permaneceu comigo: a voz de papai se elevando do chão enquanto Tyler bebe tacos. Quando a primavera foi se tornando verão, a determinação de papai se tornou negação. Ele agia como se a disputa estivesse terminada e tivesse vencido. Parou de falar sobre Tyler sair de casa e se recusou a contratar alguém para substituí-lo. Numa tarde de calor, Tyler me levou para visitar vovó e vovô-da-cidade, que moravam na mesma casa onde criaram mamãe. A casa deles não poderia ser mais diferente da nossa. A decoração não era cara, mas muito bem cuidada. Tapete branco-creme nos assoalhos, papel de parede floral suave, cortinas grossas pregueadas nas janelas. Raramente trocavam alguma coisa. O tapete, o papel de parede, a mesa e os balcões da cozinha, tudo era igual aos slides que eu tinha visto de quando mamãe era criança.
Papai não gostava que nos demorássemos por lá. Antes de se aposentar, vovô tinha sido carteiro, e papai dizia que ninguém respeitável teria trabalhado para o governo. Vovó era pior ainda, segundo papai. Era frívola. Eu não sabia o significado da palavra, mas papai a dizia com tanta frequência que passei a associá-la à vovó, com o tapete branco-creme e o papel de parede de suaves pétalas. Tyler adorava aquele lugar. Gostava da calma, da ordem, do modo gentil com que nossos avós falavam um com o outro. Havia uma aura naquela casa que me levava a sentir instintivamente, sem que jamais me tivessem dito, que eu não deveria gritar, nem bater em ninguém, nem correr desabaladamente pela cozinha. Eu precisava que me dissessem, e repetidamente, para deixar os sapatos enlameados do lado de fora. – Para a faculdade! – vovó falou depois que estávamos sentados no sofá de estampa floral. Ela se voltou para mim. – Você deve se orgulhar do seu irmão! Seus olhos se apertaram para caber o sorriso. Dava para ver todos os dentes dela. Só mesmo a vovó, pensar que lavagem cerebral deve ser comemorada, pensei. – Preciso ir ao banheiro – falei. Sozinha no hall, fui andando devagar, retardando cada passo para meus dedos dos pés se afundarem no tapete macio. Sorri pensando que papai dizia que vovó conseguia manter o tapete tão branco porque vovô nunca tinha trabalhado de verdade. – Minhas mãos podem ser sujas – papai disse piscando para mim, mostrando as unhas enegrecidas. – Mas é sujeira honesta.
Passaram-se
semanas, e era pleno verão. Num domingo, papai reuniu a família. – Temos um bom suprimento de comida – ele disse. – Temos combustível e água estocados. O que não tem é dinheiro. Papai tirou da carteira uma nota de vinte e a amassou. – Não esse dinheiro falso. Nos Dias da Abominação isso não vai valer nada. As pessoas vão dar notas de cem dólares em troca de um rolo de papel higiênico. Imaginei um mundo com notas de dinheiro espalhadas como latas vazias pela rodovia. Olhei em volta. Todos pareciam estar imaginando também, principalmente Tyler. Seu olhar era concentrado, determinado. Papai continuou: – Tenho um dinheirinho guardado. Sua mãe também tem algum escondido. Vamos trocar por prata. É isso que as pessoas logo vão querer, prata e ouro. Dias depois papai chegou em casa com prata e até algum ouro. O metal era em forma de moedas empilhadas em caixinhas pesadas, que ele levou para guardar no porão. E não me deixou abri-las. – Isso não é brinquedo – ele disse. Pouco depois, Tyler pegou muitos milhares de dólares – quase tudo o que sobrara após pagar ao fazendeiro pelo trator e a papai pelo station wagon – e comprou uma pilha de prata, que guardou no porão, junto ao armário das armas. Ele ficou lá um longo tempo, olhando para as caixas, como se estivesse suspenso entre dois mundos. Tyler era um alvo mais fácil. Implorei até ele me dar uma moeda de prata do tamanho da minha palma da mão. A moeda me tranquilizou. A mim parecia que aquela compra era uma declaração de lealdade de Tyler, um compromisso com nossa família, e, apesar da loucura que tomara conta
dele, a ponto de querer ir para a faculdade, no fim das contas ele nos escolhia. Lutaria ao nosso lado quando chegasse O Fim. Quando as folhas começaram a mudar dos verdes do zimbro no verão para os vermelhos-granada e dourados-bronze do outono, aquela moeda brilhava mesmo à luz mais mortiça, polida por mil esfregadelas dos meus dedos. Eu me confortava com a crua fisicalidade dela, certa de que, a moeda sendo verdadeira, a partida de Tyler não seria.
Em certa manhã de agosto, ao acordar, vi Tyler guardando em caixas suas roupas, livros e CDs. Ele mal tinha acabado quando nos sentamos à mesa do café. Comi depressa, fui ao quarto dele e vi as prateleiras vazias, exceto por um único CD, o preto com a imagem das pessoas vestidas de branco, que então reconheci como o Coro do Tabernáculo mórmon. Tyler chegou à porta. – Es-es-estou de-deixando esse p-p-pra você – ele disse. Depois ele saiu e lavou seu carro com a mangueira, tirando toda a poeira de Idaho até ficar parecendo que nunca tinha visto uma estrada de terra. Papai terminou de comer e saiu sem dizer uma palavra. Entendi por quê. Ver Tyler colocando as caixas no carro me enlouqueceu. Eu queria gritar, mas em vez disso saí correndo pela porta dos fundos e pela montanha na direção do pico. Corri até o barulho do sangue pulsando em meus ouvidos ficar mais alto que meus pensamentos. Então me virei e corri de volta até o vagão vermelho. Subi depressa no teto, a tempo de ver Tyler fechar o porta-malas e fazer uma volta, como se quisesse dizer adeus, mas não tivesse a quem. Eu o imaginei chamando meu nome, e seu rosto abatido quando não respondi.
Ele já estava ao volante quando desci, e o carro roncava na estrada de terra quando pulei de trás de um tanque de ferro. Tyler parou, saiu do carro e me abraçou – não o abraço em que os adultos se agacham para dar em crianças, mas o outro, me puxando para ele, nós dois de pé e ele colando seu rosto ao meu. Disse que teria saudade de mim, me soltou, entrou no carro e acelerou colina abaixo em direção à rodovia. Fiquei olhando até a poeira baixar. Depois disso, Tyler raramente vinha em casa. Estava construindo uma vida para si mesmo além das linhas inimigas. Fazia poucas excursões para o nosso lado. Quase não tenho lembranças dele até cinco anos mais tarde, quando tenho 15 anos e ele irrompe em minha vida em um momento crítico. Mas, nessa ocasião, somos estranhos um para o outro. Muitos anos se passariam até eu entender o que a partida custou a Tyler naquele dia, e quão pouco ele entendia para onde estava indo. Tony e Shawn tinham deixado a montanha, mas para fazer o que meu pai lhes havia ensinado: dirigir reboque, soldar, recolher sucata. Tyler saltou no vazio. Não sei por que fez isso, nem ele sabe. Não sabe explicar de onde lhe veio a convicção, nem por que esta queimava com um brilho tão intenso que atravessava a escuridão da incerteza. Mas sempre achei que fosse a música em sua cabeça, algum som de esperança que nós não conseguíamos ouvir, a mesma melodia que ele cantarolava quando comprou o livro de trigonometria ou enquanto guardava os restos de lápis apontados.
O verão se foi, parecendo evaporar-se no próprio calor. Os dias ainda eram quentes, mas as noites começavam a
esfriar, as frígidas horas após o pôr do sol exigindo mais a cada dia. Tyler se fora havia um mês. Eu estava passando a tarde com vovó-da-cidade. Tinha tomado banho de manhã, embora não fosse domingo, e vestido roupas especiais, sem furos nem manchas, de modo que, esfregada e polida, podia me sentar na cozinha e ver vovó fazendo biscoitos de abóbora. O sol de outono entrava pelas cortinas diáfanas e batia nos azulejos amarelos, dando ao ambiente uma luminosidade de âmbar. Depois que vovó enfiou o primeiro tabuleiro no forno, fui ao banheiro. Ao passar pelo hall, com aquele tapete branco fofo, senti uma pontada de raiva, lembrando que na última vez que o tinha visto eu estava com Tyler. O banheiro parecia estranho. Reparei na pia perolada, no tom rosado do tapete, no piso atoalhado cor de pêssego. Até o vaso sanitário espreitava por baixo de uma capa cor de prímula. Reparei em meu próprio reflexo, emoldurado por azulejos creme. Não parecia nada comigo mesma, e por um momento me perguntei se era isso que Tyler queria, uma casa bonita com um banheiro bonito e uma irmã bonita indo visitá-lo. Talvez tenha ido embora para ter aquilo. Eu o odiei por isso. Ao lado da torneira havia uns dez sabonetes brancos e cor-de-rosa, em forma de cisnes e rosas, repousando numa concha pintada de marfim. Peguei um cisne, sentindo a forma suave sob a pressão dos meus dedos. Era lindo, eu queria levar para mim. Imaginei-o no banheiro do nosso porão, as asas delicadas contra o cimento áspero, também numa poça lamacenta da pia, cercado por tiras recurvadas de papel de parede amarelado. Tornei a pôr na concha. Ao sair do banheiro, vovó estava esperando por mim no hall.
– Lavou as mãos? – ela perguntou naquele tom doce e amanteigado. – Não – disse eu. Minha resposta amargou o doce na voz dela. – Por que não? – Não estavam sujas. – Você sempre deve lavar as mãos depois de ir ao banheiro. – Não pode ser tão importante – eu disse. – Lá em casa nem tem sabonete no banheiro. – Não é verdade – ela disse. – A sua mãe sabe como é o certo. Quis manter minha posição, pronta a responder à vovó que não usávamos sabonete, mas quando olhei para cima a mulher que vi não era a que eu esperava ver. Ela não parecia frívola, não do tipo que passa o dia inteiro se preocupando com o tapete branco. Naquele momento ela estava transformada. Talvez alguma coisa no contorno dos olhos, um piscar de incredulidade fixo em mim, ou talvez a linha firme da boca, cerrada com força, determinada. Ou talvez não fosse nada, só a mesma velha parecendo o que sempre foi e falando as mesmas coisas que sempre falou. Talvez sua transformação fosse meramente uma mudança temporária em minha perspectiva. Naquele momento, talvez a perspectiva fosse dele, a do irmão que eu odiava e amava. Vovó me levou ao banheiro, ficou me olhando lavar as mãos e me orientou a enxugar na toalha cor-de-rosa. Minhas orelhas ardiam, minha garganta queimava. Pouco depois papai me pegou, a caminho de casa na volta de um trabalho. Chegou de caminhão, buzinou, e eu saí de cabeça baixa. Vovó me seguiu. Entrei correndo no banco do carona, deslocando uma caixa de ferramentas e
as luvas de trabalho, enquanto vovó contava ao papai que eu não lavava as mãos. Papai ouviu, meio chupando as bochechas, com a mão direita na alavanca da caixa de câmbio. Uma risada borbulhava dentro dele. Ao retornar a meu pai, senti a força de sua personalidade. Uma lente familiar pairou sobre meus olhos e vovó perdeu todo o estranho poder que tivera sobre mim uma hora atrás. – Você não ensina seus filhos a lavar as mãos depois de irem ao banheiro? – vovó disse. Papai engatou a marcha. Arrancando o caminhão, ele acenou dizendo: – Eu os ensino a não mijar nas mãos.
Capítulo 6
Escudo e broquel
No inverno, depois que Tyler partiu, Audrey fez 15 anos. Pegou sua carteira de motorista na prefeitura e, na volta para casa, já arrumou um emprego – ela ia fritar hambúrgueres. Depois, um segundo emprego, de tirar leite de vaca todo dia às quatro da manhã. Havia passado um ano brigando com papai, revoltada com as restrições que ele lhe impunha. Agora Audrey tinha dinheiro, carro, e raramente a víamos. A família ia diminuindo, a velha hierarquia ficando reduzida. Papai já não tinha uma equipe para construir celeiros e voltou a recolher sucata. Com a saída de Tyler, nós que restamos fomos promovidos. Luke, com 16 anos, passou a ser o filho mais velho, o braço direito de papai, e Richard e eu tomamos o lugar dele como peões. Lembro do primeiro dia em que entrei no ferro-velho como membro da equipe. A terra estava um gelo, e até o ar era denso. Estávamos no pátio acima do pasto de baixo, entupido de centenas de carros e caminhões. Alguns eram só velhos e quebrados, mas a maioria era resto de desastres, e isso ficava evidente: tortos, curvos, retorcidos, davam a impressão de serem feitos de papel amassado, não
de metal. No centro do pátio havia uma lagoa de entulho, ampla e profunda: baterias velhas vazando, fios de cobre emaranhados, caixas de marcha abandonadas, chapas enferrujadas de metal corrugado, torneiras antigas, radiadores esmagados, metros e metros de brilhosos canos de cobre serrilhados, e por aí vai. Era uma massa informe, infindável. Papai me levou à beira da sucata. – Você sabe a diferença entre alumínio e aço inoxidável? – perguntou. – Acho que sei. – Venha cá. – Seu tom era impaciente. Estava habituado a dar ordens a homens grandes. Ter que explicar seu negócio a uma menina de 10 anos fez com que nós dois parecêssemos pequenos. Ele puxou um pedaço de metal claro. – Isto aqui é alumínio. Está vendo como brilha? O quanto é leve? Papai pôs a peça em minha mão. Ele tinha razão, não era tão pesado quanto parecia. Em seguida, me deu um cano amassado. – Isto aqui é aço – ele disse. Ficamos separando os entulhos em pilhas – alumínio, ferro, aço, cobre – para vender. Peguei um pedaço de ferro. Era denso, com ferrugem cor de bronze, e os ângulos denteados arranhavam minhas mãos. Eu usava luvas de couro, mas, quando papai as viu, disse que iam me atrasar no serviço. – Você vai ter calos rapidinho – ele prometeu enquanto eu lhe entregava as luvas. Eu tinha achado um capacete na oficina, mas papai também o tirou de mim.
– Você vai se mexer muito devagar tentando equilibrar essa coisa idiota na cabeça – ele disse. Papai vivia com medo do tempo. Ele se sentia perseguido pelo tempo. Dava para ver nos olhares medrosos dele para o sol se movendo no céu, no modo ansioso como avaliava cada pedaço de cano ou peça de aço. Papai via em cada parte da sucata o dinheiro que poderia obter com a venda, deduzindo o tempo necessário para separar, cortar e entregar. Cada placa de ferro, cada anel de tubulação de cobre era um centavo, dez centavos, um dólar, se não levasse mais que dois segundos para extrair e classificar, e ele calculava esses parcos lucros em relação ao custo por hora para manter a casa. Ele achava que, para ter as luzes acesas, a casa aquecida, precisava trabalhar em velocidade total. Nunca vi papai carregar alguma coisa até uma pilha de sucata. Ele jogava, com toda a força, de qualquer lugar em que estivesse. A primeira vez que o vi fazendo isso achei que fosse um acidente, um contratempo que seria corrigido. Ainda não tinha entendido bem as regras daquele mundo novo. Estava abaixada procurando uma bobina de cobre quando alguma coisa grande cortou o ar perto de mim. Eu me virei para ver de onde vinha e recebi um cilindro de aço direto no estômago. O impacto me atirou no chão. “Opa!”, papai bradou. Caí rolando no gelo, sem fôlego. Mal tinha acabado de engatinhar e me pôr de pé, papai já tinha lançado outra coisa. Eu me esquivei, mas perdi o equilíbrio e caí. Dessa vez fiquei lá deitada. Eu tremia, mas não de frio. Minha pele estava arrepiada com a certeza do perigo – no entanto, quando olhei para a fonte do perigo, só vi um velho cansado puxando uma luminária quebrada.
Lembrei das muitas vezes que um dos meus irmãos chegava berrando na porta dos fundos, apertando uma parte do corpo machucada, com um corte, esmagada, quebrada ou queimada. Recordei de dois anos antes, quando um homem chamado Robert, que trabalhava para papai, tinha perdido um dedo. Lembrei do grito sobrenatural que ele deu enquanto corria para a casa. E também de ter visto o toco sangrento e o dedo cortado, que Luke trouxe e pôs no balcão. Parecia um acessório de truque de mágica. Mamãe enfiou o dedo cortado no gelo e mandou Robert à cidade para que os médicos o costurassem de volta no lugar. O dedo dele não foi o único que o ferro-velho exigiu. Um ano antes de Robert, a namorada de Shawn, Emma, entrou pela porta dos fundos, aos berros. Ela estava ajudando Shawn e perdeu metade do indicador. Mamãe mandou também Emma às pressas para a cidade, mas a carne estava tão esmagada que nada puderam fazer. Olhei para meus dedos rosados, e naquele momento o ferro-velho mudou. Quando crianças, Richard e eu passávamos horas sem conta nos entulhos, pulando de carcaça em carcaça de carro, saqueando uns e deixando outros. Foi cenário de milhares de batalhas imaginadas, entre demônios e bruxos, fadas e trogloditas, monstros e gigantes. Agora tinha mudado. Deixara de ser meu lugar de brincadeiras da infância e assumira sua realidade própria, com leis físicas misteriosas e hostis. Fiquei me lembrando da estranha forma que o sangue tomava ao escorrer pelo pulso de Emma e se espalhar pelo braço, enquanto eu, já de pé e ainda tremendo, tentava soltar o pedacinho de cano de cobre. Estava quase conseguindo quando papai lançou um conversor catalítico. Saltei para o lado, cortando a mão na borda serrilhada de
um tanque furado. Enxuguei o sangue na calça jeans e gritei: – Não jogue nada aqui! Eu estou aqui! Papai olhou, surpreso. Tinha esquecido que eu estava lá. Ao ver o sangue, veio até mim e pôs a mão no meu ombro. – Não se preocupe, meu bem. Deus e seus anjos estão aqui, trabalhando junto conosco. Eles não vão deixar você se machucar.
Eu não era a única procurando um chão firme onde pôr os pés. Nos seis meses depois do acidente de carro, mamãe tinha melhorado continuamente, e achamos que ela iria se recuperar por completo. As dores de cabeça eram menos frequentes, portanto ela só se isolava no porão duas ou três vezes por semana. Então a melhora foi diminuindo. Agora já tinham se passado nove meses. As dores de cabeça persistiam e sua memória era errática. Pelo menos duas vezes por semana ela me pedia para preparar o café da manhã muito depois que todo mundo tinha acabado de comer e a louça já estava lavada. Mandava-me pesar uma porção de erva-dos-carpinteiros para uma cliente, e eu lembrava a ela que a encomenda tinha sido entregue na véspera. Começava a preparar uma tintura e, um minuto depois, não se lembrava de quais ingredientes tinha adicionado; toda a mistura era jogada fora. Às vezes me pedia para ficar ao lado dela para ir falando “Você já pôs a lobélia. Agora é a verbena-azul”. Mamãe começou a duvidar de poder ser parteira de novo, e enquanto ela se entristecia com isso, papai ficava arrasado. Seu rosto murchava cada vez que mamãe recusava uma grávida.
– E se eu tiver uma enxaqueca quando a mulher entrar em trabalho de parto? – ela lhe dizia. – E se eu esquecer quais ervas dei a ela, ou qual o batimento do coração do bebê? Por fim, não foi papai que convenceu mamãe a ser parteira de novo. Ela mesma fez isso, talvez porque fosse uma parte dela da qual não podia desistir sem algum conflito. Naquele inverno, ela ajudou no nascimento de dois bebês, eu me lembro bem. Depois do primeiro, mamãe chegou em casa fraca e pálida, como se trazer ao mundo aquela vida houvesse tirado um pouco da sua. Estava fechada no porão quando veio o segundo chamado. Ela foi dirigindo de óculos escuros, tentando enxergar por meio das ondas que distorciam a visão. Quando chegou lá, a dor de cabeça era cegante, latejante e expulsava qualquer pensamento. Ela se trancou em um quarto dos fundos e a assistente fez o parto. Depois disso mamãe não era mais a Parteira. No chamado seguinte, usou a maior parte do pagamento para contratar uma segunda parteira como supervisora. Pelo visto, agora todo mundo a supervisionava. Ela havia sido uma especialista, de competência incontestável, e agora precisava perguntar se já tinha dado almoço à filha de 10 anos. Aquele inverno foi longo e escuro, e eu me indagava se mamãe não ficava na cama mesmo quando não tinha enxaqueca. No Natal alguém deu a ela um frasco com uma mistura de óleos essenciais muito caros. Melhorou a dor de cabeça, mas não podíamos pagar cinquenta dólares por um pouquinho de nada. Mamãe decidiu fazer a mistura. Começou comprando óleos puros – eucalipto e erva-caril, sândalo e ravensara –, e a casa, que havia anos cheirava a cascas de árvores e folhas amargas, de repente tinha perfume de lavanda e camomila. Mamãe passava dias
inteiros misturando óleos, fazendo ajustes até atingir fragrâncias e atributos específicos. Trabalhava com um bloco e caneta para anotar o passo a passo. Os óleos eram muito mais caros que as tinturas. Era horrível quando precisava jogar tudo fora porque ela não se lembrava se tinha adicionado o abeto. Ela fez um óleo para enxaqueca, um para cólicas menstruais, um para dores musculares e um para palpitações. Nos anos seguintes, iria inventar dezenas de outros. Para criar as fórmulas, mamãe usava algo chamado “teste muscular”, e me explicou que era “perguntar ao corpo do que estava precisando e deixar o corpo responder”. Mamãe dizia a si mesma em voz alta: “Estou com enxaqueca. O que vai me fazer melhorar?” Então pegava um frasco de óleo, pressionava contra o peito, de olhos fechados, e perguntava “Preciso disto?”. Se o corpo balançasse para a frente, significava que sim, o óleo iria melhorar a dor de cabeça. Se o corpo balançasse para trás, significava que não, e ela testava outra coisa. À medida que se aperfeiçoava, mamãe deixou de usar o corpo todo e passou aos dedos apenas. Cruzava o dedo maior sobre o indicador, fazia a pergunta e tentava descruzar os dedos com delicadeza. Se permanecessem cruzados, significava sim, e se descruzassem, significava não. O som produzido por esse método era fraco, mas inconfundível. Cada vez que a ponta do dedo maior passava sobre a unha do indicador, havia um clique carnudo. Mamãe usou o teste muscular para experimentar outros métodos de cura. Diagramas de chacras e pontos de pressão apareceram pela casa e ela passou a cobrar das clientes por algo denominado “trabalho com a energia”. Eu não sabia o que isso significava até o dia em que ela chamou Richard e eu para a sala dos fundos. Lá estava uma
mulher chamada Susan. Mamãe se encontrava de olhos fechados, com a mão esquerda pousada sobre a de Susan. Os dedos de sua outra mão estavam cruzados, e ela sussurrava perguntas para si mesma. Passado um pouco, ela disse para a mulher: – Seu relacionamento com seu pai está prejudicando seus rins. Pense nele enquanto eu ajusto o chacra. Mamãe explicou que o trabalho com a energia era mais eficaz quando havia muitas pessoas presentes. – Porque assim podemos pegar energia de todos – ela disse. Mamãe apontou para minha testa e disse que eu tapasse o centro, entre as sobrancelhas, enquanto eu segurava o braço de Susan com a outra mão. Mandou Richard tocar um ponto de pressão no peito dele e me pegar com a outra mão, enquanto mamãe segurava um ponto na palma da própria mão e tocava Richard com o pé. – É isso – ela disse quando Richard pegou meu braço. Ficamos dez minutos em silêncio, uma corrente humana. Quando penso naquela tarde, me lembro, em primeiro lugar, da estranheza daquilo. Mamãe disse que sentia o calor da energia se movendo em nosso corpo, mas eu não sentia nada. Ela e Richard ficaram imóveis, de olhos fechados, com a respiração leve. Eles conseguiam sentir e eram transportados pela energia. Eu fiquei inquieta. Tentava me concentrar, preocupada se estava estragando as coisas para Susan, se eu quebrava a corrente, se o poder de cura de mamãe e Richard não a atingiria porque eu não conseguia conduzi-lo. Passados os dez minutos, Susan deu vinte dólares a mamãe, e entrou outra cliente. Se eu era cética, meu ceticismo não era culpa minha. Era resultado de não ser capaz de decidir em qual das minhas mães confiar. Um ano antes do acidente, quando mamãe
ouviu falar de teste muscular e trabalho de energia, ela desprezou ambos, dizendo que era autossugestão. – As pessoas querem um milagre – ela disse. – Engolem qualquer coisa que lhes dê esperança, que as leve a acreditar que estão melhorando. Mas mágica não existe. Nutrição, exercícios e um estudo meticuloso das propriedades das ervas, só isso funciona. Mas, quando está sofrendo, a pessoa não aceita que é só isso. Agora mamãe dizia que a cura era espiritual e sem limites. O teste muscular era uma espécie de oração, uma súplica divina, ela me explicou. Um ato de fé em que Deus falava por meio dos dedos dela. Em alguns momentos eu acreditava nessa mulher sábia com resposta para qualquer pergunta, mas não conseguia esquecer as palavras daquela outra mulher, aquela outra mãe, que também era sábia. Mágica não existe. Um dia mamãe anunciou que havia atingido outro nível. – Não preciso mais fazer a pergunta em voz alta. Basta pensar. Foi quando comecei a notar mamãe andando pela casa, passando a mão levemente sobre vários objetos e murmurando para si mesma enquanto flexionava ritmadamente os dedos. Se estava fazendo pão e esquecia quanta farinha já tinha colocado na massa. Clique, clique, clique. Se misturava óleos e esquecia se já havia adicionado o olíbano. Clique, clique, clique. Ela estava sentada para ler as escrituras durante trinta minutos e esquecia a que horas tinha começado. O teste muscular era feito. Clique, clique, clique. Mamãe passou a fazer o teste muscular compulsivamente, sem notar que estava fazendo, cada vez que ficava entediada com uma conversa, quando as ambiguidades de sua memória ou apenas a vida normal a
deixavam insatisfeita. Suas feições ficavam caídas, a expressão vaga e os dedos clicavam como grilos ao cair da noite. Papai estava impressionado. – Esses médicos aí não sabem qual é o problema só de encostar na gente – ele dizia, perplexo –, mas sua mãe sabe!
A lembrança de Tyler me perseguiu aquele inverno inteiro. Eu me recordava do dia em que ele tinha partido, como havia sido estranho ver o carro dele descendo a encosta, cheio de caixas. Nem podia imaginar onde ele estaria agora, mas às vezes pensava que talvez a faculdade não fosse ruim como papai pensava, porque Tyler era a pessoa menos má que eu conhecia e adorava a faculdade. Muito mais, pelo visto, do que nos amava. A semente da curiosidade fora plantada. Só precisava de tempo e tédio para germinar. Às vezes, tirando cobre de um radiador ou jogando o centésimo pedaço de aço na pilha, eu me pegava imaginando as salas de aula onde Tyler passava os dias. Meu interesse se intensificava a cada hora mortificante no ferro-velho, até o dia em que me ocorreu um pensamento bizarro: eu devia me matricular na escola pública. Mamãe sempre dizia que podíamos ir à escola se quiséssemos. Só era preciso pedir a papai. Então poderíamos ir. Mas não pedi. Havia algo nas linhas firmes do rosto de meu pai, em seu mudo suspiro de súplica toda manhã antes da prece com a família, que me levava a pensar que tal curiosidade era uma indecência, uma afronta a tudo o que ele sacrificava para me criar.
Fiz um certo esforço para manter o horário de estudo no tempo livre entre catar sucata e ajudar com as tinturas e óleos de mamãe. Nessa época, ela já não nos dava aulas em casa, mas ainda havia um computador e livros no porão. Achei o livro de ciências cheio de ilustrações coloridas e o livro de matemática do qual me lembrava de anos atrás. Encontrei até um livro de história verde desbotado. Mas quando me sentava para estudar quase sempre caía no sono. As páginas eram lustrosas e macias, parecendo ainda mais suaves depois das horas que eu passava no ferrovelho. Quando papai me via com um desses livros, tentava me afastar deles. Talvez estivesse se lembrando de Tyler. Talvez pensasse que, se eu conseguisse me ocupar em outras coisas por alguns anos, o perigo iria passar. Então inventou coisas para eu fazer, precisando ou não. Uma tarde, quando me pegou com o livro de matemática, ele e eu ficamos uma hora carregando baldes de água para regar as árvores frutíferas no campo, o que não seria nada estranho, só que foi durante uma tempestade. Mas, se papai queria evitar que os filhos ficassem interessados demais em escolas e livros – que fossem seduzidos pelos Illuminati, como Tyler fora –, teria sido melhor prestar mais atenção em Richard, que também deveria passar a tarde fazendo tinturas para mamãe, mas quase nunca fazia. Ele sumia. Não sei se mamãe sabia onde ele estava, mas eu sim. Toda tarde, Richard podia ser encontrado no porão escuro, enfurnado no pequeno espaço entre o sofá e a parede, com uma enciclopédia aberta diante dele. Se papai chegava de repente, apagava as luzes, resmungando sobre o gasto de eletricidade, e depois eu encontrava uma desculpa para descer e acender a luz lá de baixo. Se papai voltava, um rosnado dele ecoava pela
casa e mamãe tinha que ouvir um sermão sobre deixar luzes acesas em cômodos vazios. Ela nunca ralhou comigo, o que me faz pensar que ela sabia onde Richard estava. Se eu não conseguia descer de volta para acender a luz, Richard encostava o livro no nariz e lia no escuro, de tanto que queria ler. Ele chegava a esse ponto para ler a enciclopédia.
Tyler se fora. Mal havia sinal de que ele tinha morado na casa, exceto um: toda noite, depois do jantar, eu fechava a porta do meu quarto e puxava o pequeno aparelho de som de Tyler, guardado embaixo da cama. Eu havia arrastado a escrivaninha dele para o meu quarto e, enquanto ouvia o coro, me sentava nela e estudava, como o vira fazer em milhares de noites. Eu não estudava história nem matemática. E sim religião. Li duas vezes o Livro de Mórmon. Li rapidamente o Novo Testamento e, depois, uma segunda vez devagar, parando para fazer anotações, cruzar referências e até escrever um pequeno texto sobre doutrinas como fé e sacrifício. Ninguém lia esses textos. Escrevia para mim mesma, como imaginava que Tyler tinha estudado por si mesmo e para si mesmo. Estudei o Velho Testamento e depois li os livros de papai, que, na maior parte, eram compilações de palestras, cartas e diários dos primeiros profetas mórmons. Sua linguagem era do século XIX. Rígida, sinuosa, porém exata, e a princípio não entendi nada. Mas com o tempo ajustei os olhos e ouvidos e comecei a me sentir em casa com aqueles fragmentos da história do meu povo: histórias de pioneiros, meus ancestrais, lutando contra a natureza selvagem americana. As histórias eram vívidas, mas as palestras eram abstratas, tratados sobre obscuros temas filosóficos, e foi a
essas abstrações que dediquei a maior parte de meus estudos. Em retrospecto, vejo que essa foi minha formação, a que teve importância: as horas passadas a uma escrivaninha emprestada, tentando bravamente interpretar passagens estreitas da doutrina mórmon, imitando um irmão que me abandonou. O que aprendi foi crucial: a paciência para ler o que eu ainda não entendia.
Quando a neve começou a derreter na montanha, minhas mãos estavam rudemente calejadas. Uma estação passada no ferro-velho havia aguçado meus reflexos. Aprendi a distinguir o rosnado baixo que escapava dos lábios de papai quando ele jogava alguma coisa mais pesada, e quando ouvia, me deitava no chão. Passei tanto tempo deitada na lama que não salvei muita coisa. Papai dizia que eu era mole como melado subindo o morro. A lembrança de Tyler esmaeceu, e com ela a música, afogada pelo barulho de metal colidindo com metal. Agora era esse som que ficava na minha cabeça à noite, o tinido de metal corrugado, a batida rápida de fios de cobre, o troar do ferro. Entrei na nova realidade. Eu via o mundo pelos olhos de meu pai. Via os anjos, ou pelo menos imaginava que os via, olhando a gente mexer com a sucata, ajudando a pegar baterias de carros e partes de tubulação de aço que papai atirava no pátio. Parei de gritar quando papai as jogava. Em vez disso, eu rezava. Eu trabalhava mais depressa quando recolhia sucata sozinha, e certa manhã, em que papai estava no canto mais ao norte do pátio do ferro-velho, perto da montanha, fui para o canto mais ao sul, perto do pasto. Enchi uma
caçamba com uma tonelada de ferro e, com os braços doendo, fui chamar papai. Era preciso esvaziar a caçamba e eu não conseguia operar a máquina, uma enorme empilhadeira com braço telescópico e rodas maiores que eu. A empilhadeira levantava a caçamba a sete metros de altura e estendia o carregador para virá-la, de modo que o conteúdo deslizava e caía no reboque com um tremendo estrondo. O reboque era uma carroceria chata de 15 metros, apropriada para material pesado. Essencialmente era um balde gigantesco, com laterais de placas grossas de ferro com mais de dois metros de altura. Tinha capacidade para 15 ou vinte caçambas, ou cerca de 18 toneladas de ferro. Encontrei papai no campo acendendo fogo para queimar o isolamento de um emaranhado de fios de cobre. Falei que a caçamba estava cheia. Ele voltou comigo, subiu na empilhadeira e apontou para o reboque. – Vai caber mais se você arrumar o ferro depois de despejado. Pula aí para dentro. Não entendi. Ele queria descarregar o ferro comigo lá dentro? – Eu subo depois que você descarregar – eu disse. – Não, assim vai ser mais rápido. Eu paro quando a caçamba estiver nivelada com o reboque, para você sair. Aí você vai pela lateral e fica em cima da cabine até eu acabar de descarregar. Eu me equilibrei em cima de uma barra de ferro. Papai enfiou o carregador por baixo da caçamba, me levantou junto com a sucata e foi dirigindo a toda a velocidade para o reboque. Eu mal podia me segurar. Na última curva a caçamba balançou com tanta força que a ponta de um ferro voou em minha direção e penetrou em minha perna, dois dedos abaixo do joelho, entrando pelo tecido como uma faca na mateiga quente. Tentei puxar para fora, mas a carga
tinha balançado e o ferro estava parcialmente coberto. Ouvi o suave ronco da bomba hidráulica estendendo o carregador. O ronco parou quando a caçamba ficou nivelada com o reboque. Papai estava me dando tempo para subir na lateral do reboque, mas eu me encontrava presa. – Estou presa! – gritei, mas o rugido do motor era muito alto. Imaginei se papai iria esperar para virar a caçamba quando me visse em segurança sobre a cabine, mas eu já sabia que não. O tempo ainda o perseguia. A bomba hidráulica roncou de novo e a caçamba subiu mais dois metros. Posição de descarregar. Gritei de novo, mais alto dessa vez, e depois mais baixo, tentando achar um tom que penetrasse o zumbido do motor. A caçamba foi se virando, a princípio devagar, depois depressa. Estava presa perto da parte de trás. Eu me abracei ao fundo da caçamba, sabendo que assim teria uma borda onde me segurar quando ela ficasse na vertical. À medida que a caçamba se virava, a sucata da frente foi caindo pouco a pouco, um grande bloco de ferro se desmantelando. A ponta do ferro ainda enfiada na minha perna, me arrastando para baixo. Meus braços estavam escorregando e comecei a deslizar quando a ponta finalmente saiu da perna e caiu com um enorme fragor. Eu estava livre, mas despencando. Estiquei os braços, querendo agarrar alguma coisa que não estivesse caindo. Minha mão pegou a parte lateral da caçamba, que agora estava quase na vertical. Dei um impulso e icei o corpo para a borda, e continuei descendo. Como agora estava caindo pela lateral da caçamba, e não pela frente, eu esperava – rezava – que fosse cair no chão e não no reboque, que naquele momento era uma fúria de metal triturado. Afundei vendo apenas o céu azul, à espera
de sentir ou a punhalada do ferro cortante ou o baque na terra dura. Minhas costas bateram no ferro: a lateral do reboque. Meus pés passaram por cima da cabeça e continuei naquele mergulho desengonçado rumo ao solo. A primeira queda foi de dois metros e pouco; a segunda, de três. Foi um alívio sentir gosto de terra. Fiquei deitada talvez quinze segundos antes que o motor resfolegasse para o silêncio e ouvi os passos pesados de papai. – O que aconteceu? – ele falou, ajoelhando-se ao meu lado. – Eu caí. – Ofeguei. O ar tinha sido tirado de mim e havia um forte latejar nas costas, como se eu tivesse sido partida em duas. – Como você conseguiu fazer isso? – disse papai. Seu tom era solidário, mas desapontado. Me senti idiota. Eu devia ter conseguido, pensei. É uma coisa simples. Papai examinou o talho em minha perna, que tinha se rasgado mais quando o ferro caiu. Parecia uma caverna. O tecido havia afundado, sumido de vista. Papai tirou a camisa de flanela e pressionou contra minha perna. – Vá para casa. Sua mãe vai parar o sangramento. Fui mancando pelo pasto até papai não estar mais à vista e, então, desabei no chão. Eu tremia, sorvendo golfadas de ar que não chegavam aos pulmões. Não entendia por que chorava. Estava viva. Ficaria bem. Os anjos tinham me socorrido. Então por que eu não parava de tremer? Atravessei zonza o resto do campo e cheguei em casa, mas irrompi pela porta dos fundos como vira meus irmãos fazerem, como Robert e Emma também, gritando por mamãe. Quando ela viu as pegadas carmesins no linóleo, apanhou a homeopatia que usava para tratar hemorragia e
choque, batizada de Resgate, e pingou 12 gotas do líquido transparente, sem sabor, debaixo da minha língua. Pousou levemente a mão esquerda sobre o corte e cruzou os dedos da mão direita. Fechou os olhos. Clique, clique, clique. – Sem tétano – ela disse. – A ferida vai fechar. Vai acabar fechando. Mas vai deixar uma cicatriz feia. Ela me virou de bruços e examinou o hematoma – a escura mancha roxa do tamanho de uma cabeça humana – que se formara pouco acima da cintura. Tornou a cruzar os dedos e fechou os olhos. Clique, clique, clique. – Afetou os rins. Vamos fazer uma poção de zimbro e flor de verbasco.
O corte abaixo do joelho tinha formado uma casca escura e brilhosa, um rio negro fluindo pela pele rosada, quando tomei uma decisão. Escolhi um domingo, quando papai estava descansando no sofá, com a Bíblia aberta no colo. Fiquei de frente para ele por um tempo que me pareceu horas, mas, como ele não levantou os olhos, falei num arranco o que tinha vindo dizer: – Quero ir para a escola. Ele pareceu não ter escutado. – Eu orei e quero ir – eu disse. Por fim, papai olhou diretamente para a frente, o olhar fixo em algum ponto atrás de mim. O silêncio se instalou, com uma presença pesada. – Nesta família, obedecemos aos mandamentos do Senhor – ele disse. Pegou a Bíblia e seus olhos se contraíam enquanto ele pulava de linha em linha. Virei-me para sair, mas antes que chegasse à porta papai falou novamente:
– Lembra de Esaú e Jacó? – Lembro – respondi. Ele voltou à leitura, e eu saí em silêncio. Não precisei de explicação, sabia o que a história simbolizava. Significava que eu não era a filha que ele tinha criado, a filha de fé. Eu havia tentado vender meu direito de nascença por um prato de lentilhas.
Capítulo 7
O Senhor proverá
Era
um verão sem chuvas. O sol ardia no céu a tarde inteira, estorricando a montanha com um calor árido, desidratante. Toda manhã, quando atravessava o campo até o celeiro, eu sentia os talos de trigo-selvagem estalando e quebrando sob meus pés. Passei uma manhã dourada fazendo a homeopatia Resgate para mamãe. Eu pegava 15 gotas da fórmula básica – que ficava guardada no armário de costura de mamãe, onde não era mexida nem poluída – e adicionava a um frasco pequeno de água destilada. Depois eu fazia um círculo com o dedo indicador e o polegar e passava o frasco pelo círculo. Mamãe dizia que a força da homeopatia dependia de quantas vezes o frasco passava entre meus dedos, quantas vezes puxava minha energia. Em geral, eu parava em cinquenta. Papai e Luke estavam na montanha, no ferro-velho depois do pasto de cima, a uns quatrocentos metros da casa. Ficavam preparando carros para o compactador que papai tinha alugado para usar mais tarde naquela semana. Luke estava com 17 anos. Era magro, musculoso e muito sorridente quando ficava ao ar livre. Luke e papai drenavam
gasolina dos tanques. O compactador não levava carros com o tanque de gasolina porque havia risco de explosão, portanto todos os tanques tinham que ser esvaziados e retirados dos carros. Era um trabalho lento, de furar o tanque com martelo e formão, depois esperar a gasolina sair aos poucos para que o tanque fosse retirado em segurança, com um maçarico. Papai tinha inventado um jeito de acelerar o processo. Era uma enorme haste de dois metros e meio de puro ferro. Papai levantava o carro com a empilhadeira e Luke ficava orientando até o tanque do veículo ficar diretamente sobre a ponta da haste. Então papai baixava os braços da empilhadeira. Se tudo corresse bem, o carro ficava empalado, a gasolina jorrava do tanque e, escorrendo pelo espeto, caía num recipiente achatado que papai tinha soldado para coletá-la. Por volta do meio-dia, eles já haviam drenado entre trinta e quarenta carros. Luke tinha guardado gasolina em baldes de cinco galões, que foi levando para o recipiente de papai no pátio de ferro-velho. Numa das viagens, ele tropeçou e sua calça jeans ficou encharcada de gasolina. O sol do verão secou a calça em poucos minutos. Ele acabou de levar os baldes e foi para casa almoçar. Lembro daquele almoço com extrema clareza. Recordo do cheiro gorduroso do ensopado de carne com batatas, do tinido dos cubos de gelo caindo em copos altos que suavam no calor do verão. Lembro de mamãe me dizendo que eu estava encarregada da louça porque ela ia a Utah depois do almoço para dar consulta a uma parteira em uma gravidez complicada. Falou que talvez não voltasse até a hora do jantar, mas que havia hambúrguer no congelador. Lembro de rir uma hora inteira. Papai, deitado no chão da cozinha, fazia piada sobre um decreto passado recentemente em nossa cidadezinha de fazendeiros. Um
cachorro solto tinha mordido um menino e todo mundo ficou enfurecido. O prefeito decidiu limitar a posse de cães a dois por família, embora o cão atacante não pertencesse a ninguém. – Esses gênios socialistas – papai disse – morrem afogados olhando para a chuva se a gente não construir um telhado para eles. Ri muito, até minha barriga doer. Luke já havia esquecido a história da gasolina quando ele e papai voltaram à montanha com o maçarico, mas, quando ele prendeu o maçarico na cintura da calça e o acendeu, a pequena fagulha virou uma chama que engolfou toda a sua perna. A parte de que nos lembrávamos, que foi contada e recontada tantas vezes até virar um folclore da família, foi que Luke não conseguiu tirar seu jeans ensopado de gasolina. Naquela manhã, como em todas as outras, ele tinha amarrado a calça com um fio de sisal, que, por ser macio e escorregadio, precisa de um forte nó de cavalariço para se manter firme. Seu calçado também não ajudava: eram umas botas bulbosas com ponteira de aço, tão gastas que toda manhã ele as enrolava com fita adesiva, e à noite tirava com um canivete. Luke poderia ter cortado o sisal e as botas em questão de segundos, mas entrou em pânico e saiu correndo em disparada como um touro louco, espalhando fogo pelas sálvias e o trigo-selvagem ressecados e quebradiços pelo verão tórrido.
Eu tinha empilhado a louça suja e estava enchendo a pia da cozinha quando ouvi um grito estridente, entrecortado, que começou num tom e acabou em outro. Não havia dúvida de que era humano. Eu nunca ouvira um animal
berrar daquele jeito, com tantas flutuações de tom e diapasão. Corri lá para fora e Luke vinha andando estropiado no meio do capim. Gritou por mamãe e caiu. Foi aí que vi que a perna esquerda do jeans tinha sumido, desmanchada. Partes da perna estavam arroxeadas, vermelhas e sangrentas; outras, descoradas e mortas. Peles soltas como papel envolviam delicadamente sua coxa e a perna, como cera pingando de uma vela barata. Os olhos dele se reviraram. Corri como um raio para dentro de casa. Os frascos do Resgate já tinham sido guardados, mas a fórmula básica ainda estava no balcão. Eu os peguei rapidamente, corri para fora e despejei metade do frasco entre os lábios trêmulos de Luke. Não houve mudança. Os olhos dele estavam brancos como mármore. Uma íris marrom apareceu, depois a outra. Ele começou a murmurar e, depois, a berrar: “Está pegando fogo! Está pegando fogo!” Luke sentiu um arrepio forte e seus dentes batiam. Ele tremia. Eu tinha só 10 anos e, naquele momento, me senti muito criança. Luke era meu irmão mais velho. Achando que ele saberia o que fazer, agarrei-o pelos ombros e sacudi com força. – Tenho que esfriar ou esquentar você?! – gritei. A resposta dele foi um suspiro. O caso era de queimadura, pensei. Tinha que tratar primeiro daquilo. Peguei um saco de gelo no freezer, mas quando o encostei na perna ele gritou, um grito de arquear o corpo, olhos saltados, que fez meu cérebro grudar no crânio. Eu precisava achar outra maneira de resfriar a perna. Pensei em esvaziar o freezer e colocar Luke lá
dentro, mas o freezer só funcionava fechado, e ele iria sufocar. Percorri mentalmente a casa. Havia um latão de lixo, uma lata azul grande como uma baleia. Estava cheia de restos apodrecidos de comida, tão azedos que nós a guardávamos num armário fechado. Corri para dentro de casa, esvaziei o lixo no linóleo, reparando no rato morto que Richard tinha posto lá na véspera, carreguei a lata para fora de casa e a lavei com a mangueira. Eu sabia que precisava lavar melhor, talvez com detergente, mas vendo Luke naquele estado, se retorcendo no chão, achei que não havia tempo. Enxaguei os restos da gororoba do fundo e enchi o latão de água. Luke veio se arrastando para pôr a perna lá dentro quando ouvi um eco da voz de mamãe. Ela dizia a alguém que o maior perigo com queimaduras não era o tecido danificado, mas uma infecção. – Luke! – gritei. – Não! Não ponha a perna aí dentro! Ele me ignorou, e continuou se arrastando para o latão de lixo. Tinha um olhar frio e disse que nada importava a não ser o fogo subindo da perna para seu cérebro. Fui rápida. Entornei a lata de lixo, e uma grande onda de água desceu pelo capim. Luke fez um barulho de gargarejo, como se estivesse engasgado. Corri de volta à cozinha, achei os sacos plásticos que serviam para o latão e abri um para Luke enfiar a perna. Ele não se moveu, mas deixou que eu pusesse o saco sobre a carne viva. Endireitei a lata e pus a mangueira aberta dentro. Enquanto a lata enchia, ajudei Luke a se equilibrar num pé só e abaixar a perna queimada, agora embrulhada em plástico preto, dentro da lata. O ar da tarde era tórrido, a água iria esquentar rapidamente, então joguei lá dentro o saco de gelo.
Não demorou muito – vinte minutos, talvez trinta – para Luke recuperar a calma e ser capaz de se levantar. Nesse momento, Richard apareceu vindo do porão. A lata de lixo estava bem no meio da relva, a três metros de distância de qualquer sombra, e o sol batia forte. Cheia de água, a lata era pesada demais para carregarmos, e Luke se recusava a tirar a perna lá de dentro por um minuto que fosse. Peguei um sombreiro que vovó tinha trazido do Arizona. Luke ainda batia os dentes. Apanhei um cobertor de lã. E lá ficou ele, com o sombreiro na cabeça, o cobertor sobre os ombros e a perna enfiada na lata de lixo. Sua aparência era um meiotermo entre mendigo e turista. O sol esquentou a água. Luke começou a se mexer, desconfortável. Voltei ao freezer, mas não tinha mais gelo, só uns sacos de legumes congelados, que joguei na lata. O resultado foi uma sopa grossa com pedaços de cenoura e ervilhas. Lá pelas tantas papai veio andando para casa, não sei quanto tempo depois, abatido, com uma expressão de derrota no rosto. Agora mais calmo, Luke estava descansando, ou o mais próximo disso que podia, estando de pé. Papai rolou a lata de lixo para a sombra porque, apesar do chapéu, os braços e as mãos de Luke estavam vermelhos por causa do sol. Papai disse que o melhor a fazer era deixar a perna onde estava até mamãe chegar. O carro de mamãe apontou na rodovia por volta das seis. Fui ao encontro dela a meio caminho da subida e contei o que havia acontecido. Ela correu para Luke, dizendo que precisava ver a perna, e ele a levantou, pingando água. O saco plástico tinha grudado na carne viva. Mamãe não quis rasgar o tecido frágil, e cortou o plástico devagarinho, com cuidado, até a perna ficar visível. Tinha muito pouco sangue, e bolhas menos ainda, pois ambos precisam de
pele, e Luke quase não tinha. O rosto de mamãe ficou amarelo-cinzento, mas ela manteve a calma. Fechou os olhos, cruzou os dedos e perguntou em voz alta onde a ferida estava infeccionada. Clique, clique, clique. – Dessa vez você teve sorte, Tara – ela disse. – Mas onde estava a sua cabeça para pôr uma perna queimada numa lata de lixo? Papai carregou Luke para dentro de casa e mamãe pegou o bisturi. Papai e ela passaram todo o fim da tarde tirando a carne morta. Luke tentava não gritar, mas quando os dois remexiam e puxavam pedaços de pele, tentando ver onde a carne morta terminava e a viva começava, ele expirava golfadas de ar e as lágrimas escorriam de seus olhos. Mamãe untou a perna dele com pomada de verbasco e confrei, receita dela. Ela era boa em lidar com queimaduras – era sua especialidade –, mas dava para ver que estava preocupada. Disse que nunca tinha visto uma tão grave quanto a de Luke. Não sabia o que iria acontecer.
Mamãe e eu passamos a primeira noite ao lado da cama de Luke. Ele mal dormiu, delirante de febre e dor. Para a febre, pusemos gelo no rosto e no peito dele. Para a dor, lobélia, verbena e escutelária. Era outra receita de mamãe. Eu tinha tomado quando caí da caçamba, para aliviar a dor na perna enquanto o corte fechava, mas tanto quanto sei não adiantou nada. Eu acreditava que remédios de hospital eram uma abominação para Deus, mas, se tivesse morfina naquela noite, eu teria dado a Luke. A dor tirava até a respiração dele. Ele jazia na cama com poças de suor encharcando a testa e o peito, prendendo a respiração até ficar vermelho, depois roxo, como se privar o cérebro de oxigênio fosse a
única maneira de suportar um minuto mais. Quando a dor nos pulmões superava a da queimadura, ele soltava o ar num grito ofegante, um grito de alívio para os pulmões e de agonia para a perna. Na segunda noite fiquei sozinha com ele para mamãe poder descansar. Cochilei, acordando aos primeiros sons de agitação, à menor mudança de posição de Luke, para buscar gelo e tinturas antes que ele ficasse totalmente acordado e a dor tomasse conta. Na terceira noite, mamãe ficou com ele e eu parada na porta, ouvindo os arquejos dele, vendo mamãe vigiar Luke, a face dela encovada de preocupação e exaustão. Quando dormi, sonhei. Sonhei com o fogo que eu não tinha visto. Sonhei que era eu deitada na cama, meu corpo envolto por ataduras, mumificada. Mamãe estava ajoelhada no chão, ao meu lado, pressionando minha mão engessada como fazia com a de Luke, acariciando minha testa, rezando. Luke não foi à igreja naquele domingo, nem no outro, nem no seguinte. Papai nos mandou dizer que Luke estava doente. Disse que haveria problemas se o governo soubesse da perna queimada de Luke, que os policiais iriam nos levar embora. Iriam levar Luke para um hospital, onde a perna iria infeccionar e ele iria morrer. Passadas umas três semanas, mamãe anunciou que a pele em torno da queimadura tinha começado a se refazer e havia esperanças de recuperação até das partes piores. Luke já estava conseguindo se sentar e, uma semana depois, quando bateu o primeiro frio, ficava em pé por um ou dois minutos, apoiado em muletas. Pouco depois pulava num pé só pela casa, magro como um talo de feijão, comendo baldes de comida para recuperar o peso perdido.
Nessa ocasião, o fio de sisal já era parte da fábula da família. – Um homem deve ter um cinto de verdade – papai falou no café da manhã, quando Luke já estava bem para voltar ao ferro-velho, dando a ele um cinto de couro com fivela de aço. – O Luke, não – disse Richard. – Ele prefere sisal, gosta de estar na moda. Luke riu. – Beleza é tudo.
Passei
18 anos sem me lembrar daquele dia ou, pelo menos, sem atentar para explicações. As poucas vezes em que as reminiscências me levavam àquela tarde tórrida, eu só me lembrava do cinto e pensava: Luke, seu cachorro louco, você ainda usa cordão de sisal? Hoje, aos 29 anos, eu me sento para escrever, para reconstituir o incidente a partir dos ecos e gritos de uma memória cansada. Faço um esboço geral. Quando chego no fim, paro. Há uma inconsistência, um fantasma nessa lembrança. Leio. Releio. E lá está. Quem apagou o fogo? Uma voz há muito adormecida diz que tinha sido papai. Mas Luke estava sozinho quando o encontrei. Se ele estivesse com Luke na montanha, o teria trazido para casa e tratado da queimadura. Papai sempre estava trabalhando em algum lugar, e por isso Luke teve que descer a montanha sozinho? Por que a perna foi tratada por uma menina de 10 anos? Por que acabou enfiada numa lata de lixo?
Resolvi perguntar a Richard, que é mais velho que eu e tem uma memória mais afiada. Além disso, pelo que eu soube, Luke não tem mais telefone. Telefono para Richard. A primera coisa de que se lembra é do sisal, que, bem de acordo com sua natureza, ele chama de “material para enfardamento”. Depois se recorda da gasolina derramada. Pergunto como Luke conseguiu apagar o fogo e descer a montanha, pois estava em choque quando o encontrei. Papai estava com ele, Richard diz, sem entonação. Certo. Então por que papai não foi até em casa? Richard diz que foi porque Luke saiu correndo pelo mato, pondo fogo na montanha. Você se lembra daquele verão. Seco, estorricante. É muito fácil começar um incêndio florestal numa fazenda durante um verão seco. Então papai pôs Luke no caminhão e lhe disse para dirigir para casa e chamar mamãe. Só que ela não estava. Certo. Pensei nisso uns dias, depois me sentei para escrever. Papai está lá desde o começo, com suas piadas de socialistas, de cachorros e do telhado que não deixa os liberais se afogarem. Então papai e Luke sobem a montanha, mamãe sai, e eu encho a pia para lavar a louça. De novo. É assim pela terceira vez. Na montanha, alguma coisa acontece. Só posso imaginar, mas vejo claramente, mais do que se fosse uma lembrança. Os carros estão empilhados à espera, os tanques furados e drenados. Papai acena sobre uma pilha de carros e fala: “Luke, tira fora esses tanques aí!” Luke responde: “Tá bem, pai.” Ele apoia o maçarico no quadril e abre fogo. Chamas eclodem não se sabe de onde e o envolvem. Ele grita, se enrola tentando tirar o sisal, grita mais e sai correndo pelo
morro. Papai vai atrás e manda que ele pare. Provavelmente é a primeira vez em toda a sua vida que Luke não atende a uma ordem de papai. Luke é rápido, mas papai é esperto. Ele pega um atalho por trás de uma pirâmide de carros, agarra Luke e o atira ao chão. Não consigo imaginar o que acontece então porque ninguém me contou como papai apagou o fogo na perna de Luke. Então uma lembrança emerge, de papai naquela noite na cozinha se contraindo enquanto mamãe lambuza de pomada as mãos dele, que estão vermelhas, com bolhas, e sei o que ele deve ter feito. Luke não está mais pegando fogo. Tento imaginar o momento da decisão. Papai vê o mato rasteiro pegando fogo rapidamente, sedento das chamas do calor ardente. Olha para o filho. Acha que, se puder apagar as chamas enquanto estão pequenas, pode evitar um grande incêndio, talvez salvar a casa. Luke parece estar lúcido. Seu cérebro ainda não processou o que está acontecendo, a dor ainda não se instalou. O Senhor proverá, imagino papai pensando. Deus, deixe-o consciente. Imagino papai orando em voz alta, seus olhos voltados para o céu, carregando o filho para o caminhão e o colocando no banco do motorista. Papai engata a primeira, o caminhão começa a andar. Pega velocidade na descida, Luke está agarrado no volante. Papai salta do caminhão em movimento, cai violentamente no chão e rola, depois corre de volta ao fogo que está se espalhando e ficando mais alto. Entoando O Senhor proverá, tira a camisa e começa a bater para abafar as chamas.[2]
2 Depois de escrever esta história, falei com Luke sobre o incidente. Seu relato difere tanto do meu quanto do de Richard. Na lembrança de Luke, papai o levou para casa, administrou uma homeopatia para choque, depois o colocou em uma banheira com água fria e voltou para combater o fogo. Isso contesta minha lembrança e a de Richard. Bem, talvez nossas recordações estejam erradas. Talvez eu tenha encontrado Luke numa banheira, sozinho, e não no chão. O estranho é todos concordarem que, de algum modo, Luke foi parar no gramado da frente, com a perna numa lata de lixo.
Capítulo 8
Rameiras mirins
Eu queria ir embora do ferro-velho e só havia um meio para isso, que era fazer o que Audrey fez: arrumar um emprego. Assim, não estaria em casa quando papai viesse reunir a equipe. O problema era que eu tinha 11 anos. Percorri um quilômetro de bicicleta até o centro poeirento da nossa pequena cidade. Não havia muita coisa lá. Uma igreja, o correio e um posto de gasolina chamado Papa Jay’s. Fui ao correio. Atrás do balcão estava uma senhora cujo nome eu sabia que era Myrna Moyle, porque ela e o marido Jay (Papa Jay) eram os donos do posto de gasolina. Papai dizia que eles estavam por trás do decreto municipal limitando a posse de cachorros a dois por família. Tinham proposto outros decretos também, e todo domingo papai vinha da igreja para casa gritando que Myrna e Jay Moyle eram de Monterey ou Seattle ou sabe-se lá de onde, e achavam que podiam impor o socialismo da Costa Oeste ao bom povo de Idaho. Perguntei a Myrna se podia pôr um anúncio no painel. Ela indagou qual era o anúncio. Respondi que estava procurando um trabalho de babá. – A que horas você estará disponível?
– A qualquer hora. – Depois da escola? – Não, a qualquer hora mesmo. Myrna me olhou, inclinando a cabeça, e disse: – Minha filha, Mary, está precisando de alguém para tomar conta da caçula. Vou perguntar a ela. Mary dava aulas de enfermagem na escola. Papai dizia que era o auge da lavagem cerebral a que uma pessoa podia chegar, trabalhar para o sistema da medicina e para o governo ao mesmo tempo. Achei que talvez ele não me deixasse trabalhar para ela, mas concordou, e pouco depois passei a ser babá da filha de Mary toda segunda, quarta e sexta de manhã. Mary tinha uma amiga, Eve, que precisava de babá para seus três filhos nas terças e quintas. Pouco mais de um quilômetro descendo a estrada, um homem chamado Randy mantinha um negócio contíguo a sua casa, onde vendia castanhas-de-caju, amêndoas e macadâmias. Uma tarde, ele foi ao correio e comentou com Myrna que estava cansado de encaixotar as coisas sozinho, e gostaria de contratar uns garotos, mas todos estavam ocupados com futebol e bandas. – Tem pelo menos uma menina aqui que não está – disse Myrna. – E acho que ela é muito trabalhadeira. Ela apontou para o meu anúncio, e logo eu estava de babá de oito ao meio-dia de segunda a sexta, e depois ia encaixotar castanhas para Randy até a hora do jantar. Pagavam pouco, mas como eu nunca tinha recebido nada, parecia muito. Na igreja, as pessoas diziam que Mary tocava piano muito bem, lindamente. Usavam a palavra “profissional”. Eu não sabia o que significava até um domingo em que ela tocou um solo de piano para a congregação. A música me tirou o fôlego. Eu já ouvira piano muitíssimas vezes,
acompanhando hinos, mas, quando Mary tocou, o som não era aquela batida disforme. Era líquido, era ar. Era pedra num instante e no outro era vento. No dia seguinte, quando Mary chegou da escola, perguntei se em vez de dinheiro ela podia me pagar em aulas. Sentamos no banco do piano e ela me mostrou uns exercícios de dedos. Depois me perguntou o que mais eu estava aprendendo. Papai tinha me ensinado o que responder quando me perguntavam sobre a escola. – Tenho aula todo dia – eu disse. – Você encontra outras crianças? Tem amigos? – Claro – respondi, e Mary retomou a aula. Quando terminou, e eu estava pronta para ir embora, ela disse: – Minha irmã, Caroline, dá aulas de dança toda quartafeira nos fundos do Papa Jay’s. Tem muitas meninas da sua idade lá. Você pode participar. Naquela quarta-feira, saí mais cedo do Randy e pedalei até o posto. Eu estava de jeans, uma camiseta cinza enorme e botas com ponteira de aço. As meninas estavam de collant preto, sainha transparente brilhante, meia-calça branca e sapatilhas peroladas. Caroline era mais nova que Mary. Sua maquiagem era impecável, e argolas douradas nas orelhas cintilavam através de seus cachos castanhos. Ela nos dispôs em fileiras e demonstrou uma sequência curta. Num canto da sala, uma música tocava num aparelho de som portátil. Nunca tinha ouvido aquela música, mas as meninas a conheciam. Olhei para o espelho, vendo o reflexo das 12 meninas, magrinhas e refulgentes, fazendo piruetas em preto, branco e rosa. Depois me vi, gorda e cinza. Quando a aula terminou, Caroline me falou para comprar um collant e sapatos de dança. – Não posso – eu disse.
– Ah. – Ela ficou sem graça. – Talvez uma das meninas possa emprestar a você. Ela entendeu mal. Achou que eu não tinha dinheiro. – Não é decente – falei. Ela abriu a boca, surpresa. Esses Moyle da Califórnia, pensei. – Bem, você não pode dançar de botas. Vou conversar com sua mãe. Dias depois, mamãe me levou de carro a uma lojinha a sessenta quilômetros de distância, com prateleiras cheias de sapatos diferentes e roupas de acrílico esquisitas. Não tinha nada decente. Mamãe foi direto ao balcão, dizendo à vendedora que queria um collant preto, meia-calça branca e sapatilhas de jazz. – Guarde isso no seu quarto – mamãe disse quando saímos da loja. Não precisou dizer mais nada. Já sabia que não podia mostrar o collant a papai. Na quarta-feira vesti o collant e a meia-calça com a camiseta cinza por cima. A camiseta chegava quase aos meus joelhos, mas mesmo assim fiquei com vergonha de exibir tanto as pernas. Papai dizia que uma mulher direita não mostrava nem um pouco acima dos tornozelos. As meninas raramente falavam comigo, mas eu adorava estar com elas. Gostava da sensação de conformidade. Saber dançar era como aprender a se integrar. Eu decorava os movimentos e, ao fazer isso, entrava na mente delas, me abaixava quando se abaixavam, levantava os braços junto com elas. Às vezes via no espelho nosso emaranhado de formas rodopiantes, e não conseguia discernir de imediato quem era eu ali no meio. Não importava que eu estivesse com uma camiseta cinza, um ganso entre os cisnes. Nós nos movimentávamos juntas, um único bando.
Começamos a ensaiar para a apresentação de Natal, e Caroline chamou mamãe para falar sobre o figurino. – Qual vai ser o comprimento da saia? – mamãe perguntou. – E transparente? Não, não vai dar. Ouvi Caroline falar alguma coisa sobre o que as meninas queriam usar. – Tara não vai usar isso – mamãe falou. – Se as meninas forem assim, ela vai ficar em casa. Na quarta-feira, depois que Caroline chamou mamãe, cheguei mais cedo ao Papa Jay’s. A turma das mais novas tinha recém-terminado e o lugar estava cheio de meninas de 6 anos saltitando em torno das mães, com chapéus de veludo vermelho e sainhas cobertas de lantejoulas carmesim. Agitadas, pulavam pelos corredores, as perninhas finas cobertas apenas por meia-calça. A mim, elas pareciam rameiras mirins. As meninas da minha turma chegaram. Quando viram os trajes das outras, correram ao estúdio para ver o que Caroline tinha para elas. Caroline estava ao lado de uma caixa de papelão cheia de blusões de moletom largos, cinzentos. Ela começou a distribuir, dizendo: “Essas são suas roupas!” As meninas pegaram os blusões, e suas sobrancelhas se levantaram. Incrédulas. Esperavam fitas e chiffon, não aquela coisa sem graça. Caroline tinha tentado melhorar os blusões costurando um grande Papai Noel na frente, bordado com brilhos, mas isso só fazia o algodão fosco parecer mais opaco ainda. Mamãe não falou a papai sobre o recital, nem eu. Não pedi para ele ir. Havia um instinto agindo em mim, uma intuição. No dia do recital, mamãe disse a papai que eu tinha uma “coisa” à noite. Papai fez um monte de perguntas, o que surpreendeu mamãe, e ela acabou contando que era um recital de dança. Papai fez uma careta
quando mamãe disse que eu estava tendo aulas com Caroline Moyle, e achei que ele ia começar a falar sobre o socialismo da Califórnia, mas não. Pegou o casaco e nós três entramos no carro. O recital foi apresentado na igreja. Todo mundo estava lá, com câmeras de flash e poderosas filmadoras. Vesti o traje na mesma sala em que ia à escola dominical. As meninas conversavam alegremente. Vesti o casaco, tentando esticar a malha mais um pouquinho. Eu ainda estava puxando para baixo, para encompridar, quando nos posicionamos no palco. A música vinha de um aparelho de som estéreo sobre o piano e começamos a dançar, sapateando no ritmo. Depois tínhamos que saltar com as mãos para cima e rodopiar. Meus pés continuaram plantados no chão. Em vez de erguer os braços sobre a cabeça, levantei só até os ombros. Quando as meninas se abaixaram para dar um tapa no palco, só me inclinei; quando era para fazer uma estrela, só balancei, recusando que a gravidade cumprisse sua função e levantasse meu casaco mais acima nas pernas. A música terminou. As meninas me encaravam firmemente ao saírmos do palco – eu tinha estragado a apresentação –, mas eu mal as via. Somente uma pessoa ali parecia real para mim, e era papai. Procurei na plateia e o reconheci facilmente. Estava de pé lá atrás, com as luzes do palco se refletindo nos óculos quadrados. Sua expressão era firme, impassível, mas eu via a raiva ali. A volta para casa era de pouco mais de um quilômetro, mas pareceram cem. Sentada no banco traseiro, ouvia meu pai gritar. Como mamãe havia me deixado pecar tão abertamente? Foi por isso que tinha escondido dele o recital? Mamãe ouviu por um momento, mordendo o lábio, e
ergueu as mãos para o alto dizendo que não sabia que o traje era tão indecente. – Estou furiosa com Caroline Moyle! – exclamou. Eu me inclinei para ver o rosto de mamãe, querendo que ela olhasse para mim, para ver a pergunta que eu lhe fazia mentalmente, porque eu não entendia, não mesmo. Eu sabia que ela não estava furiosa com Caroline, pois tinha visto o casaco dias antes. Havia até agradecido a Caroline por ter escolhido um traje que eu podia usar. Mamãe virou o rosto para a janela. Olhei para os cabelos grisalhos na nuca de papai. Ele estava calado, ouvindo mamãe, que continuava a insultar Caroline, dizendo que os trajes eram indecorosos, obscenos. Papai concordava com acenos de cabeça enquanto sacolejávamos na estrada cheia de gelo, ficando cada vez menos zangado a cada palavra de mamãe. O resto da noite foi com sermão de papai. Disse que as aulas de Caroline eram uma tramoia de Satanás, assim como a escola pública, porque clamava ser uma coisa e era outra. Anunciava ensinar dança, mas ensinava indecência, promiscuidade. Satanás era astuto, papai disse. Chamando aquilo de “dança”, ele tinha convencido bons mórmons a aceitar a visão de suas filhas saltitando como putas na casa do Senhor. Esse fato ofendeu papai mais que qualquer outro: aquela exibição indecorosa ter acontecido na igreja. Depois de ter desabafado tudo e ido dormir, enfiei-me sob as cobertas e fiquei olhando o escuro. Uma batida à minha porta. Era mamãe. – Eu devia saber muito bem – ela disse. – Devia ter visto o que aquelas aulas realmente eram.
Mamãe
deve ter se sentido culpada depois do recital porque, nas semanas seguintes, procurou alguma outra coisa para eu fazer, algo que papai não proibisse. Reparou nas horas a fio que eu passava em meu quarto com o velho som de Tyler, ouvindo o Coro do Tabernáculo Mórmon, e então foi procurar uma professora de canto. Levou algumas semanas para achar, e outras tantas para convencer a professora a me aceitar. As aulas eram muito mais caras que as de dança, mas mamãe pagava com o dinheiro da venda de óleos. A professora era alta e magra, com longas unhas que clicavam voando pelas teclas do piano. Ela ajeitou minha postura, puxando meu cabelo pela nuca até eu encolher o queixo, depois me deitou de comprido no chão e pisou no meu estômago para fortalecer meu diafragma. Era obcecada com equilíbrio e ficava dando tapas nos meus joelhos para me lembrar de ficar de pé poderosamente, me apropriando do meu espaço. Após algumas aulas, anunciou que eu estava pronta para cantar na igreja. Já estava combinado, ela disse. No domingo eu iria cantar um hino para a congregação. Os dias passaram rápido, como ocorre quando a gente tem pavor de alguma coisa que vai acontecer. Domingo de manhã subi ao púlpito e encarei as pessoas lá embaixo. Lá estavam Myrna e Papa Jay, e, atrás deles, Mary e Caroline. Elas pareciam estar com pena de mim, como se achassem que eu poderia passar vergonha. Mamãe tocou a introdução. Fez uma pausa na música, era a hora de cantar. Devo ter tido milhares de pensamentos naquele momento. Devia ter pensado em minha professora e suas técnicas – postura ereta, costas retas, maxilar solto. Mas pensei em Tyler, em estar deitada
no tapete perto da escrivaninha dele, vendo seus pés calçados em meias de lã enquanto o Coro do Tabernáculo Mórmon cantava, trinava. Ele encheu minha cabeça com aquelas vozes, que para mim eram mais belas do que tudo, exceto Buck’s Peak. Os dedos de mamãe pairavam sobre as teclas. A pausa foi ficando esquisita, a congregação se remexia, desconfortável. Pensei nas vozes, em suas estranhas contradições, no jeito que faziam o som flutuar pelo ar, no som suave como um vento quente, mas que penetrava tão fundo. Busquei essas vozes, procurei em minha mente – e elas estavam lá. Nada jamais me parecera tão natural. Era como se eu pensasse o som, e pensando fazia acontecer. Mas nunca antes a realidade havia se rendido a meus pensamentos. A canção terminou e voltei ao nosso banco. Foi feita uma prece no encerramento do culto, e uma multidão me cercou. Mulheres em estampas florais sorrindo e me apertando as mãos, homens de ternos pretos cafonas me dando tapinhas nos ombros. O diretor do coro me convidou para participar do coral, o irmão Davis me chamou para cantar no Rotary Club e o bispo – equivalente mórmon a pastor – disse que gostaria que eu cantasse em funerais. Eu disse sim a todos eles. Papai sorria para todos. Não havia quase ninguém na igreja que ele não chamasse de gentio, ou por ir a médicos ou por mandar os filhos à escola pública, mas naquele dia papai pareceu esquecer tudo sobre o socialismo da Califórnia e os Illuminati. Ficou ao meu lado, com a mão em meu ombro, recebendo graciosamente os cumprimentos. – Somos muito abençoados – ele ficava dizendo –, muito abençoados.
Papa Jay atravessou a nave e parou em frente ao nosso banco. Disse que eu cantava como um anjo de Deus. Papai olhou para ele por um momento, depois seus olhos brilharam e ele apertou a mão de Papa Jay como se fossem velhos amigos. Eu nunca tinha visto aquele lado de papai, mas iria ver muitas vezes depois – cada vez que eu cantava. Por mais tempo que ele passasse trabalhando no ferro-velho, nunca estava cansado demais para dirigir até o vale e me ouvir cantar. Por mais amargos que fossem seus sentimentos por socialistas como Papa Jay, não eram mais tão severos, pois, desde que elogiassem minha voz, papai deixava de lado sua grande batalha contra os Illuminati pelo tempo suficiente para dizer “Sim, Deus nos abençoou, somos abençoados”. Era como se, quando eu cantava, papai esquecesse que o mundo era um lugar atemorizante que iria me corromper, e que eu tinha que ficar a salvo e protegida, em casa. Ele queria que minha voz fosse ouvida. O teatro da cidade iria apresentar uma peça, Annie, e minha professora falou que se o diretor me ouvisse cantar me daria o papel principal. Mamãe me advertiu para não criar muitas esperanças. Disse que não iríamos dar conta dos vinte quilômetros de carro quatro noites por semana para os ensaios, e mesmo que conseguíssemos, papai nunca permitiria que eu ficasse à noite sozinha na cidade, sabe-se lá com que tipo de gente. Mesmo assim eu ensaiava aquelas canções porque gostava. Uma noite estava em meu quarto cantando “The sun’ll come out tomorrow” quando papai chegou para jantar. Ele comeu seu pedaço de bolo de carne calado, ouvindo. – Vou arrumar o dinheiro – ele disse a mamãe quando foram dormir. – Você leve ela ao teste.
Capítulo 9
Perfeito em suas gerações
O verão em que cantei no papel principal de Annie foi o de 1999. Papai estava em um sério modo de preparação. Desde que eu tinha 5 anos e os Weaver estavam sob cerco ele não se mostrava tão certo da iminência dos Dias da Abominação. Papai chamava de Y2K.[3] Em 1º de janeiro, ele dizia, os sistemas de computador iriam cair no mundo inteiro. Não haveria eletricidade nem telefones. Tudo iria se afundar no caos, e isso indicaria a Segunda Vinda de Cristo. – Como você sabe o dia? – perguntei. Papai disse que o governo havia programado os computadores com um calendário de seis dígitos, o que significava que o ano tinha apenas dois dígitos. – Quando o nove-nove virar zero-zero, os computadores não vão saber que ano é. Vão se desativar. – Não conseguem consertar? – Não, não conseguem – disse papai. – O homem confiou em sua própria força, e sua força é fraca. Na igreja, papai avisava a todo mundo do Y2K. Aconselhou Papa Jay a colocar cadeados fortes no posto de gasolina e arrumar algumas armas para defesa.
– Aquela loja será a primeira a ser saqueada quando vier a fome – ele falou. Disse ao irmão Mumford que todo homem justo deveria ter, no mínimo, provisões para dez anos de comida, gasolina, armas e ouro. O irmão Mumford deu um assobio. – Não podemos todos ser tão justos quanto você, Gene. Alguns de nós são pecadores! – o irmão Mumford respondeu. Ninguém dava ouvidos a papai. Continuavam cuidando da vida ao sol do verão. Enquanto isso, minha família fervia e pelava pêssegos, descaroçava damascos e batia maçãs para fazer molho. Tudo era cozido na panela de pressão, lacrado, etiquetado e guardado no abrigo subterrâneo que papai tinha construído no campo. A entrada ficava escondida atrás de um pequeno monte. Papai me disse para nunca contar a ninguém. Um dia papai subiu na escavadeira e cavou um buraco junto ao celeiro velho. Depois, com a empilhadeira, arriou ali um tanque de mil galões, cobriu-o de terra com a pá e plantou cuidadosamente urtigas e cardos na terra fresca, para crescerem escondendo o tanque. Enquanto enterrava o tanque com a pá, assoviava “I Feel Pretty”, de Amor, sublime amor. Seu chapéu estava jogado para a nuca, e ele tinha no rosto um sorriso brilhante. – Seremos os únicos com gasolina quando vier O Fim – ele disse. – Vamos estar de carro quando todo mundo estiver gastando o sapato. Podemos até ir a Utah buscar Tyler.
Eu
tinha ensaios quase toda noite no Opera House de Worm Creek, um teatro dilapidado perto do único semáforo
da cidade. A peça era um outro mundo. Ninguém falava de Y2K. As interações das pessoas em Worm Creek não eram nada parecidas com as que eu estava habituada em minha família. Claro que eu tinha contato com pessoas fora da família, mas era gente como nós: mulheres que contratavam mamãe quando tinham bebê ou que vinham buscar ervas porque não acreditavam na medicina instituída. Eu tinha uma única amiga, chamada Jessica. Poucos anos antes papai havia convencido os pais dela, Rob e Diane, de que a escola pública era pouco mais do que um programa de propaganda do governo, e desde então eles a mantinham em casa. Antes de os pais de Jessica a tirarem da escola, ela era uma deles, e eu nunca tentei falar com ela. Depois, ela se tornou uma de nós. As crianças normais pararam de interagir com ela, e ela sobrou para mim. Nunca aprendi a falar com pessoas que não eram como nós – pessoas que iam à escola e ao médico. Que não estavam se preparando, todos os dias, para o Fim do Mundo. Worm Creek era cheia de gente assim, cujas palavras pareciam extraídas de outra realidade. Foi como me senti na primeira vez em que o diretor falou comigo. Como se ele se comunicasse de outra dimensão. Ele só disse “Procure o FDR”. Não me mexi. Ele tentou de novo: – Presidente Roosevelt. FDR. – Isso é como um JCB? Você precisa de uma empilhadeira? – perguntei Todo mundo riu. Decorei todo o meu texto, mas nos ensaios ficava sentada sozinha, fingindo estudar em meu fichário preto. Quando chegava minha vez no palco, eu falava o texto em voz alta e sem hesitação. Isso me dava uma certa
autoconfiança. Se eu não tinha nada a dizer, pelo menos Annie tinha. Uma semana antes da noite de estreia, mamãe tingiu meus cabelos castanhos de vermelho-cereja. O diretor disse que estava perfeito, agora só precisava terminar o figurino antes do ensaio geral no sábado. No porão de casa encontrei um suéter grandão, de tricô, manchado e meio esburacado, e um vestido azul bem feio que mamãe havia tingido de marrom desbotado. O vestido era perfeito para uma pobre órfã, e senti alívio por tê-lo achado com tanta facilidade, mas só até me lembrar que no segundo ato Annie aparece com vestidos lindos que papai Warbucks compra para ela. Eu não tinha nada daquilo. Falei com mamãe, e seu rosto se abateu. Percorremos uns cem quilômetros de carro, parando em todas as lojas de segunda mão pelo caminho, e não achamos nada. No estacionamento da última loja, mamãe cerrou os lábios e disse: – Ainda tem um lugar que podemos tentar. Fomos à casa da tia Angie e paramos em frente à cerquinha branca que ela dividia com vovó. Mamãe bateu à porta, deu um passo atrás e ajeitou os cabelos. Angie ficou surpresa ao nos ver – mamãe raramente visitava a irmã –, mas nos recebeu com um sorriso caloroso e nos convidou a entrar. A sala de estar me lembrava saguões de hotel de luxo que eu via em filmes, cheia de rendas e seda. Sentamos num sofá pregueado rosa pálido e mamãe contou por que havíamos vindo. Angie disse que a filha dela tinha alguns vestidos que talvez servissem. Mamãe ficou esperando no sofá rosa enquanto Angie me levava ao quarto da filha, no andar de cima, onde pegou uma braçada de vestidos, cada um mais fino que o outro, com intricados entremeios de rendas e laços tão delicados
que a princípio fiquei com medo de tocar neles. Angie me ajudou a experimentar cada um, abotoando, ajeitando as faixas e afofando os laços. – Acho que você deve levar esse – ela disse, me dando um vestido azul-escuro com passamanaria branca no corpete. – Foi sua avó quem costurou esse detalhe. Peguei o vestido e mais um, de veludo vermelho e gola de renda branca, e mamãe e eu fomos para casa. A peça estreou uma semana depois. Papai estava na primeira fila. Assim que terminou, ele foi direto ao guichê e comprou entradas para a apresentação seguinte. Domingo, na igreja, ele não falou de outra coisa. Nada de médicos, de Illuminati, nem de Y2K. Só da peça na cidade, em que a filha mais nova dele estava cantando no papel principal. Papai não me proibiu de ir ao teste para a próxima peça, nem para a seguinte, embora se preocupasse por eu passar tanto tempo fora de casa. – Não se sabe que tipo de cabrioleiras acontece naquele teatro – ele disse. – Deve ser um antro de adultério e fornicação. Quando o diretor da peça seguinte se divorciou, confirmou as suspeitas de papai. Disse que não tinha me afastado da escola pública aqueles anos todos para me ver corrompida no teatro. Depois me levou ao ensaio. Quase toda noite ele falava que ia pôr um fim naquilo, que uma noite daquelas ia chegar de surpresa em Worm Creek e me levar para casa. Mas cada vez que uma peça estreava ele estava lá, na primeira fila. Às vezes ele fazia papel de agente ou empresário, corrigindo minha técnica, sugerindo canções para meu repertório e até me dando conselhos sobre saúde. Naquele inverno tive uma sucessão de dores de garganta e não pude
cantar. Uma noite papai me mandou abrir a boca para ver minhas amídalas. – Estão muito inchadas mesmo – ele disse –, do tamanho de um abricó. Quando mamãe não conseguiu que desinchassem com equinácea e calêndula, papai sugeriu seu remédio. – As pessoas não sabem que o remédio mais forte é o sol, mas é por isso que elas não ficam com garganta inflamada no verão. Ele balançou com a cabeça, aprovando a própria lógica, e continuou: – Se eu tivesse amídalas como as suas, iria lá para fora toda manhã e ficaria de boca aberta de frente para o sol. Deixe os raios penetrarem por uma hora mais ou menos. Vão desinchar rapidinho. Ele chamava isso de tratamento. Fiz durante um mês. Era desconfortável ficar com o queixo caído para a frente e a cabeça caída para trás para que o sol brilhasse em minha garganta. Nunca cheguei a ficar meia hora. Meus maxilares começavam a doer em dez minutos, e parada ali, imóvel, eu quase congelava no frio do inverno de Idaho. Continuei a ter dores de garganta, e cada vez que papai notava que eu estava um pouco rouca, dizia: – Também, o que você esperava? Há uma semana que não vejo você fazer o tratamento!
Foi
no Opera House de Worm Creek que eu o vi pela primeira vez: um garoto que eu não conhecia, rindo com um grupo de crianças da escola pública, com grandes sapatos brancos, short cáqui e um largo sorriso. Ele não estava na peça, mas não havia muito o que fazer na cidade, e eu o vi
muitas vezes mais naquela semana, quando ele aparecia para visitar os amigos. Uma noite eu estava perambulando sozinha pelos bastidores escuros e, quando contornei uma quina, o encontrei sentado no caixote de madeira que era meu refúgio favorito. O caixote ficava num lugar isolado, e por isso eu gostava dele. Ele chegou para o lado, dando espaço para mim. Sentei devagar, tensa, como se o caixote fosse feito de agulhas. – Sou Charles – ele disse. Houve uma pausa enquanto ele esperava que eu dissesse meu nome, mas eu não disse. – Vi você na última peça – ele falou, passado um momento. – Quero lhe dizer uma coisa. Fiquei preparada, não sei bem para quê, e ele falou: – Queria lhe dizer que sua voz é a melhor que já ouvi.
Uma
tarde, chegando em casa depois de empacotar macadâmias, encontrei papai e Richard em volta de uma grande caixa de metal que eles tinham carregado para a mesa da cozinha. Enquanto mamãe e eu fazíamos bolo de carne, eles retiravam e montavam o conteúdo. Durou mais de uma hora, e quando acabaram de juntar as peças ficaram admirando algo parecido com um enorme telescópio verde-oliva, com um cano comprido assentado firmemente sobre um pequeno tripé largo. Richard estava tão entusiasmado que pulava de um pé para o outro, enumerando o que aquilo podia fazer. – Tem alcance de mais de um quilômetro! Pode derrubar um helicóptero! Papai ficou parado, os olhos brilhando. – O que é isso? – perguntei. – É um rifle calibre 50. Quer experimentar?
Olhei pelo visor a encosta da montanha, fazendo mira nos talos de trigo a distância. O bolo de carne ficou totalmente esquecido. Fomos todos lá para fora. Foi depois do pôr do sol, o horizonte estava escuro. Papai se agachou no chão congelado, posicionou o olho no visor e, depois do que pareceu uma hora se passando, apertou o gatilho. Foi um estrondo de trovão. Tapei os ouvidos com as mãos, mas tirei depois do primeiro estrondo, ouvindo o eco do tiro nas ravinas. Ele atirou várias vezes. Quando entrei em casa, meus ouvidos estavam retinindo. Mal pude ouvir a resposta de papai quando perguntei para que servia a arma. – Defesa – ele disse. Na noite seguinte eu tinha ensaio em Worm Creek. Estava sentadinha no meu caixote, ouvindo o monólogo que fluía no palco, quando Charles apareceu e se sentou ao meu lado. – Você não vai à escola – ele disse. Não era uma pergunta. – Você devia ir ao coro. Você ia gostar. – Talvez – respondi, e ele sorriu. Uns amigos dele chegaram aos bastidores e o chamaram. Ele se levantou, se despediu e fiquei olhando Charles junto com eles, reparando o jeito fácil com que se comunicavam com brincadeiras, e fantasiei uma realidade alternativa em que eu era uma deles. Imaginei Charles me convidando à casa dele, para um jogo ou ver um filme, e senti uma onda de prazer. Mas quando imaginei Charles indo ao Buck’s Peak senti outra coisa, algo como pânico. E se ele descobrisse o abrigo subterrâneo? E também o tanque de gasolina? Foi então que finalmente entendi para que era o rifle. Aquele cano longo, com alcance da montanha para o vale, cobria um perímetro defensivo de nossa casa, de nossos
suprimentos, porque papai disse que estaríamos de carro quando todo mundo estaria andando a pé. Teríamos comida quando todo mundo estaria passando fome, saqueando tudo. Imaginei Charles subindo a encosta para nossa casa. Mas em minha imaginação eu estava no alto da montanha, vendo sua aproximação pela mira do rifle.
Naquele
ano, o Natal foi parco. Não éramos pobres, o negócio de mamãe ia bem e papai continuava com a sucata, mas tudo foi gasto em suprimentos. Antes do Natal, continuamos os preparativos como se qualquer ação, qualquer aquisição para os estoques, por menor que fosse, pudesse fazer a diferença entre sobreviver ou não. Depois do Natal, esperamos. – Quando a hora da necessidade chegar – papai dizia –, o tempo da preparação terá acabado. Os dias se arrastavam, e 31 de dezembro chegou. Papai estava calmo no café da manhã, mas por baixo de sua tranquilidade eu sentia uma empolgação, uma ansiedade. Ele tinha passado muitos anos esperando, enterrando armas, estocando comida e dizendo aos outros que fizessem o mesmo. Todos na igreja haviam lido as profecias, sabiam que os Dias da Abominação estavam chegando. Mas ainda assim riam de papai, faziam piadas. Quando a noite chegasse, ele iria mostrar que tinha razão. Depois do jantar, papai passou horas estudando Isaías. Lá pelas dez da noite, ele fechou a Bíblia e ligou a TV, que era nova. O marido de tia Angie trabalhava numa firma de TV por satélite e propôs a papai uma assinatura. Ninguém acreditou quando ele aceitou, mas, em retrospecto, era totalmente característico de papai passar, em um mesmo dia, de nada de TV nem rádio para TV a cabo. Às vezes me
perguntava se papai tinha aceitado a TV naquele ano especificamente porque sabia que tudo iria desaparecer em janeiro. Talvez quisesse nos dar um gostinho do mundo antes que sucumbisse. O programa preferido de papai era The Honeymooners, e naquela noite havia um especial, com episódios anteriores. Assistimos, esperando O Final. Fiquei olhando o relógio a cada minuto das dez até as 11 horas, e depois a cada segundo, até a meia-noite. Até papai, que raramente se mexia para alguma coisa além de si mesmo, olhava para o relógio. 11:59. Prendi o fôlego. Mais um minuto, e tudo se acabaria. Então deu meia-noite. A TV continuava falando, e suas luzes dançando no tapete. Me perguntei se nosso relógio não estava adiantado. Fui à cozinha, abri a torneira. Tinha água. Papai continuou lá parado, com os olhos grudados na tela. Voltei para o sofá. 12:05. Quanto tempo levaria até acabar a eletricidade? Será que tinha uma reserva para continuar por mais esse tempinho? Os espectros em preto e branco de Ralph e Alice Kramden em The Honeymooners continuavam discutindo sobre um bolo de carne. 12:10. Fiquei esperando a tela da TV piscar e se apagar. Aguardava ansiosamente para ver tudo daquele último momento espetacular da intensa luz amarela, do ar quente saindo do aquecedor. Sentia nostalgia pela vida que tínhamos antes e que perderíamos em segundos, a qualquer momento, quando o mundo começasse a se consumir.
Quanto mais eu ficava imóvel, respirando profundamente, tentando inalar a última fragrância do mundo que se acabava, mais me ressentia de sua solidez. A nostalgia foi se tornando fadiga. Por volta de 1:30, fui dormir. A caminho do quarto, ainda vi a cara imóvel de papai no escuro, com a luz da TV pulando nas lentes de seus óculos quadrados. Ficou lá sentado parecendo fazer pose, sem agitação, sem constrangimento, como se houvesse uma perfeita explicação banal para que ele estivesse ali sozinho, quase às duas da madrugada, assistindo a Ralph e Alice Kramden preparando uma festa de Natal. Ele me pareceu menor do que era de manhã. A decepção em seu rosto era tão infantil que por um momento me perguntei por que Deus tinha negado aquilo a ele, um servo devoto, que aceitou sofrer tanto quanto Noé na construção da arca. E Deus não mandou o dilúvio. 3 Y2K: ano 2000, com anúncios de desastres para a virada do milênio. (N. da T.)
Capítulo 10
Precária proteção
Quando
1º de janeiro amanheceu como qualquer outro dia, deixou papai arrasado. Nunca mais falou em Y2K. Entrou em desânimo e prostração, se arrastando do ferrovelho para casa todas as noites, silencioso e pesado. Passava horas na frente da TV, rodeado por uma nuvem negra. Mamãe disse que era hora de irmos de novo ao Arizona. Luke estava em missão pela igreja, portanto somente eu, Richard e Audrey nos apertamos na van Chevy Astro, bem velha, que papai tinha consertado. Papai retirou os bancos, deixando apenas os dois da frente, para dar espaço a um colchão de casal, onde se instalou e não se mexeu até o fim da viagem. Assim como anos atrás, o sol do Arizona reavivou papai. Ele se deitou no cimento duro da varanda e lá permaneceu, encharcando o chão com suor, enquanto nós ficávamos lendo ou vendo TV. Após alguns dias, ele começou a se recuperar, e nos preparamos para as fortes discussões dele com vovó. Ela estava indo a vários médicos porque tinha câncer na medula.
– Esses médicos só servem para matar você mais depressa – papai disse uma noite quando vovó chegou em casa depois de uma consulta. Vovó se recusou a interromper a quimioterapia, mas consultou mamãe sobre o tratamento com ervas. Mamãe havia trazido algumas com ela, na esperança de vovó pedir, e vovó experimentou banhos de argila vermelha nos pés, canecas de chá de salsa-amarga, tinturas de cavalinha e hidrângea. – Essas ervas não vão adiantar nada – papai disse. – As ervas só funcionam com fé. Você não pode ter fé no médico e pedir ao Senhor para te curar. Vovó não disse uma palavra e continuou tomando o chá de salsa. Lembro de ficar olhando vovó, procurando sinais de enfraquecimento do corpo. Eu não via nenhum. Era a mesma mulher tensa, imbatível. O resto da viagem está embaçado em minha memória, deixando apenas instantâneos de mamãe fazendo teste muscular com remédios para vovó, de vovó em silêncio ouvindo papai falar, de papai esparramado sob o sol quente. Depois estou em uma rede na varanda dos fundos, balançando preguiçosamente à luz alaranjada do pôr do sol no deserto, e Audrey chega dizendo que papai mandou pegarmos as bagagens, estamos indo embora. Vovó não pôde acreditar. – Depois do que aconteceu na última vez?! – ela grita. – Você vai dirigir a noite inteira de novo? E a tempestade? Papai diz que vamos vencer a tempestade. Enquanto carregamos a van, vovó anda pra lá e pra cá praguejando. Diz que papai não aprendeu droga nenhuma. Richard dirige nas primeiras seis horas. Fico deitada no colchão com papai e Audrey.
São três da madrugada e estamos indo do sul para o norte de Utah, quando o tempo muda do frio seco do deserto para neves geladas de um inverno alpino. O gelo toma conta da estrada. Flocos de neve piscam no para-brisa como insetos minúsculos, poucos a princípio, depois tantos que a estrada desaparece. Avançamos para o coração da tormenta. A van derrapa e sacoleja. O vento é furioso, lá fora é tudo branco. Richard para no acostamento. Fala que não pode continuar. Papai pega o volante, Richard vai para o banco do carona e mamãe se deita no colchão comigo e com Audrey. Papai volta para a estrada e acelera, rapidamente, como se quisesse mostrar que tem razão, até chegar ao dobro da velocidade de Richard. – Não é melhor ir mais devagar? – mamãe pergunta. Papai dá um risinho. – Eu não estou indo mais rápido do que os nossos anjos voam. A van continua acelerando. Vai a oitenta, depois quase cem. Richard está tenso, as mãos apertando tanto o descanso do braço que os nós dos dedos ficam brancos a cada derrapada. Mamãe está deitada de lado com o rosto junto ao meu, engolindo em seco cada vez que a van rabeia, prendendo o fôlego enquanto papai corrige e retoma a pista, serpenteando. Ela está tão rígida que poderia se quebrar, penso. Meu corpo fica tenso junto com o dela, nos preparamos umas cem vezes para um impacto. Quando a van sai da estrada, é um alívio.
Acordei
na escuridão. Alguma coisa gelada corria pelas minhas costas. Estamos num lago!, penso. Algo pesado está
em cima de mim. O colchão. Tentei empurrar, não consegui, fui engatinhando por baixo dele, com as mãos e os joelhos no teto da van, que tinha capotado. Cheguei a uma janela quebrada. Estava cheia de neve. Então entendi: não era um lago, era um campo. Me arrastei por entre o vidro quebrado e fiquei em pé, vacilante. Não conseguia me equilibrar. Olhei em volta, mas não vi ninguém. A van estava vazia. Minha família tinha sumido. Andei duas vezes em volta do carro quebrado até que vi a silhueta encurvada de papai a distância. Chamei por ele, e ele chamou os outros, que estavam espalhados pelo campo. Papai veio andando sob a nevasca com dificuldade, e, ao passar por um resto de farol da van, reparei que tinha um corte de uns 15 centímetros no braço e o sangue escorria pela neve. Depois me disseram que fiquei algum tempo inconsciente, escondida pelo colchão. Gritaram meu nome. Como não respondi, acharam que eu tinha sido atirada da van pela janela quebrada e saíram à minha procura. Todos voltaram para perto da van capotada, desajeitados, tremendo ou de frio ou de choque. Não olhamos para papai, não queríamos acusá-lo. A polícia chegou, depois a ambulância. Não sei quem chamou. Eu não lhes disse que tinha perdido a consciência por medo de me levarem ao hospital. Sentei junto com Richard no carro da polícia, enrolada numa manta térmica igual à que eu tinha nos apetrechos “para a montanha”. Ficamos ouvindo o rádio da viatura enquanto os policiais perguntavam a papai por que não havia registro nem seguro da van, e por que ele tinha tirado os bancos e os cintos de segurança. Estávamos longe do Buck’s Peak. Os policiais nos levaram para a delegacia mais próxima. Papai ligou para Tony, mas
Tony estava dirigindo uma carreta. Tentou falar com Shawn. Nenhuma resposta. Mais tarde ficamos sabendo que Shawn estava passando a noite na cadeia por causa de uma briga qualquer. Sem conseguir falar com os filhos, papai ligou para Rob e Diane Hardy, porque mamãe tinha feito o parto de cinco dos oito filhos deles. Rob chegou poucas horas depois, dando sermão: – Ora, vocês já quase não se mataram da última vez?
Dias depois do acidente, meu pescoço retesou. Acordei de manhã e ele não se mexia. Não doía, pelo menos no começo, mas, por mais que eu me concentrasse em virar a cabeça, o pescoço não se mexia mais do que alguns centímetros. A paralisia se espalhou para baixo, até eu sentir como se houvesse um ferro por toda a extensão das minhas costas e penetrando no cérebro. Quando eu não conseguia mais me inclinar para a frente e nem virar a cabeça, a dor apareceu. Sentia uma dor de cabeça constante, incapacitante, e não conseguia ficar em pé sem me apoiar em alguma coisa. Mamãe ligou para uma especialista em energia, chamada Rosie. Eu estava deitada na cama, como estivera nas duas últimas semanas, quando ela apareceu na porta do quarto, fora de foco e distorcida como se eu a visse através de uma poça de água. Tinha uma voz aguda, animada. Disse para eu me imaginar totalmente saudável, protegida por uma bolha branca. Dentro dela eu teria que pôr todos os objetos que amava, todas as cores que faziam me sentir em paz. Visualizei a bolha, me imaginei no centro, capaz de ficar em pé, de correr. Atrás de mim estavam um templo mórmon e
Kamikaze, o bode de Luke, falecido há muito tempo. Um brilho verde iluminava tudo. – Imagine a bolha durante algumas horas todo dia – ela disse – e você ficará curada. Deu um tapinha em meu braço e ouvi a porta se fechar quando ela saiu. Eu imaginava a bolha toda manhã, tarde e noite, mas meu pescoço continuava imóvel. Aos poucos, no decorrer de um mês, fui me acostumando com a dor de cabeça. Aprendi a me levantar, depois a andar. Usava os olhos para me manter ereta; se eu os fechava por um momento, o mundo revirava e eu caía. Voltei a trabalhar com Randy e, de vez em quando, no ferro-velho. E toda noite eu dormia imaginando a bolha verde.
Durante o mês que passei na cama, ouvi outra voz. Eu me lembrava da voz, mas já não era familiar. Havia seis anos que eu não ouvia aquela gargalhada maliciosa ecoando no hall. Pertencia ao meu irmão Shawn, que tinha brigado com papai aos 17 anos, saído de casa e arrumado empregos variados, principalmente dirigindo caminhão e trabalhando com soldas. Veio porque papai tinha pedido ajuda a ele. De minha cama ouvi Shawn dizer que só ficaria até papai contratar uma equipe de verdade. Estava apenas fazendo um favor até papai se recuperar. Era esquisito encontrar em casa aquele irmão que era quase um estranho para mim. As pessoas na cidade pareciam conhecê-lo melhor que eu. Eu ouvia rumores sobre ele em Worm Creek. Diziam que era um problema, um brigão, não prestava, que estava sempre perseguindo ou sendo perseguido por bandidos de Utah e até de mais
longe. Diziam que ele levava um revólver escondido no corpo ou em sua enorme motocicleta preta. Uma vez alguém disse que Shawn não era realmente mau, que sempre entrava em brigas porque tinha fama de ser invencível – porque conhecia tudo de artes marciais, porque lutava como um homem que não sente dor –, e por isso todo drogado metido a valentão no vale achava que podia ficar famoso se o vencesse. Na verdade, não era culpa de Shawn. Ao ouvir essas histórias, ele aparecia em minha mente mais como uma lenda do que como um ser vivo. Minha lembrança pessoal de Shawn começa na cozinha, talvez dois meses depois do segundo acidente. Estou fazendo sopa de milho. A porta range, eu me viro para ver quem é, e depois volto a picar uma cebola. – Você vai ser um picolé ambulante pelo resto da vida? – ele pergunta. – Eu não. – Você precisa de um quiroprático. – Mamãe vai resolver isso. – Você precisa de um quiroprático – ele repetiu. A família almoça e se dispersa. Começo a lavar a louça. Minhas mãos estão mergulhadas na água quente cheia de sabão quando escuto passos atrás de mim e sinto mãos grossas e calosas envolvendo meu crânio. Antes que eu possa reagir, ele puxa minha cabeça com um movimento rápido, selvagem. CRACK! É tão alto que tenho certeza de que ele está segurando minha cabeça arrancada. Meu corpo se dobra, eu caio. Tudo fica escuro, porém girando. Quando abro os olhos momentos depois, suas mãos estão me segurando por baixo dos braços, me mantendo ereta. – Pode levar algum tempo até você conseguir ficar de pé – ele disse. – Mas, quando conseguir, eu preciso fazer do outro lado.
Eu estava tonta demais, enjoada demais, para que o efeito fosse imediato. Mas, no correr da noite, observei pequenas mudanças. Consegui olhar para o teto. Pude inclinar a cabeça para implicar com Richard. Sentada no sofá, pude me virar para sorrir para a pessoa ao meu lado. Essa pessoa era Shawn. Eu estava olhando para ele, mas não o via. Não sei quem eu estava vendo – qual criatura eu evocava por aquele ato violento, caridoso –, mas acho que era meu pai, ou talvez como eu desejava que ele fosse, o defensor sempre almejado, o herói fantástico que nunca me empurraria para o meio de uma tempestade e que, se eu estivesse machucada, iria cuidar de mim.
Capítulo 11
Instinto
Quando
vovô-lá-de-baixo era jovem, havia rebanhos de gado espalhados pela montanha, tocados por homens a cavalo. Os cavalos do curral de vovô tinham fama de fabulosos. Aptos a enfrentar qualquer tempo, moviam o corpo forte delicadamente, como se guiados pelos pensamentos do cavaleiro. Pelo menos, era o que me contavam. Nunca os vi. Quando vovô ficou velho, cada vez tinha menos criação de gado e mais plantação, até que um dia largou a plantação também. Como não precisava mais de cavalos, vendeu os melhores e deixou os outros soltos. Eles se multiplicaram, e quando eu nasci havia um grande rebanho de cavalos selvagens na montanha. Richard os chamava de cavalos para ração canina. Uma vez por ano, Luke, Richard e eu ajudávamos vovô a recolher uns dez ou doze para um leilão na cidade, onde eram vendidos para abate. Às vezes, vovô ia examinar o pequeno rebanho assustadiço destinado ao moedor de carne, observava a andadura dos jovens garanhões, se acostumando a sua primeira captura, e uma fome surgia nos olhos dele. Ele apontava para um e dizia:
– Não leva esse aí não. Esse aí nós vamos domar. Mas cavalos selvagens não se submetem facilmente, nem a um homem como vovô. Meus irmãos e eu passávamos dias, às vezes semanas, ganhando a confiança do cavalo até poder tocar nele. Então a gente alisava o focinho comprido e, gradualmente, depois de mais algumas semanas, passava a mão pelo longo pescoço até chegar ao lombo musculoso. Depois de um mês nessa aproximação, quando íamos selar, o cavalo agitava a cabeça de repente e com tamanha violência que estalava o cabresto ou arrebentava as rédeas. Uma vez um grande alazão quebrou a cerca do curral, atravessou como se ela não existisse e saiu do outro lado todo machucado e sangrando. Tentávamos não dar nomes a essas feras que esperávamos domesticar, mas tínhamos que nos referir a elas de algum modo. Escolhíamos nomes descritivos, não sentimentais: Vermelhão, Égua Preta, Gigante Branco. Fui atirada de dezenas desses cavalos, que escoiceavam, empinavam, pinoteavam, saltavam. Caí no chão em centenas de posições esparramadas, e cada vez me levantava num instante e saía correndo para trás de uma árvore, de um trator ou cerca, buscando proteção caso o cavalo fosse vingativo. Nunca triunfamos. Nossa força de vontade acabava muito antes da deles. Só alguns não se empinavam à vista de uma sela, e uns poucos toleravam um humano montado neles dando voltas pelo curral, mas nem vovô se atrevia a cavalgar num desses na montanha. A natureza deles não havia mudado. Eram impiedosos, avatares poderosos de outro mundo. Montar neles era se render, era entrar no domínio deles. Era arriscar ser levado embora. O primeiro cavalo domesticado que vi foi um baio castrado. Estava ao lado do curral, comendo açúcar na mão
de Shawn. Era primavera, e eu tinha 14 anos. Havia muitos anos que eu não tocava num cavalo. O cavalo era meu, presente de um tio de minha mãe. Me aproximei cautelosamente, certa de que se chegasse mais perto ele iria escoicear, empinar ou atacar. Mas o cavalo só cheirou minha blusa, deixando uma longa mancha molhada. Shawn me jogou um cubinho de açúcar. O cavalo cheirou o açúcar, e a ponta do queixo dele fez cócegas nos meus dedos até eu abrir a mão. – Quer domar? – Shawn perguntou. Eu não queria. Tinha pavor de cavalos, ou medo do que pensava que eles eram, uns demônios de meia tonelada cuja ambição era jogar o cérebro da gente contra as pedras. Disse a Shawn que ele podia domar. Fiquei assistindo atrás da cerca. Eu me recusei a dar nome ao cavalo, e então o chamávamos de Novinho. Como ele já tinha aceitado o cabresto e as rédeas, Shawn trouxe a sela naquele primeiro dia. Ao ver a sela, Novinho pateou nervosamente, escavando o chão. Shawn foi andando devagar, deixou-o cheirar os estribos e mordiscar a cabeça da sela, matando a curiosidade. Depois, Shawn esfregou o couro macio no peito do cavalo, com um movimento contínuo, mas sem pressa. – O cavalo não gosta de coisas que ele não vê – disse Shawn. – Melhor deixar se acostumar com a sela diante dele. Quando ele fica bem à vontade com o cheiro e o contato, a gente pode colocar nas costas. Uma hora depois, estava selado. Shawn disse que já podia montar, e subi no teto do celeiro, certa de que o curral seria palco de um espetáculo de violência. Mas quando Shawn se sentou na sela, Novinho quase não reclamou. Levantou um pouquinho as patas dianteiras, como se pensasse em empinar, depois baixou a cabeça e
aquietou as patas. Em questão de instantes aceitou nosso desejo de montar nele, de que fosse campeado. Aceitou que o mundo era assim mesmo e que ele era um objeto de posse. Como nunca tinha sido um cavalo selvagem, não ouvia o chamado enlouquecedor daquele outro mundo, o da montanha, onde não podia ser subjugado, não podia ser montado. Dei-lhe o nome de Bud. Durante uma semana vi Shawn e Bud galopando no curral na névoa cinzenta do cair da noite. Depois, num suave fim de tarde de verão, fiquei ao lado de Bud, segurando as rédeas enquanto Shawn firmava o cabresto, e subi na sela.
Shawn falou que queria abandonar sua antiga vida e que o primeiro passo era se afastar dos amigos. De repente, ele estava de novo em casa toda noite, procurando o que fazer. Passou a me levar de carro para os ensaios em Worm Creek. Enquanto estávamos só nós dois descendo pela rodovia, ele era doce e jovial. Caçoava de mim, de brincadeira, e às vezes dava conselhos, principalmente “não faça o que eu fiz”. Mas ao chegar ao teatro ele mudava. No começo, ele observava os rapazes mais jovens com atenta concentração, mas depois começou a implicar com eles. Não era uma agressão óbvia, só pequenas provocações. Jogava longe o chapéu de um com um peteleco, ou derrubava a lata de refrigerante da mão de outro e ria do líquido espirrando na calça jeans. Se fosse desafiado, e geralmente não era, encarnava o rufião, com uma expressão endurecida de “E daí, vai fazer o quê?” distorcendo seu rosto. Mas depois, quando estávamos só nós, a máscara caía, ele tirava a armadura de valentia e era o meu irmão.
O que eu mais gostava era de seu sorriso. Não tinha trocado os dentes de leite caninos superiores, e nenhum dos muitos dentistas holísticos a que meus pais o tinham levado quando criança havia notado, até ser tarde demais. Aos 23 anos, quando foi por conta própria a um cirurgião-dentista, os caninos oclusos tinham feito uma rotação lateral na gengiva e estavam saindo pelo tecido abaixo de seu nariz. O cirurgião que os removeu disse a Shawn que preservasse tanto quanto possível seus dentes de leite, e quando estragassem teria que fazer implantes. Mas nunca estragaram. Lá permaneceram como relíquias teimosas de uma infância inapropriada, lembrando a quem testemunhasse aquela infindável beligerância sem sentido, irresponsável, que aquele homem tinha sido um menino.
Era um fim de tarde meio enevoado de verão, faltando um mês para eu completar 15 anos. O sol já havia mergulhado detrás do Buck’s Peak, mas o céu ainda mantinha umas horas de luz. Shawn e eu estávamos no curral. Depois que domou Bud na primavera, ele passou a levar a sério o negócio de cavalos. Durante todo o verão, ele comprou cavalos, Puro-sangue e Passo Fino, muitos deles indomados, que custavam mais barato. Ainda estávamos trabalhando com Bud. Já tínhamos montado nele várias vezes no pasto, mas ele era inexperiente, nervoso, imprevisível. Naquele fim de tarde, Shawn selou pela primeira vez uma égua alazã. Disse que ela estava pronta para uma cavalgada curta, e montamos, Shawn na égua e eu no Bud. Subimos uns oitocentos metros da montanha, nas trilhas sinuosas por entre o trigo-selvagem, com cuidado para não assustar os animais. Então fiz uma bobagem. Cheguei muito perto da égua. Ela não gostou de ter o castrado logo atrás
e, sem aviso, saltou para a frente, jogando todo o seu peso nas patas dianteiras, e com as patas traseiras deu um coice que pegou em cheio no peito de Bud. Bud ficou enlouquecido. Na hora, eu estava tentando dar um nó nas rédeas para ficarem mais apertadas, e não segurava firme. Bud deu uma tremenda sacudida e começou a pinotear rodando. As rédeas voaram por cima da cabeça dele. Me agarrei à cabeça da sela e apertei as coxas, colando as pernas à curvatura da barriga dele. Antes que eu pudesse me recuperar, Bud saiu em louca disparada na direção de uma ravina, pinoteando às vezes, mas sempre correndo. Meu pé escorregou pelo estribo, que se enfiou até a panturrilha. Em todos aqueles verões domando cavalos com vovô, o único conselho de que me lembro era “Seja o que acontecer, num deixa nunca o pé prender no estribo”. Não precisava explicar. Contanto que eu estivesse solta, provavelmente ficaria bem. Pelo menos estaria no chão. Mas se meu pé estivesse preso eu seria arrastada até arrebentar a cabeça numa pedra. Montado na égua indomada, Shawn não podia me ajudar. Histeria num cavalo se espalha para os outros, principalmente nos jovens e espiritados. De todos os cavalos de Shawn, só havia um, chamado Apolo – um baio acinzentado de 7 anos –, com idade e calma suficientes para fazer aquilo: explodir em furiosa disparada, em um galope com as ventas abertas, depois continuar andando enquanto o cavaleiro soltava o corpo, tirando um pé do estribo e passando a perna para o outro lado, até alcançar o chão para pegar as rédeas do outro cavalo apavorado. Mas Apolo estava no curral, oitocentos metros abaixo da montanha.
Meu instinto me mandou soltar a cabeça da sela, que era o único apoio que me prendia ao cavalo. Se eu largasse iria cair, mas teria um momento, único e precioso, para alcançar as rédeas esvoaçantes ou tentar puxar minha perna do estribo. Aposte tudo nisso!, meu instinto gritou. Meus instintos sempre foram meus guardiães. Tinham me salvado antes, guiando meus movimentos em muitos cavalos pinoteando, dizendo quando me agarrar à sela e pular fora para escapar das patas furiosas. Foram esses mesmos instintos que, anos antes, me acionaram para subir na caçamba do ferro que papai despejava, porque entenderam, embora eu não tivesse compreendido, que era melhor cair de uma grande altura do que esperar que papai interviesse. Em toda a minha vida esses instintos me instruíram em uma única doutrina: que a chance é maior quando a gente confia apenas em si mesmo. Bud se empinou, levantando a cabeça tão alto que achei que ia cair de costas. Voltou batendo as patas da frente com força no chão e pinoteou. Apertei mais ainda a cabeça da sela, tomando uma decisão baseada em outro instinto, o de não soltar. Shawn iria chegar a tempo, mesmo na égua indomada. Ele faria um milagre. A égua não entenderia o comando quando ele gritasse “Upa!”, metendo as botas na barriga dela, e com aquele golpe que nunca tinha sentido ela iria se empinar, espinoteando loucamente. Mas ele puxaria a cabeça dela para baixo e, assim que as patas tocassem o chão, daria outra esporeada ainda mais forte na barriga dela, sabendo que ela tornaria a empinar. Faria isso até que ela saísse desabalada e ele pudesse tocar para a frente, aproveitando a aceleração, guiando-a, mesmo que a égua ainda não tivesse aprendido a estranha dança de movimentos que, com o tempo, se torna uma espécie de
linguagem entre cavalo e cavaleiro. Tudo isso aconteceria em segundos, um ano de treinamento reduzido a um único momento de desespero. Eu sabia que era impossível. Mesmo visualizando aquilo, eu sabia. Mas continuei me agarrando à cabeça da sela. Bud tinha entrado em total frenesi. Pulava como louco, arqueando as costas em cada pulo para a frente, sacudindo a cabeça quando suas patas batiam no chão. Meus olhos mal distinguiam o que viam. O trigo-selvagem dourado voava em todas as direções, o céu azul e a montanha rodopiavam absurdamente. Estava tão desorientada que mais senti do que vi a robusta égua ao meu lado. Shawn levantou o corpo da sela, se abaixou de lado, segurando firmemente as rédeas da égua com uma das mãos e com a outra agarrou e puxou as rédeas de Bud para fora do mato. As tiras de couro ficaram totalmente esticadas, tão tesas que o freio forçou a cabeça de Bud para cima e para a frente. Com a cabeça levantada, Bud não conseguia mais pinotear e entrou num galope ritmado. Shawn deu um puxão forte nas rédeas da égua, levando a cabeça dela na direção dos joelhos dele, fazendoa correr em círculos. A cada passo, ele puxava mais a cabeça dela e enrolava no braço as tiras das rédeas, diminuindo o círculo até ficar tão curto que as patas dela ficaram paradas. Escorreguei da sela e caí no capim, as hastes pontudas dos gravatás me espetando através da blusa. Acima da minha cabeça os cavalos arfavam, inchando e encolhendo a barriga, pateando o chão.
Capítulo 12
Olhos de peixe
Meu irmão Tony pegou um empréstimo para comprar um caminhão – uma carreta com baú –, mas, para poder pagar, tinha que manter a carreta na estrada; portanto, ele estava morando na estrada. Até que sua esposa adoeceu e o médico que consultou (sim, ela consultou um médico) mandou que ficasse de cama. Tony ligou para Shawn perguntando se ele podia assumir o caminhão por uma ou duas semanas. Shawn detestava dirigir carreta, mas concordou desde que eu fosse com ele. Papai não precisava de mim no ferrovelho e Randy podia me dispensar por alguns dias, então partimos, primeiro descemos para Las Vegas, depois fomos para Albuquerque, a leste, Los Angeles, a oeste, e subimos para o estado de Washington. Achei que iria ver as cidades, mas só o que via eram paradas de caminhão e estradas interestaduais. O para-brisa era enorme e elevado como de cabine de avião, o que fazia os carros parecerem brinquedinhos lá embaixo. A cabine onde ficava o beliche, grande e alta, era mofada e escura como uma caverna, cheia de sacos de Doritos e barrinhas de cereais.
Shawn passava muitos dias dormindo pouco, conduzindo a carreta de 15 metros como se fosse o próprio braço. Alterava os registros sempre que passávamos por um posto de fiscalização para fingir que dormia mais tempo do que era verdade. Dia sim, dia não, parávamos para tomar um banho e fazer uma refeição que não fosse granola. Perto de Albuquerque, o depósito do Walmart estava congestionado e tivemos que esperar dois dias para descarregar. Estávamos fora da cidade, não havia nada além de uma parada de caminhão e areia vermelha se estendendo em todas as direções. Assim, ficamos comendo Cheetos e jogando Mario Kart na cabine. No fim do segundo dia, tínhamos dores no corpo de ficar tanto tempo sentados, e Shawn disse que ia me ensinar artes marciais. A primeira aula foi ao pôr do sol, no estacionamento. – Se você souber o que está fazendo – ele disse –, pode incapacitar um homem com um mínimo de esforço. Pode controlar o corpo inteiro de alguém com apenas dois dedos. É só saber onde estão os pontos fracos e tirar vantagem disso. Ele agarrou meu pulso e dobrou, curvando meus dedos para baixo, desconfortavelmente, na direção do braço. Continuou a pressionar até eu me torcer um pouco, levando o braço para as costas para aliviar a tensão. – Viu? Esse é um ponto fraco – ele disse. – Se eu dobrar um pouco mais, você fica imobilizada – e ele riu seu riso de anjo. – Mas eu não vou, porque dói pra diabo. Ele me soltou e disse: – Agora você tenta. Dobrei o pulso dele e apertei com força, tentando fazer seu corpo se torcer como ele fizera comigo. Ele não se moveu. – Talvez outra estratégia para você.
Ele agarrou meu pulso de outro jeito – como um atacante faria, disse – e me ensinou a escapar do aperto onde os dedos fossem mais fracos e os ossos do meu braço, mais fortes, de modo que em poucos minutos eu poderia escapar até dos dedos mais grossos. Me ensinou a jogar o peso para desviar de um soco, e onde mirar para esmagar a traqueia. Na manhã seguinte, a carreta foi descarregada. Subimos no caminhão, pegamos outra carga e rodamos mais dois dias, vendo as linhas brancas irem desaparecendo hipnoticamente por baixo do capô, que era cor de osso. Tínhamos poucas formas de distração, então fizemos um jogo de palavras. O jogo tinha apenas duas regras. A primeira era que cada frase precisava ter pelo menos duas palavras com as primeiras letras trocadas. – Você não é a irmã mais nova – disse Shawn. – Você é irmã nais mova. – Ele pronunciava as palavras devagar, esticando o n e o m, de modo que soava “nnnais mmmova”. A segunda regra era que cada palavra que lembrasse um número, ou que pelo menos parte dela soasse como um número, devia ser trocada pelo próprio número. O objetivo era inventar o maior número de palavras esquisitas novas, mesmo que às vezes não fizessem nenhum sentido. Irmã nais mova – Shawn dizia de repente. – Coloca o cinco de segurança, porque eu vou ligar o piloto oitomático. Espero que o caminhão não saia da seistrada nem quatropele ninguém. Quando ficava cansativo, ele sintonizava a faixa de comunicação para ouvir as solitárias brincadeiras dos caminhoneiros que se alongavam pela estrada. – Olha só esse quatro-rodas verde – disse uma voz rouca entre Sacramento e Portland. – Está há meia hora passeando sempre no meu ponto cego.
Shawn explicou que um quatro-rodas é como as carretas chamam os carros e caminhonetes. Outra voz chegou reclamando de uma Ferrari vermelha que vinha costurando a duzentos quilômetros por hora. – O desgraçado quase bateu num Chevy azul – a voz profunda berrou pela estática. – Porra, tem crianças no Chevy. Alguém aí na frente topa dar uma esfriada na cabeça dele? – A voz deu a localização. Shawn checou o marcador de quilômetros. Estávamos na frente da Ferrari. – Sou um Pete branco levando uma geladeira – ele falou. Houve um silêncio enquanto todos olhavam pelo retrovisor, procurando um Peterbilt branco levando um contêiner refrigerado. Então uma terceira voz, mais rouca que a primeira, respondeu: – Sou o KW azul levando um contêiner. – Estou vendo – disse Shawn e, para me ajudar, apontou para um Kenworth azul-marinho alguns carros adiante. Quando a Ferrari apareceu, multiplicada em nossos muitos retrovisores, Shawn engrenou a marcha alta e acelerou, emparelhando com o Kenworth de modo que as duas carretas de quinze metros foram rodando lado a lado, bloqueando as duas faixas. A Ferrari buzinou, ziguezagueou, freou, buzinou de novo. – Quanto tempo a gente vai deixar ele aí atrás? – a voz rouca falou, dando uma gargalhada. – Até ele se acalmar – Shawn respondeu. Três quilômetros depois, deixaram a Ferrari passar. A viagem durou cerca de uma semana, então pedimos a Tony para nos arrumar uma carga em Idaho. – Bem, Nais Mova – Shawn disse quando paramos no ferro-velho –, temos muito trabalho aqui.
O Opera House de Worm Creek estrearia uma nova peça: Carrossel. Shawn me levou de carro ao teste e me surpreendeu ao decidir concorrer. Charles também estava lá, conversando com uma garota chamada Sadie, de 17 anos. Ela concordava com o que Charles dizia, mas não tirava os olhos de Shawn. No primeiro ensaio, ela se sentou perto dele, pousou a mão em seu braço, rindo e ajeitando os cabelos. Era muito bonita, com lábios cheios e macios, e grandes olhos escuros, mas quando perguntei a Shawn se tinha gostado dela ele disse que não. – Ela tem olhos de peixe – ele falou. – Olhos de peixe? – É, olhos de peixe. São mortos, idiotas, peixe. São lindos, mas a cabeça é oca como um pneu. Sadie passou a ir ao ferro-velho no fim do dia, geralmente levando um milk-shake para Shawn, ou biscoitos, ou bolo. Ele dificilmente chegava a falar com ela, só pegava o que a garota havia trazido e continuava andando para o curral. Sadie ia atrás e tentava conversar enquanto ele ficava mexendo com os cavalos, até que um dia, à tardinha, ela pediu que ele a ensinasse a cavalgar. Tentei explicar que nossos cavalos não eram totalmente domados, mas a garota estava determinada. Shawn a pôs montada no Apolo e lá fomos nós em direção à montanha. Ele ignorou Sadie e Apolo. Não ofereceu a ela nada da ajuda que me dera, me ensinando a firmar o pé no estribo e apertar as coxas quando o cavalo saltava sobre um galho. Sadie tremia o tempo todo, mas fingia estar se divertindo, restaurando seu sorriso de batom cada vez que ele olhava na direção dela. No ensaio seguinte, Charles perguntou a Sadie sobre uma cena, e Shawn viu os dois conversando. Sadie se aproximou
de nós em seguida, mas Shawn nem falou com ela. Deu-lhe as costas e a garota saiu chorando. – O que foi isso? – perguntei. – Nada – ele disse. Dias depois, no ensaio, Shawn parecia ter esquecido aquilo. Sadie foi se chegando cautelosamente, mas ele sorriu para ela e logo estavam conversando e rindo. Shawn pediu a ela para comprar um chocolate com amendoins no outro lado da rua. Ela ficou feliz por ele ter pedido e foi correndo, mas quando voltou e lhe entregou a barrinha ele falou: – Que merda é essa? Eu pedi um chocolate com caramelo. – Não. Você disse com amendoins. – Eu quero um com caramelo. Sadie saiu de novo e foi buscar o chocolate com caramelo. Entregou a ele com um risinho nervoso, e Shawn disse: – Cadê meu chocolate com amendoins? O quê? Esqueceu de novo? – Você não quis! – ela disse, com os olhos lacrimosos. – Eu dei para o Charles! – Vá pegar. – Eu compro outro para você. – Não – disse Shawn, com olhar frio. Seus dentes infantis, que lhe davam uma aparência de menino travesso e brincalhão, agora o faziam parecer imprevisível, volátil. – Eu quero aquele. Vá pegar ou nem volte aqui. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Sadie, borrando seu rímel. Ela parou um momento para enxugar a lágrima e forçar o sorriso. Depois chegou perto de Charles e, rindo como se não fosse nada, pediu o chocolate com amendoins de volta. Ele enfiou a mão no bolso, tirou a barrinha e ficou
olhando ela andar de volta até Shawn. Sadie pôs o chocolate na mão dele, como um pedido de paz, e ficou esperando, de olhos no chão. Shawn a puxou para seu colo e comeu a barrinha com três mordidas. – Você tem olhos lindos – ele disse. – Igual a um peixe.
Os
pais de Sadie estavam se divorciando e a cidade borbulhava de rumores sobre o pai dela. Quando mamãe ouviu as fofocas, disse que agora fazia sentido o interesse de Shawn por Sadie: – Ele sempre protegeu anjos de asas quebradas. Shawn descobriu os horários das aulas de Sadie e os decorou. Fazia questão de ir à escola dela várias vezes por dia, principalmente nos intervalos em que ela estava indo de um prédio para outro. Parava no acostamento da rodovia e ficava olhando de longe, distante o bastante para que a garota fosse até ele, mas não tão distante que ela não o visse. Fazíamos isso juntos, ele e eu, quase sempre que íamos à cidade, e às vezes nem precisávamos ir à cidade. Até um dia em que Sadie apareceu na escada da escola com Charles. Estavam rindo. Ela não tinha visto o caminhão de Shawn. Vi que o rosto dele endureceu, depois relaxou. Sorriu para mim. – Tenho a punição perfeita – ele disse. – Simplesmente não vou mais vê-la. É só não vê-la mais e ela vai sofrer. Tinha razão. Ele não retornava os telefonemas de Sadie, e a garota ficou desesperada. Pediu aos garotos da escola que não andassem com ela, por medo de que Shawn visse, e quando ele dizia que não gostava de algum amigo dela, ela parava de falar com esse amigo.
Sadie vinha à nossa casa todos os dias depois da escola. Eu via o incidente do chocolate com amendoins repetido a toda hora, em diferentes formas, com diferentes objetos. Shawn pedia um copo de água. Quando Sadie trazia, ele queria gelo. Ela trazia, e Shawn queria leite, depois água de novo, com gelo, sem gelo, depois suco. Isso durava uma meia hora, até que, num teste final, ele pedia alguma coisa que não tinha em casa. Sadie pegava o carro e ia à cidade comprar – sorvete de baunilha, batata frita, um burrito –, e ele pedia outra coisa assim que ela chegava. Quando saíam à noite, eu ficava aliviada. Uma noite ele chegou tarde com um jeito estranho. Todos estavam dormindo, menos eu. Tinha ficado no sofá lendo um capítulo das escrituras antes de ir para a cama. Shawn se deixou cair ao meu lado. – Me traz um copo de água. – Por quê? Quebrou a perna? – perguntei. – Traz, ou não te levo à cidade amanhã. Busquei a água. Ao entregar o copo, vi o sorriso em seu rosto e, sem pensar, derramei toda a água na cabeça dele. Saí correndo, atravessei o hall, e, quando estava chegando ao meu quarto, ele me pegou. – Peça desculpas – ele falou. A água pingava de seu nariz e caía na camiseta. – Não. Ele agarrou um punhado dos meus cabelos, um tufo grande, bem junto à raiz para alavancar melhor, e me arrastou para o banheiro. Consegui me segurar na moldura da porta, mas ele me levantou do chão, juntou meus braços no corpo e enfiou minha cabeça no vaso. – Peça desculpas – ele tornou a falar. Não respondi. Enfiou minha cabeça um pouco mais; meu nariz raspou na louça manchada. Fechei os olhos, mas o
cheiro não me deixava esquecer onde eu estava. Tentei imaginar alguma outra coisa, algo que me tirasse de mim mesma, mas o que me veio à mente foi uma imagem de Sadie, agachada, submissa, que me encheu de bile. Ele me segurou ali, com o nariz colado no vaso, talvez por um minuto, e então me levantou. As pontas do meu cabelo estavam molhadas; o couro cabeludo, esfolado. Achei que tinha acabado. Comecei a recuar, mas ele pegou meu pulso e o dobrou, curvando meus dedos e a mão em espiral. Continuou a dobrar até meu corpo se torcer e pressionou mais, de modo que, sem pensar, sem perceber, eu me torci num arco dramático, com as costas dobradas, a cabeça quase tocando o chão, o braço nas costas. Quando Shawn me mostrou aquele golpe no estacionamento, eu tinha me movido só um pouquinho, respondendo mais à descrição do que a uma necessidade física. Naquele momento não pareceu particularmente eficaz, mas agora eu entendia para que servia a manobra: controle. Eu mal podia me mover, mal respirava, para não quebrar o pulso. Shawn me mantinha nessa posição com uma das mãos; a outra pendia perigosamente ao lado, para me mostrar como era fácil. É pior do que se eu fosse Sadie, pensei. Como se lesse meu pensamento, ele torceu meu pulso ainda mais. Meu corpo estava numa torcedura firme, meu rosto arrastando no chão. Fiz o que pude para aliviar a pressão no pulso. Se ele continuasse torcendo, iria quebrar. – Peça desculpas. Houve um longo momento em que um fogo me subiu pelo braço e chegou ao cérebro. – Desculpe – falei. Ele largou meu pulso e caí no chão. Ouvi seus passos atravessando o hall. Levantei em silêncio e me tranquei no
banheiro. No espelho, vi a garota segurando o pulso. Seus olhos estavam embaçados e gotas escorriam pelas bochechas. Tive ódio dela pela fraqueza, por ter um coração que podia sofrer. O fato de que ele pudesse magoá-la, de que qualquer pessoa pudesse magoá-la assim, era imperdoável. Só estou chorando por causa da dor, disse a mim mesma. Por causa da dor no pulso. Por nada mais. Esse momento iria definir minha lembrança daquela noite, e de muitas outras como aquela, durante uma década. Nela, eu me via inquebrantável, dura como pedra. Fui acreditando nisso, até que um dia se tornou verdade. E então pude dizer a mim mesma, sem mentir, que aquilo não me afetava, que ele não me afetava, porque nada me afetava. Eu não fazia ideia do quão morbidamente certa estava. O quanto eu estava oca por dentro. Mas por maior que fosse a obsessão sobre as consequências daquela noite, eu não tinha entendido a verdade essencial: de que o efeito daquilo em mim era que nada mais me afetava.
Capítulo 13
Silêncio nas igrejas
Em setembro, as Torres Gêmeas caíram. Eu nunca tinha ouvido falar nelas até desabarem. Então vi os aviões mergulhando nelas e olhei, atônita, a TV mostrando as estruturas de altura inimaginável oscilando e desabando. Papai estava ao meu lado. Tinha vindo do ferro-velho para assistir. Não falou nada. À noite, leu em voz alta passagens da Bíblia, passagens familiares de Isaías, Lucas e o Livro do Apocalipse sobre guerras e rumores de guerras. Três dias depois, quando tinha 19 anos, Audrey se casou com Benjamin, um garoto de fazenda, louro, que ela conheceu quando trabalhava como garçonete na cidade. A cerimônia foi solene. Papai havia orado e recebido uma revelação. – Haverá um conflito, uma luta final pela Terra Santa – ele disse. – Meus filhos serão mandados para a luta. Alguns deles não voltarão para casa. Eu andava evitando Shawn desde a noite no banheiro. Ele tinha pedido desculpas. Veio ao meu quarto uma hora depois, com os olhos lacrimejantes, a voz meio presa, e me pediu que lhe perdoasse. Falei que sim, que já havia perdoado. Mas não tinha.
No casamento de Audrey, vendo meus irmãos de terno, naqueles uniformes pretos, minha raiva se transformou em medo, medo de alguma perda inevitável, e perdoei a Shawn. Era fácil perdoar: afinal, era o Fim do Mundo. Durante um mês vivi como se estivesse prendendo a respiração. Não houve recrutamento, nem outros ataques. O céu não escureceu, a lua não virou sangue. Havia ruídos distantes de guerra, mas a vida na montanha permanecia a mesma. Papai disse que devíamos ficar vigilantes, mas no inverno a minha atenção se voltou para os dramas banais da minha vida pessoal. Eu tinha 15 anos e podia sentir minha corrida junto com o tempo. Meu corpo estava mudando, intumescendo, inchando, esticando, avolumando. Eu queria que parasse, mas parecia que meu corpo não era mais meu. Pertencia a si próprio, e não se importava nem um pouco com o que eu achava daquelas estranhas alterações, se eu queria deixar de ser criança e me tornar outra coisa. Essa outra coisa me empolgava e atemorizava. Eu sempre soube que cresceria diferente de meus irmãos, mas nunca tinha pensado sobre o que isso poderia significar. Agora era só no que eu pensava. Comecei a procurar pistas para entender essa diferença, e tão logo iniciei essa busca as encontrei em toda parte. Numa tarde de domingo ajudei mamãe a preparar um assado para o jantar. Papai estava tirando os sapatos e afrouxando a gravata. Vinha falando sem parar desde que saímos da igreja: – A bainha estava dez centímetros acima do joelho de Lori. O que uma mulher pensa quando põe um vestido daqueles? Mamãe concordava com a cabeça, distraidamente, enquanto cortava uma cenoura. Estava acostumada a esse
tipo de sermão. – E Jeanette Barney. Se uma mulher veste uma blusa decotada, não deve se curvar para a frente. Mamãe concordou. Pensei na blusa turquesa de Jeanette naquele dia. O decote era apenas dois centímetros abaixo da clavícula, mas era folgado, e imaginei que se ela se inclinasse daria uma visão total. Enquanto pensava nisso me senti ansiosa, porque, embora uma blusa mais justa tornasse uma inclinação de Jeanette mais decente, o próprio fato de ser justa teria sido menos decente. Mulheres sérias não usam roupas justas. As outras é que fazem isso. Eu estava tentando imaginar o ponto exato de uma justeza correta quando papai falou: – Jeanette esperou eu olhar para se curvar e pegar o hinário. Ela queria que eu visse. Mamãe fez um “tsc” de desaprovação entre os dentes e cortou uma batata. Esse discurso me marcou mais do que uma centena de seus precursores. Eu iria me lembrar daquelas palavras muito frequentemente nos anos seguintes, e quanto mais pensava nelas, mais me preocupava de talvez estar me transformando no tipo errado de mulher. Às vezes mal podia atravessar uma sala, de tão preocupada em não andar, nem me curvar, nem me agachar como elas. Mas ninguém jamais me ensinara o jeito decente de me curvar, por isso eu sabia que provavelmente estava fazendo do jeito errado.
Shawn
e eu fomos selecionados para um melodrama em Worm Creek. Vi Charles no primeiro ensaio e passei metade da noite tomando coragem para falar com ele. Quando finalmente consegui, Charles me confidenciou que estava
apaixonado por Sadie. Não era o ideal, mas nos deu assunto para conversa. Shawn e eu voltamos juntos para casa. Ao volante, ele olhava irritado para a frente, como se a estrada o tivesse injustiçado. – Eu vi você falando com Charles – ele disse. – Não quer que as pessoas pensem que você é esse tipo de garota. – Que tipo de garota? – Você sabe o que eu quero dizer. Na noite seguinte, Shawn entrou inesperadamente no meu quarto e me viu pintando os cílios com um resto de rímel de Audrey. – Agora você está usando maquiagem? – Acho que sim. Ele se virou para sair, mas parou na soleira da porta. – Pensei que você fosse melhor, mas é igualzinha ao resto. Ele parou de me chamar de Nais Mova. – Vamos embora, Olhos de Peixe! – ele gritou uma noite, do outro lado do teatro. Charles olhou em volta, curioso. Shawn começou a explicar e me pus a rir muito alto, na esperança de abafar a fala. Ri como se adorasse o nome. A primeira vez que usei brilho nos lábios, Shawn disse que eu era uma puta. Eu estava no meu quarto, experimentando o batom na frente do espelho, quando Shawn apareceu na porta. Ele falou em tom de brincadeira, mas tirei o batom mesmo assim. Mais tarde, no teatro, quando notei Charles olhando para Sadie, tornei a passar e vi a expressão carregada de Shawn. A volta para casa foi tensa. A temperatura tinha caído para muito abaixo de zero. Eu disse que estava com frio, e Shawn se inclinou para aumentar o aquecimento. Então parou, riu sozinho e abriu
todas as janelas. O vento de janeiro me atingiu como um balde de gelo. Pedi para fechar as janelas. – Estou com frio – eu ficava dizendo. – Estou com muito, muito frio. Ele ria. E dirigiu todos os vinte quilômetros assim, rindo como se fosse uma brincadeira, como se nós dois estivéssemos brincando, como se meus dentes não estivessem batendo. Pensei que as coisas fossem melhorar quando Shawn terminou o namoro com Sadie. Acho que me convenci de que as coisas que ele fazia eram culpa dela e que sem ela Shawn seria diferente. Depois de Sadie, ele teve outra namorada, Erin. Era mais velha, menos disposta a entrar nas gracinhas dele, e a princípio parecia que eu tinha razão, que ele havia melhorado. Então Charles convidou Sadie para jantar, ela aceitou, e Shawn ficou sabendo. Aquela noite eu estava trabalhando até tarde no Randy quando Shawn apareceu, espumando de raiva. Fui embora com ele, achando que podia acalmá-lo, mas não consegui. Ele ficou duas horas dirigindo pela cidade, à procura do jipe de Charles, praguejando e jurando que, quando achasse o desgraçado, ia lhe “dar uma cara nova”. Sentada no banco do carona do caminhão, eu ouvia as rotações do motor bebendo o diesel, olhava as linhas amarelas sumirem debaixo do capô. Pensei no meu irmão como ele tinha sido, como me lembrava dele, como eu queria me recordar dele. Pensei em Albuquerque e Los Angeles, e nos quilômetros de estradas interestaduais perdidos entre as duas cidades. Havia uma pistola no assento entre nós dois, e quando não estava passando a marcha, Shawn a pegava e a acariciava, às vezes girava em torno do dedo, como um
pistoleiro, depois a recolocava no assento, onde faróis dos carros passando faziam o cano de aço cintilar.
Acordei
com agulhas no cérebro. Milhares delas, espetando, bloqueando qualquer outra coisa. Depois desapareceram em um momento de tontura, e eu me recompus. Era de manhã cedo. A luz âmbar do sol entrava pela janela do meu quarto. Eu estava de pé, mas não por minhas próprias forças. Duas mãos me apertavam a garganta e começaram a me sacudir. As agulhas eram meu cérebro batendo contra o crânio. Tive apenas alguns segundos para me perguntar o motivo, mas as agulhas retornaram, despedaçando meus pensamentos. Meus olhos estavam abertos, mas eu só via flashes brancos. Alguns sons chegaram a mim: – VAGABUNDA! PUTA! Então outro som. Mamãe. Estava chorando. – Pare! Você está matando ela! Pare! Mamãe deve tê-lo agarrado, porque senti o corpo dele se torcer. Caí no chão. Quando abri os olhos, mamãe e Shawn estavam se encarando, ela vestindo apenas um roupão esfarrapado. Fui levantada num repelão até ficar de pé. Shawn agarrou um tufo de meu cabelo, com o mesmo método anterior, puxando pela raiz a fim de me manobrar, e me arrastou para o hall. Minha cabeça estava pressionada contra seu peito. Eu só via partes do tapete voando sob meus pés trôpegos. Minha cabeça latejava, eu tinha dificuldade de respirar, mas começava a entender o que estava acontecendo. E brotaram lágrimas em meus olhos. Por causa da dor, pensei.
– Agora a vagabunda chora – disse Shawn. – Por quê? Porque alguém viu a puta que você é? Tentei olhar para ele, procurando o rosto de meu irmão, mas Shawn empurrou minha cabeça para baixo e caí no chão. Saí engatinhando e me aprumei. A cozinha rodava, estranhas manchas amarelas e cor-de-rosa flutuavam diante de meus olhos. Mamãe estava em prantos, agarrando os cabelos. – Eu sei o que você é – disse Shawn. Seu olhar era selvagem. – Você finge ser santinha, vai à igreja, mas eu vejo você como é. Vejo você se assanhando pra cima do Charles como uma prostituta. Ele se voltou para mamãe para observar o efeito de suas palavras. Ela havia se debruçado sobre a mesa. – Ela não é – mamãe sussurrou. Shawn continuou virado para mamãe. Disse que ela não tinha ideia das mentiras que eu contava, que eu a enganava, bancava a boa menina em casa, mas na cidade eu era uma puta mentirosa. Fui andando aos pouquinhos para a porta dos fundos. Mamãe disse para eu pegar o carro e sair. Shawn se virou para mim. – Você vai precisar disso – ele falou, segurando as chaves do carro de mamãe. – Ela não vai a lugar nenhum até admitir que é uma puta. Agarrou meu pulso e meu corpo escorregou para a posição já conhecida, a cabeça empurrada para a frente, braço torcido nas costas, pulso absurdamente dobrado sobre si mesmo. Como num passo de dança, meus músculos se lembraram e correram para passar à frente da música. O ar escapava de meus pulmões quando eu tentava me dobrar ainda mais, a fim de dar ao osso do pulso cada centímetro possível de alívio.
– Diga! – ele falou. Mas eu estava em outro lugar. Estava no futuro. Dali a poucas horas, Shawn estaria ajoelhado ao lado de minha cama, muito arrependido. Eu sabia disso mesmo ali encurvada. – O que está acontecendo? – Uma voz de homem subiu dos degraus da entrada e chegou ao hall. Virei a cabeça e vi um rosto aparecendo entre dois corrimões. Era Tyler. Eu estava delirando. Tyler nunca vinha em casa. Pensando nisso, ri alto, um cacarejo agudo. Que louco iria voltar aqui depois de conseguir escapar? Havia muitas manchas amarelas e cor-de-rosa em minha visão, era como se eu estivesse dentro de um globo de neve. Isso era bom. Queria dizer que eu estava a ponto de desmaiar. Esperava ansiosamente pelo desmaio. Shawn largou meu pulso e eu caí de novo. Olhei para cima e vi seus olhos fixos na escada. Só então me ocorreu que Tyler era real. Shawn deu um passo atrás. Ele havia esperado até papai e Luke terem saído para trabalhar, assim não seria contestado fisicamente. Confrontar seu irmão mais novo – menos brutal, mas forte a seu modo – estava fora do que ele previra. – O que está acontecendo? – Tyler repetiu. Encarou Shawn, chegando perto, devagar, como se estivesse se aproximando de uma cascavel. Mamãe parou de chorar. Estava envergonhada. Tyler já era um estranho na casa. Tinha ido embora havia tanto tempo que passara para a categoria de pessoas de quem a gente esconde os segredos. De quem a gente escondia aquilo.
Tyler chegou ao alto dos degraus, avançando para o irmão. Seu rosto estava tenso, a respiração curta, mas sua expressão não dava sinal de surpresa. Parecia que Tyler sabia exatamente o que Shawn estava fazendo, que já fizera antes, quando eram menores, desiguais na força física. Tyler parou, mas não piscou. Encarou Shawn como se dissesse “seja o que for que está acontecendo aqui, acabou”. Shawn começou a murmurar sobre minhas roupas e o que eu fazia na cidade. Tyler o cortou com um gesto da mão. – Eu não quero saber – ele disse. E virando-se para mim, falou: – Vai. Sai daqui. – Ela não vai a lugar nenhum – Shawn repetiu, balançando o chaveiro. Tyler me atirou as chaves dele. – Vai logo. Corri para o carro de Tyler, estacionado entre o caminhão de Shawn e o galinheiro. Tentei dar ré, mas pisei tão fundo que os pneus rodaram em falso, fazendo voar o cascalho. Na segunda tentativa, consegui. O carro deu um arranco para trás e fiz o contorno. Passei a marcha e estava prestes a descer a ladeira quando Tyler apareceu na varanda. Baixei o vidro. – Não vá para o trabalho – Tyler disse. – Lá ele vai achar você.
Aquela noite, quando cheguei em casa, Shawn tinha saído. Mamãe estava na cozinha misturando óleos. Eu não falei nada sobre o acontecido da manhã e sabia que não deveria falar. Fui para a cama, mas ainda estava acordada horas depois, quando ouvi uma picape subindo a ladeira. Minutos
depois a porta do meu quarto rangeu, se abrindo. Ouvi o clique do abajur, vi a luz pulando nas paredes e senti o peso dele na minha cama. Virei e o encarei. Pôs uma caixa de veludo preto ao meu lado. Não toquei nela, então ele a abriu e tirou um cordão de pérolas leitosas. Disse que via o caminho que eu estava trilhando e que este não era bom. Eu estava me perdendo, me tornando como as outras garotas, frívola, manipuladora, usando minha aparência para obter as coisas. Pensei em meu corpo, em tudo o que mudara. Eu mal sabia o que sentia a respeito. Às vezes eu queria ser notada, admirada, mas logo depois pensava em Jeanette Barney e ficava nauseada. – Você é especial, Tara – Shawn disse. Eu era? Queria acreditar que sim. Uma vez, Tyler dissera que eu era especial, anos atrás. Leu uma passagem da escritura do Livro de Mórmon, sobre uma criança sensata, pronta a observar. “Isso me lembra você”, Tyler dissera. A passagem descrevia o grande profeta Mórmon, um fato que achei confuso. Uma mulher nunca poderia ser profeta, no entanto lá estava Tyler me dizendo que eu lembrava um dos maiores profetas. Ainda não sei o que ele quis dizer com aquilo, mas o que entendi na ocasião foi que eu podia confiar em mim. Que havia alguma coisa em mim, algo como o que existia nos profetas, e que não era masculino nem feminino, nem velho nem jovem. Era um tipo de valor inerente e inabalável. Mas agora, olhando para a sombra de Shawn projetada na parede, consciente de meu corpo amadurecendo, de seus males e do meu desejo de fazer o mal com ele, o significado dessa lembrança mudou. Subitamente aquele valor era condicionado, como se pudesse ser tirado ou mal gasto. Não era inerente, era concedido. O que tinha valor
não era eu, mas as camadas de restrições e observâncias que me obscureciam. Olhei para meu irmão. Naquele momento, ele parecia velho, sábio. Conhecia o mundo e as mulheres mundanas, e pedi a ele para não deixar que eu me tornasse uma. – Ok, Olhos de Peixe, eu não deixarei.
Quando
acordei na manhã seguinte meu pescoço estava machucado e o pulso inchado. Tinha dor de cabeça – não uma dor no cérebro, mas uma verdadeira dor do cérebro, como se o órgão fosse sensível. Fui trabalhar, mas voltei para casa mais cedo e me deitei num canto escuro do porão, esperando passar. Estava deitada no tapete, sentindo o cérebro latejar, quando Tyler me encontrou e se instalou no sofá perto da minha cabeça. Eu não gostei de vê-lo ali. A única coisa pior do que ser arrastada pelos cabelos foi Tyler ter visto. Se pudesse escolher entre continuar ou Tyler chegar e encerrar aquilo, eu teria preferido deixar continuar. Sem dúvida, eu escolheria isso. Eu já estava mesmo a ponto de desmaiar e, depois, esqueceria aquilo tudo. Em um ou dois dias, nem pareceria real. Teria se tornado um sonho ruim, em um mês seria um mero eco de um sonho ruim. Mas Tyler havia visto, tinha tornado o momento real. – Você já pensou em ir embora? – Tyler perguntou. – Para onde? – Escola. Eu fiquei animada. – Vou me matricular no ensino médio em setembro. Papai não vai gostar, mas eu vou mesmo assim. Achei que Tyler iria gostar, mas ele fez uma careta. – Você já disse isso antes.
– Eu vou. – Talvez – Tyler disse. – Mas, enquanto viver sob o teto de papai, é difícil ir quando ele pede para você não ir, é fácil adiar por mais um ano, até não restarem mais anos. Se você entrar no segundo ano, vai conseguir se formar? Ambos sabíamos que não. – É hora de ir, Tara. Quanto mais tempo ficar, menos provável é que algum dia você consiga. – Você acha que preciso ir embora? Tyler não hesitou, nem piscou. – Eu acho que aqui é o pior lugar possível para você. Ele falou com suavidade, mas foi como se tivesse gritado as palavras. – Para onde eu poderia ir? – Para onde fui. Para a faculdade. Suspirei fundo. – A BYU[4] aceita quem estudou em casa – ele disse. – É isso que nós somos? – perguntei. – Quem estudou em casa? Tentei lembrar qual tinha sido a última vez que li um livro didático. – O conselho de admissão só vai saber o que a gente conta para eles. Se você disser que estudou em casa, eles vão acreditar. – Eu não vou entrar. – Vai, sim – disse Tyler. – É só passar no ACT,[5] um teste de avaliação bem fraco. Tyler se levantou para sair. – Existe um mundo lá fora, Tara – disse. – E ele será muito diferente quando papai não estiver mais sussurrando a visão dele no seu ouvido.
No
dia seguinte fui à loja de ferramentas na cidade e comprei um ferrolho para a porta do meu quarto. Deixei em cima da cama, peguei uma furadeira na oficina e comecei a furar. Achei que Shawn tinha saído, pois seu caminhão não estava na entrada, mas quando me virei com a furadeira na mão ele estava parado na porta. – O que você está fazendo? – perguntou. – A maçaneta quebrou – menti. – A porta fica abrindo. Esse ferrolho é barato, mas resolve. Shawn apalpou o aço grosso, e eu tinha certeza de que ele sabia que não era nada barato. Fiquei muda, paralisada pelo medo, mas também pela piedade. Naquele momento, eu o odiei e queria gritar meu ódio na cara dele. Imaginei como iria se encolher, esmagado sob o peso de minhas palavras e pelo desprezo que sentia por si próprio. Ali mesmo entendi a verdade: Shawn odiava a si mesmo muito mais do que eu seria capaz. – Você está usando os parafusos errados – ele disse. – Precisa de compridos para a parede e fixadores para a porta. Senão vai tudo saltar fora. Fomos à oficina. Shawn vasculhou um pouco e apareceu com um punhado de parafusos de aço. Voltamos para casa e ele instalou o ferrolho, cantarolando e sorrindo, mostrando seus dentinhos infantis. 4 BYU, Brigham Young University, universidade particular afiliada à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. (N. da T.) 5ACT, American College Testing, exame de admissão padronizado para universidades norte-americanas. (N. da T.)
Capítulo 14
Meus pés já não tocam a terra
Em
outubro papai ganhou um contrato para construir celeiros industriais em Malad, a poeirenta cidade de fazendeiros no outro lado do Buck’s Peak. Era um trabalho muito grande para uma equipe pequena – somente papai, Shawn, Luke e o marido de Audrey, Benjamin –, mas Shawn era um bom supervisor, e foi com ele nessa função que papai tinha adquirido fama de oferecer um serviço rápido e confiável. Shawn não deixava papai pular etapas. Metade das vezes em que eu passava pela oficina, ouvia os dois gritando um com o outro, papai dizendo que Shawn estava perdendo tempo e Shawn berrando que papai ainda ia acabar cortando a cabeça de alguém. Shawn passou dias a fio limpando, cortando e soldando a matéria-prima para os celeiros e, depois que a construção começou, ficava a maior parte do tempo em Malad. Quando os dois vinham em casa, horas depois do pôr do sol, quase sempre chegavam se xingando. Shawn queria profissionalizar a operação, investir o lucro do serviço de Malad em novos equipamentos. Papai queria que tudo continuasse como estava. Shawn dizia que papai não
entendia que o ramo da construção era mais competitivo que o de ferro-velho, e se queriam ter contratos de verdade precisavam gastar dinheiro de verdade em equipamentos de verdade, especificamente uma soldadeira nova e uma grua com andaime. – Não dá para continuar usando uma empilhadeira com esse estrado velho de curar queijo. É uma merda, e além disso é perigoso – dizia Shawn. Papai ria alto da ideia da grua com andaime. Vinha usando a empilhadeira e o estrado como andaime havia vinte anos.
Muitas vezes trabalhei até tarde da noite. Randy planejava fazer uma grande viagem estrada afora para aumentar a clientela e me pediu para gerenciar o negócio enquanto estivesse fora. Ele me ensinou a usar o computador para fazer a contabilidade, processar os pedidos e manter o controle do estoque. Foi com Randy que ouvi falar em internet pela primeira vez. Ele me mostrou como ficar online, visitar páginas e escrever e-mails. No dia em que partiu me deu um celular, para que pudesse falar comigo a qualquer momento. Tyler telefonou uma noite justamente quando eu vinha chegando do trabalho. Perguntou se eu estava estudando para o ACT. – Não posso fazer o teste – eu disse. – Não sei nada de matemática. – Você tem dinheiro. Compre livros e aprenda – ele falou. Eu não disse nada. Faculdade era irrelevante para mim. Eu sabia como seria o desenrolar da minha vida: quando tivesse 18 ou 19 anos, iria me casar. Papai me daria um pedaço da fazenda e meu marido construiria uma casa lá.
Mamãe iria me ensinar a lidar com ervas e com o trabalho de parteira, ao qual ela havia voltado agora que as enxaquecas eram menos frequentes. Quando eu tivesse filhos, mamãe faria os partos, e algum dia, eu supunha, seria eu a Parteira. Não via como uma faculdade se encaixava ali. Tyler parecia ter lido meus pensamentos. – Você conhece a Irmã Sears? – ele disse. A Irmã Sears era a diretora do coro da igreja. – Como você acha que ela sabe dirigir um coro? Eu sempre admirara a Irmã Sears e invejava seu conhecimento de música. Nunca tinha pensado em como ela havia aprendido. – Ela estudou – disse Tyler. – Sabia que você pode ter um diploma de música? Se tiver, pode dar aulas, pode dirigir o coro da igreja. Nem papai iria se opor, pelo menos não muito. Recentemente, mamãe tinha contratado uma versão experimental da AOL. Eu só usava a internet no escritório de Randy, para trabalhar, mas, quando Tyler desligou, liguei o computador e esperei o modem discar. Tyler tinha falado numa página da BYU. Não demorei a encontrá-la. A tela se encheu de imagens – prédios de tijolos bem cuidados, cercados de árvores cor de esmeralda, de pessoas lindas andando e sorrindo, com livros embaixo do braço e mochilas penduradas nos ombros. Parecia coisa de filme. Um filme feliz. No dia seguinte dirigi sessenta quilômetros até a livraria mais próxima e comprei um lustroso guia de estudo para o ACT. Sentei na minha cama e abri nos testes de matemática. Olhei bem a primeira página. Não era que eu não soubesse resolver as equações – eu não reconhecia os
símbolos. Foi a mesma coisa na segunda página e na terceira. Mostrei os problemas para mamãe. – O que é isso? – perguntei. – Matemática. – Então onde estão os números? – É álgebra. As letras ficam no lugar dos números. – E como eu resolvo? Mamãe ficou mexendo com caneta e papel por algum tempo, mas não foi capaz de resolver nenhuma das cinco equações. No dia seguinte dirigi de novo os sessenta quilômetros, cento e vinte ida e volta, e cheguei em casa com um grosso volume de álgebra.
Toda
noite, quando a equipe saía de Malad, papai telefonava para casa para mamãe estar com o jantar pronto assim que o caminhão roncasse subindo o morro. Eu prestava atenção e, quando ouvia o telefonema, pegava o carro de mamãe e saía. Não sei por quê. Ia para Worm Creek, sentava no balcão do teatro e via os ensaios, com os pés apoiados na balaustrada, um livro de matemática no colo. Só havia estudado matemática até divisão por vários números, e os conceitos me eram desconhecidos. Entendia a teoria de frações, mas lutava para manipulá-las, e meu coração disparava cada vez que via um decimal na página. Todas as noites, durante um mês, me sentei numa cadeira de veludo vermelho no Opera House praticando as operações mais básicas – multiplicação de frações, como usar números recíprocos, adição, multiplicação e divisão com decimais – enquanto personagens recitavam falas no palco.
Comecei a estudar trigonometria. Havia um consolo em suas estranhas fórmulas e equações. Fui atraída pelo teorema de Pitágoras, com sua promessa universal – a capacidade de prever a natureza de quaisquer três pontos contendo um ângulo reto, sempre e em qualquer lugar. O que eu sabia de física tinha aprendido no ferro-velho, onde o mundo físico sempre parecia instável, caprichoso. Mas aqui havia um princípio pelo qual as dimensões da vida podiam ser definidas, capturadas. Talvez a natureza não fosse totalmente volátil. Talvez pudesse ser explicada, prevista. Talvez pudesse fazer sentido algum dia. O sofrimento começou quando passei do teorema de Pitágoras para seno, cosseno e tangente. Não conseguia pegar essas abstrações. Podia sentir a lógica nelas, seu poder de introduzir ordem e simetria, mas não conseguia desvendá-las. Elas guardavam seus segredos, tornando-se um portal para além do qual eu acreditava que havia um mundo de lei e razão. E eu não conseguia transpor esse portal. Mamãe disse que, se eu quisesse aprender trigonometria, era responsabilidade dela me ensinar. Ela reservou uma noite, sentou ao meu lado à mesa da cozinha e nós duas ficamos rabiscando pedaços de papel e arrancando os cabelos. Passamos três horas num único problema, e toda resposta estava errada. – Eu não era nada boa em trigonometria na escola – mamãe gemeu, fechando o livro com força. – E esqueci o pouco que aprendi. Papai estava na sala remexendo nas plantas de celeiros e resmungando consigo mesmo. Observei-o fazer esboços das plantas, refazendo cálculos, alterando um ângulo ou aumentando uma viga. Papai tinha pouca educação formal em matemática, mas era impossível duvidar de sua aptidão.
Eu sabia que, se pusesse a equação diante dele, ele resolveria. Quando falei com papai que planejava ir para a faculdade, ele disse que lugar de mulher era em casa, que eu deveria aprender a usar ervas – a “farmácia de Deus”, ele exclamou, sorrindo – para assumir o lugar de mamãe. Falou muito mais, é claro, sobre como eu estava me vendendo ao conhecimento dos homens em vez do de Deus, mas ainda assim decidi perguntar a ele sobre trigonometria. Eu tinha certeza de que ele possuía aquela lasca de conhecimento dos homens. Escrevi o problema numa folha em branco. Papai não levantou os olhos quando me aproximei, e devagar, com cuidado, delizei o papel para cima das plantas. – Papai, você pode resolver isto? Ele me olhou com expressão firme, depois seu olhar se abrandou. Girou o papel, olhou por um momento e começou a rabiscar números e círculos e grandes linhas curvas que dobravam sobre si mesmas. A solução não parecia nada com o que havia no meu livro. Não parecia nada que eu já tivesse visto. Seu bigode se contraía, ele resmungava. Então parou de rabiscar e deu a resposta correta. Perguntei como ele tinha resolvido. – Eu não sei como resolver isso – ele respondeu, me entregando o papel. – Só sei que a resposta é essa. Voltei à cozinha, comparando a equação limpa, balanceada, com aquela desordem de cálculos e rabiscos confusos. Fiquei presa à estranheza daquela página: papai podia comandar essa ciência, decifrar sua linguagem, decodificar sua lógica, curvar, torcer e extrair a verdade dela. Mas, ao passar pelas mãos dele, aquilo se tornava um caos.
Estudei trigonometria durante um mês. Às vezes sonhava com seno, cosseno e tangente, com ângulos misteriosos e turbilhões de cálculos, mas apesar de tudo isso não fiz progressos. Não conseguia aprender trigonometria sozinha. Mas eu sabia de alguém que tinha conseguido. Tyler me disse para encontrá-lo na casa de nossa tia Debbie, que morava perto da Brigham Young University. Eram três horas de carro. Eu me senti desconfortável batendo à porta de minha tia. Era irmã de minha mãe, e Tyler havia morado com ela em seu primeiro ano de BYU, mas isso era tudo o que eu sabia sobre ela. Tyler abriu a porta. Nos instalamos na sala enquanto ela preparava um guisado. Tyler resolveu facilmente as equações, anotando explicações bem ordenadas de cada passo. Ele estava estudando engenharia mecânica, iria se formar como um dos primeiros da turma, e logo começaria um PhD na Purdue University. Minhas equações de trigonometria estavam muito abaixo do nível de Tyler, mas, se ele ficou entediado, não demonstrou. Explicou os princípios, repetindo pacientemente. O portal se abriu um pouquinho e eu espiei lá para dentro. Tyler saiu e Debbie estava pondo um prato de guisado em minhas mãos quando o telefone tocou. Era mamãe. – Houve um acidente em Malad – ela disse.
Mamãe tinha poucas informações. Shawn tinha caído. Caiu de cabeça no chão. Chamaram o resgate e ele foi levado de helicóptero para um hospital em Pocatello. Os médicos não tinham certeza se ele iria sobreviver. Era só o que ela sabia. Eu queria mais, alguma declaração sobre probabilidades, ainda que fosse somente para discordar delas. Queria que ela dissesse “Acho que ele vai ficar bem”, ou até um “Estão
achando que não vai resistir”. Qualquer coisa, menos o que ela ficava dizendo, que era “Eles não sabem”. Mamãe disse que eu deveria ir ao hospital. Imaginei Shawn em uma maca branca, a vida se esvaindo dele. Senti uma onda de perda tão grande que meus joelhos quase se dobraram, mas em seguida senti algo mais: alívio. Uma tempestade vinha se aproximando, com previsão de um metro de neve em Sardine Canyon, que guardava a entrada para o nosso vale. O carro de mamãe, que eu tinha dirigido para a casa de Debbie, estava com pneus carecas. Falei para mamãe que eu não conseguiria passar.
A história da queda de Shawn chegou a mim em pedaços, trechos fracos de narrativas de Luke e Benjamin, que estavam lá. Era uma tarde gélida e o vento forte levantava nuvens de poeira fina. Shawn estava em um andaime improvisado de madeira a seis metros de altura. Três metros e meio abaixo do andaime havia uma parede de concreto em construção, com vergalhões ainda espetados para fora. Não sei ao certo o que Shawn estava fazendo no andaime, mas devia estar fixando toras ou soldando, porque era o tipo de trabalho que ele fazia. Papai operava a empilhadeira. Ouvi relatos desencontrados sobre a queda de Shawn.[6] Alguém falou que papai moveu a braçadeira inesperadamente e Shawn se desequilibrou. Mas o consenso era que Shawn estava muito na beirada, e não se sabe por que ele deu um passo para trás e perdeu o equilíbrio. Meu irmão despencou por três metros e meio, seu corpo se revolveu no ar, de modo que bateu de cabeça nos vergalhões da parede de concreto e caiu os dois metros e meio restantes no chão de terra.
Assim me foi descrita a queda de Shawn, mas minha mente escreve a cena de modo diferente – em uma página em branco com linhas uniformemente espaçadas. Ele ascende, cai inclinado, atinge o vergalhão e volta ao chão. Percebo um triângulo. O evento me leva a pensar nestes termos. Assim a lógica da página se rende ao meu pai. Papai examinou Shawn, que estava desorientado. Tinha uma pupila dilatada e a outra não, mas ninguém sabia o que aquilo significava. Ninguém sabia que significava sangramento no cérebro. Papai disse a Shawn para fazer uma pausa. Luke e Benjamin ajudaram a recostá-lo na picape e voltaram ao trabalho. Os fatos a partir daí são ainda mais nebulosos. A história que ouvi foi que 15 minutos depois Shawn saiu andando pelo canteiro de obras. Papai achou que ele estava bem e ordenou que subisse no andaime, mas Shawn, que não gostava que mandassem nele, começou a gritar com papai sobre tudo – o equipamento, o projeto do celeiro, o pagamento. Gritou até ficar rouco, e quando papai achou que ele tinha se acalmado, Shawn o agarrou pela cintura e o jogou longe, como um saco de batatas. Antes que papai se pusesse de pé, Shawn saiu correndo, pulando, berrando, gargalhando, e Luke e Benjamin, agora certos de que algo estava muito errado, saíram atrás dele. Luke o alcançou primeiro, mas não conseguiu pará-lo, Benjamin ajudou com seu peso e Shawn diminuiu um pouco a corrida. Mas foi só quando todos os três o derrubaram no chão, onde, por estar resistindo, bateu forte com a cabeça, que ele finalmente ficou imóvel. Ninguém me contou o que aconteceu quando Shawn bateu a cabeça pela segunda vez. Se teve uma convulsão, se vomitou ou perdeu a consciência, não sei. Mas foi tão
assustador que alguém – talvez papai, ou provavelmente Benjamin – chamou a emergência, o que nenhum membro da família jamais fizera. Foram avisados de que um helicóptero chegaria em minutos. Mais tarde os médicos especularam que, quando papai, Luke e Benjamin derrubaram Shawn – que tinha uma concussão –, ele já estava em condição crítica. Disseram que só por milagre meu irmão não havia morrido no momento em que sua cabeça bateu no chão. Tenho dificuldade em imaginar a cena enquanto esperavam pelo helicóptero. Papai disse que, quando os paramédicos chegaram, Shawn estava chorando, chamando mamãe. Quando chegou ao hospital, seu estado mental tinha mudado. Ele ficou nu na maca, os olhos saltados, injetados, berrando que iria arrancar os olhos do primeiro desgraçado que chegasse perto dele. Então desfaleceu entre soluços e, finalmente, perdeu a consciência.
Shawn sobreviveu àquela noite. De manhã fui de carro ao Buck’s Peak. Não sabia explicar por que não corri à beira do leito do meu irmão. Falei para mamãe que ia trabalhar. – Ele está chamando por você – ela disse. – Você falou que ele não está reconhecendo ninguém. – Não está. Mas a enfermeira me perguntou se ele conhece alguém chamado Tara. Ficou repetindo seu nome de manhã, dormindo ou acordado. Eu falei que Tara é irmã dele, e agora estão dizendo que seria bom você ir lá. Se ele reconhecer você, já é alguma coisa. Foi o único nome que ele falou desde que chegou ao hospital. Fiquei calada.
– Eu pago a gasolina – mamãe disse. Achou que eu não iria por causa dos trinta dólares de combustível. Fiquei envergonhada por ela pensar assim, mas, se não fosse pelo dinheiro, eu não tinha motivo algum. – Estou indo. Estranhamente, eu me lembro muito pouco do hospital e de como estava meu irmão. Recordo vagamente de sua cabeça enrolada em ataduras, e quando perguntei por quê, mamãe falou que os médicos tinham feito uma cirurgia, cortando o crânio para aliviar a pressão ou estancar um sangramento ou reparar algum dano. Na verdade, não me lembro o que ela disse. Shawn estava se debatendo, agitado como uma criança com febre. Fiquei com ele durante uma hora. Abriu os olhos algumas vezes, mas se estava consciente não me reconheceu. Quando voltei no dia seguinte, estava acordado. Entrei no quarto e ele piscou e olhou para mamãe, como se para confirmar que ela também estava me vendo. – Você veio – ele falou. – Achei que não viria. Pegou minha mão e adormeceu. Olhei para seu rosto, para as ataduras em torno da testa e das orelhas, e purguei minha amargura. Entendi então por que não quis vir antes. Eu tinha medo de como me sentiria. Medo de que, se ele morresse, eu acharia bom. Certamente os médicos queriam mantê-lo no hospital, mas não tínhamos plano de saúde e a conta já era tão alta que Shawn passaria mais de dez anos pagando. No momento em que ele ficou estável o suficiente para ser deslocado, nós o levamos para casa. Ficou dois meses no sofá da sala da frente. Estava fisicamente fraco, o máximo que conseguia era ir ao banheiro e voltar. Havia perdido completamente a audição em um ouvido e tinha problemas para ouvir com o outro,
por isso virava a cabeça quando alguém falava com ele, orientando o ouvido melhor, não os olhos, naquela direção. À exceção desse estranho movimento e das ataduras, ele parecia normal, sem inchaço, sem machucados. Segundo os médicos, isso era porque a lesão fora muito grave: a falta de sinais externos indicava que o dano era totalmente interno. Levei algum tempo para entender que, embora Shawn parecesse o mesmo, não era. Parecia lúcido, mas, ouvindo atentamente, suas histórias não faziam sentido. Não eram histórias, mas uma tangente após a outra. Eu me senti culpada por não ter ido visitá-lo imediatamente no hospital e, para compensar, pedi demissão do emprego para cuidar dele dia e noite. Se queria água, eu buscava; se tinha fome, eu fazia comida. Sadie começou a aparecer, e Shawn a recebia bem. Eu ansiava pelas visitas dela porque me davam tempo para estudar. Mamãe achava importante que eu ficasse com Shawn, e por isso ninguém me interrompia. Pela primeira vez na vida, eu tinha bastante tempo para aprender, sem precisar catar sucata, misturar tinturas ou contar o estoque de Randy. Examinei as anotações de Tyler, li e reli suas minuciosas explicações. Depois de algumas semanas, por mágica ou milagre, os conceitos se firmaram. Retomei o livro de exercícios. Álgebra avançada ainda era indecifrável – aquilo vinha de um mundo além da minha capacidade de compreensão –, mas a trigonometria se tornou inteligível, mensagens escritas numa linguagem que eu conseguia entender, vindas de um mundo de lógica e ordem que só existia em tinta preta sobre papel branco. O mundo real, enquanto isso, mergulhava no caos. Os médicos disseram a mamãe que a lesão podia ter alterado a personalidade de Shawn, que no hospital ele mostrou
tendências a volatilidade e até violência, e essa mudança poderia ser permanente. Ele se entregava à raiva, momentos de fúria cega em que só queria agredir alguém. Tinha uma intuição para a maldade, para dizer a coisa mais perversa e ferina, e mamãe passava a maioria das noites chorando. Esses ataques de raiva mudaram, pioravam à medida que sua força física voltava, e eu me vi limpando o vaso sanitário todas as manhãs, sabendo que minha cabeça poderia estar enfiada ali antes do almoço. Mamãe disse que eu era a única pessoa capaz de acalmá-lo, e me convenci de que era verdade. Quem melhor que eu?, pensei. Ele não me afeta. Refletindo sobre isso agora, não sei se a lesão mudou Shawn tanto assim, mas me convenci de que sim, de que qualquer crueldade da parte dele era inteiramente nova. Lendo meus diários desse período, posso traçar a evolução de uma menina reescrevendo sua história. Na realidade que ela construiu para si mesma, jamais tinha havido nada de errado antes que seu irmão caísse do andaime. Eu queria ter meu melhor amigo de volta, ela escreveu. Antes da lesão dele, nada nunca havia me machucado. 6 Meu relato da queda de Shawn se baseia na história que me contaram na ocasião. Contaram a mesma história a Tyler; de fato, muitos detalhes deste relato vêm das lembranças dele. Quando perguntei, 15 anos depois, outras pessoas tinham recordações diferentes. Mamãe diz que Shawn não estava de pé num andaime, mas no garfo da empilhadeira. Luke se lembra do andaime, mas troca o vergalhão por um dreno de metal sem a grade. Ele diz que a queda foi de três metros e meio e que Shawn começou a agir de modo esquisito tão logo recobrou a consciência. Luke não se recorda de quem chamou a emergência, mas diz que alguns homens trabalhavam ali perto num moinho e acha que pode ter sido um deles que telefonou logo depois que Shawn caiu.
Capítulo 15
Não mais uma criança
Houve um momento naquele inverno. Ajoelhada no tapete, eu ouvia papai dar testemunho da vocação de mamãe para curar quando de repente respirei pesado como se tivesse levado um susto e senti um enorme peso ser arrancado de dentro de mim. Não via mais meus pais, nem a sala. O que eu via era uma mulher adulta, com as próprias ideias, suas orações, que não se sentava mais como uma criança aos pés do pai. Vi a barriga inchada da mulher, e era a minha barriga. Ao lado dela estava a mãe, a parteira. Ela pegou a mão da mãe e disse que queria que o filho nascesse no hospital, com um médico. Eu levo você, disse a mãe. A mulher foi em direção à porta, mas esta estava bloqueada – pela lealdade, pela obediência. Por seu pai. Ele ficou lá, imóvel. Mas a mulher era filha dele, e tinha trazido para si toda a convicção, toda a gravidade dele. Ela o afastou e passou pela porta. Tentei imaginar que futuro essa mulher poderia reivindicar para si mesma. Procurei evocar outras cenas em que ela e o pai divergiam. Quando ela ignorava o conselho dele e seguia o próprio juízo. Mas meu pai me ensinara que não existem duas opiniões razoáveis sobre um mesmo
tema. Existe a Verdade e existem Mentiras. Ajoelhada no tapete, ouvindo meu pai, mas estudando aquela estranha, me senti suspensa entre eles, atraída por cada um, repelida por ambos. Entendi que nenhum futuro poderia comportar os dois. Nenhum destino poderia tolerar ele e ela. Ou eu permaneceria criança para sempre, ou o perderia.
Deitada
na cama, vendo as sombras do abajur fraco projetadas no teto, ouvi a voz de meu pai na porta. Instintivamente pulei da cama e fiquei de pé numa espécie de saudação, mas uma vez em pé não sabia o que fazer. Não havia precedente para aquilo. Meu pai nunca ia ao meu quarto. Ele passou por mim, sentou na cama e deu tapinhas no lugar ao seu lado. Sentei ao lado dele, nervosa, meus pés mal tocando o chão. Esperei que ele falasse, mas os momentos passavam em silêncio. Seus olhos estavam fechados, o queixo relaxado, como se ele estivesse ouvindo vozes seráficas. – Eu estive orando – ele disse. Sua voz era suave, uma voz amorosa. – Estive orando sobre sua decisão de ir para a faculdade. Seus olhos se abriram. Suas pupilas haviam se dilatado à luz do abajur, absorvendo o castanho das íris. Nunca tinha visto olhos tão dados ao negror; pareciam sobrenaturais, sinais de poder espiritual. – O Senhor me chamou a testemunhar. Ele está descontente. Você deixou de lado as bênçãos Dele para se vender aos conhecimentos do homem. A ira Dele foi despertada contra você. Não tardará a chegar. Não me lembro de meu pai se levantar para sair, mas deve ter ido, enquanto eu ficava tomada pelo medo. A ira
de Deus havia destruído cidades, inundado o mundo inteiro. Me senti fraca e totalmente impotente. Lembrei que minha vida não era minha. Eu poderia ser retirada do meu corpo a qualquer momento, ser arrastada para o céu e ser avaliada por um Pai furioso. Na manhã seguinte encontrei mamãe misturando óleos na cozinha. – Eu decidi não ir para a BYU – eu disse. Ela olhou para cima, fixando os olhos na parede atrás de mim, e sussurrou: – Não diga isso. Não quero ouvir isso. Não entendi. Achei que ela fosse ficar contente ao ver eu me curvar a Deus. Seu olhar se voltou para mim. Havia anos que eu não sentia aquela força do seu olhar, e fiquei perplexa. – De todos os meus filhos, você foi a única que eu pensei que fosse embora daqui como um raio. Não esperava isso de Tyler, foi uma surpresa, mas de você. Não fique aqui. Vá. Não deixe que nada a impeça de ir. Ouvi os passos de papai na escada. Mamãe suspirou e seu olhar estremeceu, como se ela tivesse saído de um transe. Papai se sentou à mesa da cozinha e mamãe se levantou para fazer o café da manhã dele. Ele começou um sermão sobre professores liberais, e mamãe preparou a massa de panquecas, murmurando periodicamente um assentimento.
Sem
Shawn na supervisão, o negócio de construção de papai definhou. Eu havia deixado o emprego com Randy para tomar conta de Shawn. Agora precisava de dinheiro, e por isso, quando papai voltou a recolher sucata naquele inverno, eu também voltei.
Era uma manhã gelada, muito como a primeira, quando retornei ao ferro-velho, que tinha mudado. Ainda havia pilhas de carros sucateados, mas já não dominavam a paisagem. Poucos anos antes, papai tinha sido contratado pela Utah Power para desmontar centenas de torres de transmissão. Foi autorizado a ficar com as barras de ferro angulares, que agora estavam empilhadas – mais de 180 toneladas – em montanhas emaranhadas por todo o terreno. Todos os dias eu acordava às seis da manhã para estudar, porque era mais fácil me concentrar de manhã, antes de ficar exausta de tanto separar sucata. Embora ainda temerosa da ira de Deus, raciocinei que era tão improvável passar no ACT que seria preciso um ato Dele. E se Deus agisse, certamente era vontade Dele que eu fosse para a faculdade. O ACT se compunha de quatro partes: matemática, inglês, ciências e leitura. Meus conhecimentos de matemática vinham melhorando, mas não eram fortes. Apesar de saber responder a maioria das questões nos simulados, eu era lenta, precisava do dobro ou o triplo do tempo concedido. Não possuía nenhum conhecimento básico de gramática, mas estava aprendendo, começando com substantivos e passando a preposições e gerúndios. Ciências era um mistério, talvez porque o único livro que li tinha as páginas destacáveis para colorir. Das quatro partes, leitura era a única em que me sentia confiante. A BYU era uma faculdade competitiva. Eu precisava de uma nota alta, pelo menos um 27, que significava estar entre os 15 por cento melhores do meu grupo. Aos 16 anos, eu nunca tinha feito uma prova, e só recentemente havia me dedicado a algo semelhante a um estudo sistemático. Mesmo assim, me inscrevi para fazer o teste. Sentia como
se estivesse jogando dados, não estava mais em minhas mãos. Deus daria o resultado. Na véspera da prova, não dormi. Meu cérebro invocava tantas cenas de desatres que eu queimava como se estivesse com febre. Às cinco me levantei, tomei café da manhã e dirigi os sessenta quilômetros até a Utah State University. Fui conduzida a uma sala branca com trinta alunos, que tomaram seus lugares e colocaram seus lápis nas carteiras. Uma mulher de meia-idade distribuiu as provas e umas folhas de papel cor-de-rosa esquisitas que eu nunca vira antes. – Desculpe – disse eu, quando ela me deu o meu. – O que é isso? – É a folha de respostas. Para você marcar. – Como funciona? – perguntei. – Igual a qualquer folha de respostas. Ela ia se afastando, visivelmente irritada, como se eu estivesse pregando uma peça. – Eu nunca usei uma. Ela me analisou por alguns instantes. – Marque os quadradinhos com a resposta correta. Preencha bem todo o quadradinho. Entendeu? Começou a prova. Eu nunca havia me sentado numa carteira durante quatro horas numa sala cheia de gente. O barulho era inacreditável, mas eu parecia ser a única pessoa a ouvir, a única a não conseguir desviar a atenção do farfalhar das folhas virando e dos lápis raspando em papel. Quando terminou, suspeitei que havia fracassado em matemática e tinha certeza de não passar em ciências. Minhas respostas na parte de ciências não podiam nem ser chamadas de chutes. Eram aleatórias, uma estampa de pontinhos naquela estranha folha cor-de-rosa.
Voltei para casa. Me sentia idiota, porém mais que idiota, me sentia ridícula. Agora que eu tinha visto os estudantes, havia observado enquanto entravam na sala em fileiras ordenadas, sentavam-se em seus lugares e preenchiam calmamente a folha de respostas como se estivessem seguindo uma rotina, parecia absurdo que eu tivesse pensado em me colocar entre os 15 por cento melhores. Aquele era o mundo deles. Vesti o macacão e voltei ao meu.
Num
dia excepcionalmente quente naquela primavera, Luke e eu fomos buscar vigas, barras de ferro horizontais para sustentação de um telhado. As vigas eram pesadas e o sol, inclemente. O suor pingava do nosso rosto e caía no ferro pintado. Luke tirou a camisa e rasgou as mangas, deixando grandes buracos por onde a brisa podia entrar. Eu nem sonharia em fazer algo tão radical, mas depois da vigésima viga minhas costas estavam tão empapadas de suor que me abanei com a camiseta e enrolei as mangas até dois centímetros de meus ombros ficarem descobertos. Pouco depois papai me viu, avançou em minha direção e desenrolou com um puxão as mangas da camiseta. – Isso aqui não é bordel – ele disse. Fiquei olhando ele se afastar e, mecanicamente, como se não fosse eu tomando a decisão, enrolei as mangas novamente. Ele voltou uma hora depois e, quando me viu, parou a meio caminho, confuso. Tinha me dito o que fazer e eu não fizera. Ficou parado, meio indeciso, depois veio rapidamente, pegou as duas mangas e as puxou com força para baixo. Mal tinha dado dez passos, tornei a enrolá-las. Eu queria obedecer. Tinha toda a intenção. Mas a tarde estava tão quente, e a brisa em meus braços tão bem-
vinda. Eram só alguns centímetros. Estava coberta de sujeira da cabeça aos pés. À noite, eu levaria meia hora para escavar a sujeira preta das orelhas e das narinas. Não me sentia muito como objeto de desejo ou tentação, mas sim como uma empilhadeira humana. Qual o problema de dois centímetros de pele?
Eu guardava meu salário, caso precisasse do dinheiro para pagar as mensalidades. Papai descobriu e passou a me cobrar coisas pequenas. Mamãe tinha voltado a fazer seguro depois do segundo acidente com o carro, e papai disse que eu precisava pagar minha parte. Assim fiz. Depois, ele queria mais, para o registro. – Essas taxas do governo quebram a gente – ele falou quando lhe dei o dinheiro. Isso satisfez papai até chegar o resultado da prova. Quando voltei do ferro-velho, encontrei um envelope branco. Abri, sujando o papel de graxa, e passei direto pelas notas para ver o total. Vinte e dois. Meu coração batia alto, batidas felizes. Não era 27, mas abria possibilidades. Talvez a Idaho State University. Mostrei para mamãe e ela contou ao papai. Ele ficou agitado e gritou que era hora de eu me mudar. – Se ela tem idade para ter um salário, tem idade para pagar um aluguel! – papai berrou. – E pode pagar em outro lugar. A princípio mamãe discutiu com ele, mas em questão de minutos ele a convenceu. De pé na cozinha, analisando minhas opções, pensando que eu acabara de dar a papai quatrocentos dólares, um terço de minhas economias, ouvi mamãe dizer, virando-se para mim:
– Você acha que consegue se mudar até sexta? Alguma coisa se quebrou dentro de mim, uma represa, um dique. Eu me senti jogada longe, incapaz de me manter no lugar. Gritei, mas os gritos ficaram estrangulados; eu estava me afogando. Não tinha para onde ir. Não podia pagar o aluguel de um apartamento, e ainda que pudesse, os únicos apartamentos para alugar eram na cidade. Então eu precisaria de um carro. Eu só tinha oitocentos dólares. Despejei tudo isso para mamãe, corri para meu quarto e bati a porta. Ela bateu à porta logo depois. – Sei que você acha que estamos sendo injustos, mas quando eu tinha sua idade já estava vivendo por minha conta, me preparando para casar com seu pai. – Você se casou aos 16 anos? – Não seja boba, você não tem 16 anos. Olhei firme para ela. Ela olhou firme para mim. – Tenho sim. Tenho 16 anos. Ela me olhou, me examinando. – Você tem pelo menos 20 – ela disse, inclinando a cabeça para o lado. – Não tem? Ficamos em silêncio. Meu coração batia acelerado no peito. – Fiz 16 em setembro. – Ah. Mamãe mordeu o lábio, ficou de pé e sorriu. – Bem, então não se preocupe com isso. Pode ficar. Não sei o que seu pai estava pensando. Acho que nos esquecemos. É difícil acompanhar a idade de vocês.
Shawn
voltou ao trabalho, mancando, meio cambaleante. Usava um chapéu australiano, de aba larga, feito de couro
oleado marrom-chocolate. Antes do acidente, ele só usava aquele chapéu para cavalgar, mas agora ficava com ele o tempo todo, mesmo em casa, o que papai achava desrespeitoso. Desrespeitar papai devia ser o objetivo de Shawn, mas suspeito que outra razão era o fato de ser grande, confortável e cobrir as cicatrizes da cirurgia. A princípio, ele trabalhou períodos curtos. Papai tinha contrato para construir um estábulo em Oneida County, a cerca de trinta quilômetros de Buck’s Peak, e Shawn ficava por lá ajustando o projeto e medindo vigas. Luke, Benjamin e eu recolhíamos sucata. Papai decidira que era hora de dar rumo às barras angulares espalhadas por toda a fazenda. Para ser vendida, cada barra precisava medir menos de 1,20 metro. Shawn sugeriu cortar o ferro com maçarico, mas papai disse que iria demorar demais e gastava muito combustível. Dias depois papai chegou em casa com a máquina mais assustadora que eu já vira. Ele a chamava de Cisalha. À primeira vista parecia uma tesoura de três toneladas, e era exatamente isso. As lâminas eram de ferro denso, com trinta centímetros de espessura e 1,50 metro de comprimento. Não eram afiadas, cortavam puramente pela força e massa. Mordiam com enormes mandíbulas, impulsionadas por um pesado pistão acoplado a uma enorme roda de ferro. Essa roda estava ligada ao motor por uma correia, o que significava que se alguma coisa entrasse na máquina levaria de trinta segundos a um minuto pelo menos para fazer parar a roda e as lâminas. Elas subiam e desciam, rugindo mais alto que um trem, mastigando ferros mais grossos que um braço humano. O ferro era mais quebrado que cortado. Às vezes dava um tranco, empurrando o que quer que a estivesse travando na direção das mordidas das lâminas cegas.
Ao longo dos anos, papai tinha inventado artefatos perigosos, mas esse foi o primeiro que realmente me assustou. Talvez pela óbvia letalidade daquilo, a certeza de que um movimento em falso custaria um braço ou uma perna. Ou talvez porque fosse absolutamente desnecessário. Era uma condescendência. Como um brinquedo, se um brinquedo pudesse arrancar uma cabeça fora. Shawn a chamava de máquina da morte, dizendo que papai havia perdido o pouco juízo que tinha. – Você está tentando matar alguém? – ele disse. – Porque eu tenho uma arma no caminhão que faz muito menos sujeira. Papai não pôde conter o sorriso. Eu nunca o vira tão extasiado. Shawn foi cambaleando para a oficina, balançando a cabeça. Papai começou a alimentar a Cisalha com ferro. Cada peça o puxava para a frente, e por duas vezes ele quase mergulhou de cabeça entre as lâminas. Fechei os olhos com força, sabendo que se papai fosse apanhado as lâminas não iriam nem diminuir o ritmo, só cortariam o pescoço dele e continuariam mastigando. Agora, com a certeza de que a máquina funcionava bem, papai fez um gesto para Luke assumir a operação. Luke, sempre pronto a agradar, se adiantou. Cinco minutos depois, com uma mordida no braço chegando até o osso, correu para casa com o sangue espirrando. Papai deu uma olhada na equipe. Fez um gesto para Benjamin, mas ele recusou, dizendo que gostava dos seus dedos grudados na mão, muito obrigado. Papai olhou pensativamente para a casa, e imaginei ele pensando quanto tempo mamãe levaria para estancar o sangue de Luke. Então seus olhos pousaram em mim.
– Venha cá, Tara. Não me mexi. – Venha aqui. Fui andando devagar, sem piscar, olhando para a Cisalha como se ela pudesse me atacar. O sangue de Luke ainda estava na lâmina. Papai pegou uma barra de 1,80 metro de ferro angular e me entregou a ponta. – Segure bem firme – ele disse. – Mas, se sentir puxar, solte. As lâminas mastigavam, roncando, subindo e descendo – um aviso, pensei, como um rosnado de cachorro, para sair correndo dali. Mas a mania de papai por máquinas o levara além do alcance da razão. – É fácil – ele disse. Orei ao alimentar as lâminas com a primeira barra. Não para evitar me cortar, pois não havia essa possibilidade, mas para que o corte fosse como o de Luke, um pedaço de carne, e eu também poderia ir para casa. Fui escolhendo as peças menores, torcendo para meu peso compensar o puxão. As peças pequenas acabaram. Peguei a menor das restantes, mas o metal ainda era muito grosso. Enfiei e esperei que as mandíbulas se fechassem. O barulho de ferro sólido sendo fraturado era ensurdecedor. O ferro puxou, me levando tão para frente que meus pés se levantaram do chão. Larguei e caí, e o ferro, agora livre e sendo mastigado violentamente, foi lançado no ar e despencou bem ao meu lado. – QUE DIABOS ESTÁ ACONTECENDO AÍ? Shawn apareceu no meu campo de visão. Veio correndo, me levantou e se virou para encarar papai. – Cinco minutos atrás esse monstro quase arrancou o braço de Luke! E você põe Tara aqui? – Ela é fortona – disse papai, piscando para mim.
Shawn esbugalhou os olhos. Papai esperava que ele levasse na brincadeira, mas ficou apoplético. – Vai arrancar a cabeça dela fora! – ele berrou. Virou para mim e apontou na direção da oficina. – Vá fazer juntas para aquelas vigas. Não quero que você chegue perto dessa coisa de novo. Papai deu um passo à frente. – É a minha equipe. Você trabalha para mim, e Tara também. Eu mandei ela operar a Cisalha e ela vai operar. Ficaram 15 minutos gritando um com o outro. Era uma briga diferente das que tiveram antes. Era desenfreada, cheia de ódio. Nunca tinha visto alguém berrar com meu pai daquele jeito. Fiquei perplexa e, depois, com medo da mudança marcada em suas feições. Seu rosto se transformou, ficou rígido, desesperado. Shawn havia despertado algo em papai, algum instinto primitivo. Papai não poderia manter a pose se perdesse a discussão. Se eu não operasse a Cisalha, ele não seria mais o papai. Shawn pulou para a frente e bateu com força no peito de papai. Papai tropeçou para trás, se desequilibrou e caiu. Ficou deitado na lama, chocado por um instante, mas se pôs de pé e avançou sobre o filho. Shawn levantou os braços para bloquear o soco, e quando papai viu isso baixou os punhos, talvez lembrando que Shawn havia recuperado a capacidade de andar apenas recentemente. – Eu mandei e ela vai fazer – papai falou baixo e com raiva. – Ou não vai mais morar sob o meu teto. Shawn olhou para mim. Por um momento deve ter cogitado me ajudar a fazer a mala. Afinal, ele havia fugido de papai quando tinha a minha idade, mas sacudi a cabeça. Eu não iria embora daquele jeito. Iria operar a Cisalha primeiro, e Shawn sabia disso. Ele olhou para a Cisalha, para a pilha ao lado, mais de vinte toneladas de ferro.
– Ela vai fazer – ele disse. Papai pareceu crescer dez centímetros. Shawn se abaixou um pouco oscilante, pegou uma barra pesada e a lançou na direção da Cisalha. – Não seja idiota – papai disse. – Se ela vai, eu também vou – disse Shawn. Não havia mais briga na voz dele. Eu nunca tinha visto Shawn ceder a papai, nem uma só vez, mas ele decidiu perder a discussão. Entendeu que, se ele não se sujeitasse, eu certamente me sujeitaria. – Você é meu supervisor! – papai berrou. – Preciso de você em Oneida, não remexendo em sucata! – Então desligue a Cisalha. Papai se afastou praguejando, exasperado, mas provavelmente achando que Shawn iria se cansar e voltaria à supervisão antes do jantar. Quando Shawn viu papai se afastar, falou: – Ok, Nais Mova. Você traz as peças e eu enfio. Se o ferro for grosso, de um centímetro, por exemplo, preciso do seu peso na ponta de trás para eu não ser lançado nas lâminas. Está bem? Shawn e eu passamos um mês operando a Cisalha. Papai era teimoso demais para desativar a máquina, apesar de custar mais caro ter o supervisor trabalhando nela do que cortar o ferro com maçarico. Quando terminamos, eu tinha alguns machucados, mas não estava ferida. Shawn parecia esgotado. Fazia poucos meses desde a queda do andaime, e seu corpo não aguentava o desgaste. Foi atingido muitas vezes na cabeça por uma barra de ferro que virou num ângulo inesperado. Quando isso acontecia, ele se sentava no chão por uns minutos, com as mãos cobrindo os olhos, depois se levantava e pegava outra barra. À noite, ele ficava deitado no chão da cozinha, com a camisa manchada
e o jeans empoeirado, exausto demais até para tomar banho. Eu pegava toda a comida e água que ele pedia. Sadie aparecia regularmente, e nós corríamos juntas para atender quando ele pedia gelo, depois sem gelo, depois com gelo de novo. Éramos duas Olhos de Peixe. Na manhã seguinte, Shawn e eu voltamos à Cisalha. Ele enfiava o ferro entre as mandíbulas da máquina, que o mastigava com tanta força que tirava os pés dele do chão com a maior facilidade, como se fosse uma brincadeira, como se ele fosse um menino.
Capítulo 16
Homem desleal, céu desobediente
Teve início a construção do estábulo em Oneida. Shawn projetou e soldou a estrutura principal – as vigas maciças que formam o esqueleto do prédio. Pesadas demais para a máquina carregadora, somente um guindaste poderia erguê-las. Era uma operação delicada, exigindo que os soldadores equilibrassem as pontas da viga enquanto era baixada sobre as colunas e, depois, soldadas no lugar. Shawn surpreendeu a todos quando disse que eu deveria operar o guindaste. – Tara não pode operar o guindaste – papai falou. – Vai me tomar metade da manhã para ensinar a ela os controles, e ainda assim ela não vai saber que diabos está fazendo. – Mas ela vai ter cuidado – disse Shawn –, e eu estou cansado de cair dessas porcarias. Uma hora depois eu estava na cabine do guindaste, com Shawn e Luke em cada ponta da viga, a seis metros do chão. Mexi na alavanca com delicadeza, prestando atenção no leve silvo dos cilindros hidráulicos enquanto o braço se elevava. “Pare!”, Shawn gritou quando a viga chegou no lugar; depois baixaram suas máscaras e começaram a soldar.
O fato de eu operar o guindaste foi uma das inúmeras disputas com papai que Shawn venceu naquele verão. A maioria não foi resolvida de forma tão pacífica. Eles discutiam quase todo dia, fosse por um erro no projeto, fosse por uma ferramenta esquecida em casa. Papai parecia estar ansioso para brigar, para mostrar quem é que mandava. Uma tarde ficou parado bem junto de Shawn, observando enquanto ele soldava. Um minuto depois, sem motivo algum, começou a gritar que Shawn tinha tirado tempo demais para o almoço, que não trazia a equipe para trabalhar cedo, que não fazia a gente trabalhar o suficiente. Papai ficou bastante tempo gritando, depois Shawn tirou a máscara de solda, olhou para ele calmamente e disse: – Vai calar a boca para eu poder trabalhar? Papai continuou gritando. Disse que Shawn era preguiçoso, não sabia liderar a equipe, não entendia o valor do trabalho pesado. Shawn desceu do seu posto e andou lentamente até a carroceria da picape. Papai o seguiu, ainda aos brados. Shawn tirou as luvas devagar, cuidadosamente, um dedo de cada vez, como se não houvesse um homem berrando a 15 centímetros de sua cara. Ficou parado, deixando os desaforos continuarem, depois entrou na picape e saiu dirigindo, largando papai gritando com a poeira. Lembro do espanto que senti ao ver a picape descendo a estrada de terra. Shawn era a única pessoa que eu jamais vira enfrentar papai, o único cuja força mental, cujo puro peso da convicção, fazia com que papai desistisse. Eu já tinha visto papai se enfurecer e gritar com cada um dos meus irmãos. Shawn foi o único que vi sair fora.
Era noite de sábado. Eu me encontrava na casa da vovóda-cidade, meu livro de matemática aberto na mesa da cozinha, um prato de biscoitos ao lado. Estava estudando para refazer o ACT. Eu costumava estudar na casa dela para papai não me passar sermão. O telefone tocou. Era Shawn. Eu queria ver um filme? Sim. Pouco depois ouvi um ronco alto e olhei pela janela. Com aquela estrondosa motocicleta preta e o chapéu australiano de abas largas, ele destoava completamente da cerquinha branca da casa da vovó, que foi fazer brownies, e Shawn subiu para escolher um filme. Pausamos o filme quando vovó trouxe os brownies. Comemos em silêncio, as colheres tilintando sonoras nos pratos de porcelana de vovó. – Você vai fazer os 27 pontos – Shawn falou subitamente, quando terminamos. – Não importa – respondi. – De qualquer jeito, acho que não vou me inscrever. E se papai tiver razão? E se me fizerem uma lavagem cerebral? Shawn deu de ombros. – Você é tão inteligente quanto papai. Se papai tiver razão, você vai saber quando estiver lá. O filme acabou. Demos boa-noite a vovó. Era uma noite amena de verão, perfeita para andar de moto. Shawn disse para eu ir com ele e pegar o carro no dia seguinte. Ele deu a partida, me esperando montar. Dei um passo em direção a ele, mas lembrei que o livro de matemática tinha ficado na mesa da vovó. – Vá indo – eu disse. – Vou logo atrás de você. Shawn ajeitou o chapéu para trás, acelerou a moto e avançou pela rua deserta.
Fui dirigindo num estupor feliz. A noite era negra, naquela escuridão que pertence só à roça, onde as casas são poucas e as luzes da rua são ainda mais escassas, onde a luz das estrelas não tem concorrência. Fui percorrendo a rodovia sinuosa como fizera incontáveis vezes antes, correndo na descida da Bear River Hill, acelerando na reta margeando o Fivemile Creek. Logo adiante havia uma subida e uma curva para a direita. Eu sabia que a curva estava lá, mesmo sem olhar, e fiquei surpresa com os faróis acesos parados na escuridão. Comecei a subida. Havia um pasto à esquerda, um barranco à direita. Quando a subida ficou mais acentuada vi três carros parados junto ao barranco, com as portas abertas e as luzes internas acesas. Sete ou oito pessoas aglomeradas em volta de alguma coisa no chão. Mudei de faixa para desviar deles, mas parei ao ver um pequeno objeto caído no meio da estrada. Era um chapéu australiano de aba larga. Parei no acostamento e corri em direção ao ajuntamento. – Shawn! – gritei. As pessoas abriram caminho para eu passar. Shawn estava de cara no chão, numa poça de sangue que parecia rosada à luz dos faróis. Não se movia. – Ele bateu numa vaca na curva – disse um homem. – A noite está tão escura que ele não viu. Chamamos a ambulância. Achamos melhor não mexer nele. O corpo de Shawn estava contorcido, as costas tortas. Não se sabia quanto tempo a ambulância iria levar, e havia muito sangue. Decidi estancar o sangramento. Enfiei as mãos sob os ombros dele e tentei levantá-lo, mas não consegui. Olhei em volta e vi um rosto conhecido. Dwain.[7] Ele era um de nós. Mamãe tinha feito o parto de quatro de seus oito filhos.
– Dwain, me ajude a virá-lo. Dwain suspendeu Shawn pelas costas. Por um segundo que durou uma hora fiquei olhando meu irmão, vendo o filete de sangue de sua têmpora escorrendo pela bochecha direita até a camiseta branca. Seus olhos estavam fechados, a boca aberta. O sangue pingava de um buraco na testa do tamanho de uma bola de golfe. Parecia que a têmpora dele fora arrastada no asfalto, arrancando a pele e o osso. Olhei a ferida bem de perto. Uma coisa mole e esponjosa brilhava lá dentro. Tirei a jaqueta e a pressionei contra a cabeça de Shawn. Quando toquei a abrasão, ele deu um longo suspiro e abriu os olhos. – Naismova – murmurou e pareceu perder a consciência. Meu celular estava no bolso. Liguei. Papai atendeu. Eu devia estar desesperada, gaguejando. Falei que Shawn havia batido com a moto, tinha um buraco na cabeça. – Fale devagar. O que aconteceu? Repeti. – O que eu faço? – Traga-o para casa. Sua mãe vai cuidar disso. Abri a boca, mas as palavras não saíam. Finalmente, consegui falar: – Eu não estou brincando. Estou vendo o cérebro dele! – Traga-o para casa. Sua mãe vai cuidar disso. E ouvi o sinal de linha. Ele tinha desligado. Dwain ouvira a conversa. – Eu moro ali, do outro lado do campo – ele disse. – Sua mãe pode tratar dele lá. – Não – respondi. – Papai quer que ele vá para casa. Me ajude a colocá-lo no carro. Shawn gemeu quando o levantamos, mas não tornou a falar. Alguém disse para esperarmos a ambulância. Outra
pessoa falou que nós mesmos o conduzíssemos ao hospital. Acho que ninguém acreditou que o levaríamos para casa com o cérebro quase saindo pela testa. Deitamos Shawn no banco de trás. Peguei o volante e Dwain se sentou no banco do carona. Olhei pelo retrovisor para pegar a rodovia, depois inclinei o espelho para ver o rosto de Shawn, inerte e ensanguentado. Meu pé hesitava no acelerador. Três segundos se passaram, talvez quatro. Foi só isso. Dwain gritava “Vamos embora!”, mas eu mal o ouvia. Estava entregue ao pânico. Meus pensamentos rodavam febrilmente, sem rumo, por uma névoa de ressentimento. Era um estado de sonho, como se a histeria tivesse me libertado de uma ficção na qual, cinco minutos atrás, eu precisara acreditar. Eu nunca tinha pensado sobre o dia em que Shawn caíra do andaime. Não havia o que pensar. Ele tinha caído porque Deus quis que assim fosse. Não havia outro significado além disso. Nunca imaginei como teria sido estar lá. Ver Shawn despencando, se debatendo no ar. Vê-lo colidir, se dobrar e cair imóvel. Nunca tinha me permitido pensar no que acontecera depois. A decisão de papai de deixá-lo na picape, os olhares de preocupação que Luke e Benjamin devem ter trocado. Agora, vendo as marcas no rosto de meu irmão, um riozinho de sangue de cada lado, lembrei. Lembrei que Shawn tinha passado um quarto de hora sentado na picape com o cérebro sangrando. Que havia tido uma convulsão e os rapazes o jogaram no chão, e nessa segunda queda tivera outro ferimento, aquele que os médicos disseram que o teria matado. Foi por isso que Shawn nunca mais fora o mesmo.
Se a primeira queda foi a vontade de Deus, de quem foi a vontade na segunda?
Eu nunca tinha ido ao hospital da cidade, mas foi fácil de achar. Dwain perguntou que diabos eu estava fazendo quando dei meia-volta e acelerei ladeira abaixo. A respiração de Shawn era fraca enquanto eu corria pelo vale, disparava ao longo do Fivemile Creek e subia a Bear River Hill. No hospital, parei na ala de emergência. Dwain e eu passamos pelas portas de vidro carregando Shawn. Gritei por socorro. Uma enfermeira apareceu correndo, depois outra. Shawn estava consciente. Foi levado lá para dentro e me enfiaram na sala de espera. Não tinha como evitar o que eu deveria fazer a seguir. Telefonei para papai. – Está chegando em casa? – ele perguntou. – Estou no hospital. Houve um silêncio. E ele disse: – Estamos indo. Quinze minutos depois, eles estavam lá, e nós três ficamos esperando, meio sem jeito, eu roendo as unhas num sofá azul-pastel, mamãe andando de um lado para outro estalando os dedos e papai sentado, imóvel, debaixo de um relógio de parede barulhento. O médico fez uma ressonância em Shawn. Falou que a ferida era feia, mas o dano havia sido mínimo. Lembrei do que o último médico me dissera, que, em casos de ferimento na cabeça, geralmente os que parecem piores são na verdade os menos graves, e me senti idiota por ter entrado em pânico e levado Shawn para lá. O buraco no osso era pequeno, disse o médico. Podia se recompor
sozinho, ou um cirurgião poderia colocar uma placa de metal. Shawn disse que queria ver sarar, então o médico puxou a pele sobre o buraco e suturou. Levamos Shawn para casa às três da madrugada. Papai foi dirigindo, mamãe ao lado dele, eu no banco de trás com Shawn. Ninguém falou. Papai não gritou, nem passou sermão. Na verdade, ele nunca mais falou sobre aquela noite. Mas havia algo no modo como ele fixava o olhar, nunca olhando diretamente para mim, que me levava a pensar em uma bifurcação na estrada em que eu tinha seguido por um lado e ele por outro. Depois daquela noite, nunca mais se questionou se eu iria embora ou se ficaria. Era como se estivéssemos vivendo no futuro, e eu já tivesse ido. Hoje, quando penso naquela noite, não penso na estrada escura nem em meu irmão caído na poça de sangue. Penso na sala de espera, no sofá azul e nas paredes claras. Sinto o odor estéril. Escuto o tique-taque do relógio de plástico. Sentado à minha frente está meu pai. Vendo seu rosto gasto, uma verdade me atinge com tanta força que não sei por que nunca a entendi antes. A verdade é: eu não sou uma boa filha. Sou uma traidora, uma loba entre as ovelhas. Há algo de diferente em mim, e essa diferença não é boa. Tenho vontade de berrar, de chorar nos joelhos de meu pai e prometer nunca mais fazer isso. Mas loba que sou, não me rebaixo a mentir, e de qualquer maneira ele iria farejar a mentira. Nós dois sabíamos que se algum dia eu tornasse a ver Shawn caído na estrada, encharcado de sangue, faria exatamente o que tinha feito. Não estou arrependida, apenas envergonhada.
O
envelope chegou três semanas depois, justamente quando Shawn estava conseguindo recomeçar a andar. Abri, me sentindo anestesiada, como se estivesse lendo minha sentença depois do veredicto. Olhei rapidamente a relação de resultados e fui direto ao total de pontos. Vinte e oito. Olhei de novo. Conferi meu nome. Não havia erro. De algum modo – e só podia ser por milagre –, eu tinha conseguido. Meu primeiro pensamento foi uma resolução. Tomei a decisão de nunca mais trabalhar para meu pai. Dirigi até a única mercearia da cidade, chamada Stokes, e me candidatei a uma vaga de empacotadora. Eu tinha só 16 anos, mas não contei ao gerente. Ele me contratou para trabalhar quarenta horas por semana. Meu primeiro turno começava às quatro da manhã do dia seguinte. Quando cheguei em casa meu pai estava dirigindo a empilhadeira no ferro-velho. Subi na escada e me agarrei no braço da empilhadeira. Por cima do barulho do motor, falei que tinha arrumado um emprego, mas podia operar o guindaste na parte da tarde até ele contratar outra pessoa. Ele desceu a caçamba, olhando em frente. – Você já decidiu – ele disse sem me olhar. – Não precisa insistir no assunto. Fiz a inscrição na BYU na semana seguinte. Não tinha ideia do que escrever na ficha. Tyler escreveu para mim, dizendo que eu tinha estudado seguindo um programa rigoroso estabelecido por minha mãe, que continha todos os requisitos para ser aprovada na graduação. Meus sentimentos a respeito da inscrição mudavam a cada dia, a cada minuto. Às vezes tinha certeza de que Deus queria que eu fosse para a faculdade, porque Ele me dera aqueles 28 pontos. Outras vezes tinha certeza de que seria recusada, que Deus iria me punir por me inscrever, por
tentar abandonar minha família. Mas fosse qual fosse o resultado, eu sabia que iria embora. Iria para algum lugar, mesmo que não fosse a faculdade. Meu lar tinha mudado desde que levei Shawn para o hospital, em vez de para mamãe. Eu havia rejeitado parte do lar, agora ele estava me rejeitando. O comitê de admissão foi eficiente. Não esperei muito. A carta chegou num envelope comum. Meu coração balançou. Recusas vêm em letras pequeninas, pensei. Abri e li “Parabéns”. Fui admitida para o semestre que começaria em 5 de janeiro. Mamãe me abraçou. Papai tentou se alegrar. – Isso prova pelo menos uma coisa. Nossa escola doméstica é tão boa quanto a pública – ele disse.
Três dias antes de eu completar 17 anos, mamãe me levou a Utah para encontrar um apartamento. A busca demorou o dia inteiro, e voltamos tarde para casa. Encontramos papai jantando comida congelada. Ele não a havia esquentado bem, e parecia uma papa. Seu humor estava carregado, inflamável. Podia detonar a qualquer momento. Mamãe nem tirou os sapatos, correu direto à cozinha e foi pegar panelas para fazer um jantar de verdade. Papai foi para a sala e ficou maldizendo o aparelho de videocassete. Do corredor, vi que os cabos estavam desconectados. Quando falei isso, ele explodiu. Praguejava, agitando os braços, gritando que na casa de um homem os cabos tinham que estar sempre ligados, que um homem nunca deveria entrar numa sala e encontrar os cabos do videocassete desligados. Por que diabos eu o tinha desligado, afinal? Mamãe veio apressada da cozinha. – Eu desconectei os cabos – ela disse.
Papai se acercou dela, cuspindo gritos. – Por que você sempre toma o partido dela? Um homem deve esperar apoio da esposa! Fiquei remexendo nos cabos enquanto papai gritava por cima de mim. Eu os deixava cair o tempo todo. Minha mente pulsava com um pânico que se sobrepunha a qualquer pensamento, e nem conseguia me lembrar de conectar vermelho com vermelho, branco com branco. Depois passou. Olhei para cima, para a face rubra de meu pai e a veia pulsando no pescoço dele. Ainda não tinha conseguido ligar os cabos. Levantei, e uma vez em pé nem me incomodei se os cabos estavam conectados ou não. Saí da sala. Papai ainda gritava quando cheguei à cozinha. No hall, olhei para trás. Mamãe tinha tomado meu lugar, agachada sobre o videocassete, procurando os cabos, e papai esbravejava por cima dela.
Esperar o Natal naquele ano foi como andar à beira de um precipício. Desde o Y2K eu não tinha tanta certeza de que alguma coisa terrível se aproximava, algo que iria extinguir tudo o que eu conhecia. E o que viria para substituir? Tentei imaginar o futuro tomado com professores, deveres de casa, salas de aulas, mas minha mente não os concebia. Não havia futuro em minha imaginação. E sim noites de Anonovo e depois mais nada. Eu sabia que precisava me preparar, tentar adquirir a instrução do ensino médio que Tyler dissera à universidade que eu tinha. Mas não sabia como, e não queria pedir ajuda a Tyler. Ele havia começado uma vida nova em Purdue – estava até se casando –, e eu duvidava que ele quisesse se responsabilizar pela minha.
Notei, porém, quando ele veio para o Natal, que estava lendo um livro chamado Os miseráveis, e achei que devia ser o tipo de livro que alunos de faculdade liam. Comprei um, esperando que me ensinasse história ou literatura, mas não. Nem conseguiria, porque eu não era capaz de distinguir ficção de fatos históricos. Para mim, Napoleão não era mais real que Jean Valjean. Nunca tinha ouvido falar nem de um nem de outro. 7 Quinze anos depois, Dwain não se lembrava de ter estado lá. Mas está lá, vividamente, em minha memória.
PARTE DOIS
Capítulo 17
Manter o sagrado
No primeiro dia do ano, mamãe me levou de carro para minha nova vida. Minha bagagem era pouca: uns dez potes de pêssegos em conserva, roupas de cama e um saco de lixo cheio de roupas. Enquanto corríamos pela interestadual, eu via a paisagem ir se recortando em farpas, os cumes negros ondulados das montanhas do Bear River dando lugar às escarpas das Rochosas. A universidade era aninhada no coração das montanhas Wasatch, cujos maciços brancos sobressaíam poderosamente para fora da terra. Eram lindos, mas para mim aquela beleza parecia agressiva, ameaçadora. Meu apartamento ficava um quilômetro e meio ao sul do campus. Tinha uma cozinha, sala de estar e três quartos pequenos. As moças que moravam lá – eu sabia que eram mulheres porque as acomodações da BYU eram segregadas por gênero – ainda não tinham voltado do recesso de Natal. Demorei poucos minutos para tirar minhas coisas do carro e levar para dentro. Mamãe e eu ficamos meio sem graça paradas na cozinha, depois ela me abraçou e foi embora. Durante três dias morei sozinha no apartamento silencioso. Só que não era. Lugar nenhum era sossegado. Eu
nunca havia passado mais que algumas horas numa cidade e achei impossível me defender dos barulhos estranhos que chegavam sem parar. Os cliques de sinais de pedestres, o estrídulo das sirenes, o silvo dos freios a ar, até as conversas em voz baixa de pessoas na calçada, eu ouvia cada um dos sons. Meus ouvidos, acostumados ao silêncio do pico, eram espancados pelos sons. Quando minha primeira colega de apartamento chegou, eu estava em total privação de sono. Seu nome era Shannon, e ela estudava na escola de cosmetologia no outro lado da rua. Vestia calça de pijama de plush cor-derosa e camiseta regata listradinha. Reparei em seus ombros nus. Eu já vira mulheres vestidas daquele jeito – papai as chamava de gentias –, e sempre evitei chegar muito perto, como se a imoralidade delas pudesse ser contagiosa. E agora tinha uma dessas em minha casa. Shannon me examinou com franca decepção, olhando para meu agasalho largo de flanela e minha calça jeans de tamanho masculino. – Quantos anos você tem? – ela perguntou. – Sou caloura – respondi. Não queria admitir que só tinha 17 anos e deveria estar no fim do segundo ano do ensino médio. Shannon foi até a pia, e vi a palavra “Gostosa” escrita no traseiro dela. Foi demais para mim. Recuei para meu quarto, resmungando que ia dormir. – Boa! – ela disse. – A igreja é cedo. Eu geralmente me atraso. – Você vai à igreja? – Claro. Você não? – Claro que vou. Mas você, você vai mesmo? Ela me encarou, mordendo o lábio, e disse: – A igreja é às oito. Boa noite!
Minha cabeça rodava quando fechei a porta do quarto. Como ela podia ser mórmon? Papai dizia que havia gentios em toda parte e que muitos mórmons eram, só que eles não sabiam. Pensei na calça e na regata de Shannon e, de repente, entendi que provavelmente todo mundo na BYU era gentio. Minha outra colega de quarto chegou no dia seguinte. Seu nome era Mary, e ela estava no segundo ano do curso de educação infantil. Vestia o que eu esperava que uma mórmon usasse aos domingos, uma saia florida comprida até o chão. Sua roupa foi uma espécie de senha para mim, um sinal de que não era gentia, e por algumas horas me senti menos só. Até chegar a noite. Mary se levantou de repente do sofá, dizendo: “As aulas começam amanhã. É melhor fazer umas compras.” Voltou uma hora depois com duas sacolas de supermercado. Era proibido fazer compras no Sabbath, e eu nunca comprei sequer um chiclete no domingo, mas Mary foi pegando calmamente ovos, leite e macarrão, sem se dar conta de que cada pacote que punha em nossa geladeira compartilhada era uma violação aos Mandamentos do Senhor. Quando tirou uma lata de Coca Diet, que meu pai dizia ser uma violação aos conselhos do Senhor sobre a saúde, fugi de novo para meu quarto.
Na
manhã seguinte, peguei o ônibus na direção errada. Quando consegui corrigir o erro, a aula estava quase terminando. Fiquei de pé, desajeitada, no fundo da sala, até a professora, uma mulher magra de feições delicadas, me indicar a única carteira vaga, perto da frente. Sentei sentindo o peso dos olhares de todos. O curso era sobre Shakespeare, e escolhi porque havia ouvido falar dele, achei
que era um bom sinal. Mas agora que estava ali percebi que não sabia nada sobre ele. Era só uma palavra que eu tinha ouvido. Quando o sinal tocou, a professora se aproximou da minha carteira. – Seu lugar não é aqui – ela disse. Olhei para ela, confusa. Claro que não era, mas como ela sabia disso? Estava a ponto de confessar a história toda – que eu nunca tinha ido à escola, que de fato não preenchia os requisitos para a graduação – quando ela acrescentou: – Essa turma é do último ano, dos seniores. – Tem turmas de seniores? Ela revirou os olhos como se eu estivesse fazendo piada. – Essa é a 382. Você deve estar na 110. Quase no fim da caminhada, atravessando o campus, foi que entendi o que ela disse. Olhei minha programação de aulas e, pela primeira vez, notei os números ao lado dos cursos. Fui à secretaria, onde me disseram que todas as turmas de calouros estavam cheias. Eu precisava checar on-line, de hora em hora, e me inscrever se alguém desistisse. No fim da semana eu tinha conseguido, a muito custo, me enfiar em cursos introdutórios de inglês, história americana, música e religião, mas não consegui me livrar de um curso do segundo ano de arte na civilização ocidental. Inglês para calouros era ministrado por uma mulher alegre, de vinte e poucos anos, que falava sempre de algo chamado “formato de dissertação”, que ela garantia que tínhamos aprendido no ensino médio. A aula seguinte, de história americana, foi num auditório chamado Joseph Smith, em homenagem ao profeta. Achei que a história americana seria fácil porque papai nos ensinara muito sobre os Pais Fundadores, e eu sabia tudo
sobre Washington, Jefferson, Madison. Mas o professor mal mencionou algum deles e ficou falando de “excertos filosóficos” e dos escritos de Cícero e Hume, nomes de que eu nunca ouvira falar. Na primeira aula, soubemos que a seguinte começaria com um questionário sobre as leituras. Passei dois dias lutando com o significado de passagens mais densas do livro, mas termos como “humanismo cívico” e “iluminismo escocês” pontuavam a página como buracos negros, sugando todas as outras palavras. Errei todas as questões. O fracasso me deixou desconfortável. Tinha sido o primeiro teste para eu saber se tudo ia dar certo, se o que eu tinha na cabeça como educação seria suficiente. Depois do exame, a resposta foi clara: não era. Ao me dar conta disso, era de esperar que eu me ressentisse da forma como tinha sido criada, mas não. Minha lealdade a meu pai tinha aumentado na proporção direta dos quilômetros entre nós. Na montanha eu podia me rebelar. Mas aqui, neste lugar barulhento e cintilante, cercada de gentias disfarçadas de santas, eu me aferrava a cada verdade, a cada doutrina que ele me dera. Médicos eram Filhos da Perdição. Estudar em casa era um mandamento do Senhor. O fiasco no teste em nada alterou minha nova devoção ao antigo credo, mas uma aula de arte ocidental sim. A sala estava iluminada quando entrei, o sol da manhã jorrava calor por uma alta parede com janelas. Sentei ao lado de uma garota de blusa de gola alta. O nome dela era Vanessa. – Vamos ficar juntas – ela disse. – Acho que somos as únicas calouras nesta turma. A aula começou quando um velho de olhos pequenos e nariz pontudo fechou as persianas. Apertou um interruptor e um projetor de slides encheu a sala de luz branca. Era a
imagem de um quadro. O professor falou sobre a composição, as pinceladas, a história. Depois passou para outro quadro, e outro, e outro. Então o projetor mostrou uma imagem peculiar, de um homem com chapéu e sobretudo surrados. Atrás dele, elevava-se uma parede de concreto. Tinha na mão um pedaço de papel junto ao rosto, mas não olhava para o papel. Olhava para nós. Abri o livro ilustrado que comprara para a aula a fim de ver mais de perto. Havia algo escrito em itálico sob a imagem, mas eu não entendi. Tinha uma daquelas palavrasburaco-negro, logo no meio, devorando o resto. Como outros alunos fizeram perguntas, levantei a mão. O professor me chamou, e li a frase em voz alta. Quando cheguei à palavra, parei e disse: – Não conheço essa palavra. O que significa? Silêncio. Nem um murmúrio, nem um barulho sufocado, mas um silêncio total, violento. Nem uma página virada, nem um arranhar de lápis no papel. O professor apertou os lábios. – Muito obrigado por isso – ele disse, e retornou às suas anotações. Mal me mexi durante o resto da aula. Fiquei olhando para meus sapatos, sem saber o que tinha acontecido e por que alguém estava me encarando cada vez que eu levantava os olhos, como se eu fosse uma aberração. Claro que eu era, e sabia disso, mas não entendia como é que os outros sabiam. Quando o sinal tocou, Vanessa meteu o caderno na mochila. Depois parou e disse: – Você não devia fazer piada disso. Não tem graça. E saiu antes que eu pudesse responder.
Fiquei sentada até todos saírem, fingindo que o zíper do casaco tinha emperrado a fim de evitar olhar alguém nos olhos. Depois fui direto ao laboratório de computação para procurar a palavra “Holocausto”. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas a certa altura já havia lido o bastante. Me recostei na cadeira e fiquei olhando para o teto. Acho que estava em choque, mas, se era a comoção de ficar sabendo de uma coisa horrível ou de minha própria ignorância, não sei. Lembro de ficar ali imaginando, não os campos de concentração, não as valas nem as chaminés das câmaras de gás, mas o rosto de minha mãe. Fui tomada por uma onda de emoção, um sentimento tão intenso, tão desconhecido, que eu nem sabia o que era. Fazia eu querer gritar com ela, com minha própria mãe, e aquilo me deu medo. Procurei na memória. De algum modo, a palavra “Holocausto” não era de todo desconhecida. Talvez mamãe tivesse me ensinado aquilo quando estávamos colhendo rosas-mosqueta ou fazendo tintura de espinheira. Eu tinha uma vaga ideia de que os judeus foram mortos em algum lugar, havia muito tempo. Mas achei que fosse um conflito menor, como o Massacre de Boston de que papai falava, quando meia dúzia de pessoas tinham sido martirizadas por um governo tirânico. Confundir aquelas proporções – cinco pessoas versus seis milhões – parecia impossível. Encontrei Vanessa antes da aula seguinte e me desculpei pela brincadeira. Não expliquei, porque não podia. Só disse que lamentava e que não iria se repetir. Para manter a promessa, não levantei mais a mão até o fim do semestre.
Naquele sábado me sentei à escrivaninha com uma pilha de deveres de casa. Precisava terminar tudo naquele dia
para não violar o Sabbath. Passei a manhã e toda a tarde tentando decifrar o livro de história, sem muito sucesso. À noite, tentei escrever uma redação pessoal para a aula de inglês, mas nunca tinha feito uma dissertação antes – a não ser sobre pecados e arrependimentos, que ninguém lia mesmo – e não sabia como fazer. Não tinha a menor ideia do que a professora chamava de “formato de dissertação”. Rabisquei umas frases, risquei e comecei de novo. Repeti isso até depois da meia-noite. Sabia que devia parar – era a hora do Senhor –, mas nem tinha começado o dever de teoria musical, que era às sete da manhã de segunda-feira. O Sabbath começa quando eu acordo, ponderei, e continuei a trabalhar. Acordei com o rosto grudado na escrivaninha. O quarto estava claro. Ouvi Shannon e Mary na cozinha. Pus meu vestido de domingo e fomos nós três para a igreja. Como era uma congregação de estudantes, todos se sentavam junto com seus colegas de apartamento, e fiquei no mesmo banco que elas. Shannon começou a conversar imediatamente com a garota atrás de nós. Olhei em volta e, mais uma vez, fiquei espantada com a quantidade de mulheres com saias acima dos joelhos. A garota que conversava com Shannon propôs irem ao cinema à tarde. Mary e Shannon concordaram, mas balancei a cabeça. Eu não ia ao cinema aos domingos. Shannon revirou os olhos. – Ela é muito devota – cochichou. Eu sempre soube que meu pai acreditava em um deus diferente. Quando criança, eu tinha consciência de que, embora minha família frequentasse a mesma igreja que todos na cidade, nossa religião não era a mesma. Eles acreditavam na decência; nós a praticávamos. Eles
acreditavam no poder de Deus para a cura; nós deixávamos nossas feridas nas mãos Dele. Eles acreditavam na preparação para a Segunda Vinda; nós já estávamos efetivamente preparados. Desde que me lembro, sempre soube que os membros da minha família eram os únicos mórmons verdadeiros que eu já tinha conhecido. No entanto, por alguma razão, ali na universidade, naquela capela, senti pela primeira vez a imensidão da discrepância. Agora eu entendia. Eu podia estar com minha família ou com os gentios, de um lado ou de outro, mas não havia um ponto de apoio comum aos dois. O culto terminou e fomos para a escola dominical. Shannon e Mary se sentaram mais na frente. Guardaram meu lugar, mas hesitei, lembrando que tinham quebrado o Sabbath. Em menos de uma semana ali, eu já havia roubado uma hora ao Senhor. Talvez por isso é que papai queria que eu ficasse em casa. Porque ele sabia que, morando com essas pessoas de pouca fé, eu me arriscava a ser como elas. Shannon acenou para mim, e seu decote em V se destacou. Passei direto por ela e me encolhi num canto, o mais longe possível dela e de Mary. Gostei da familiaridade daquele arranjo. Eu encolhida num canto longe das outras crianças, uma reprodução exata de todas as aulas na escola dominical de minha infância. Foi a única sensação de familiaridade desde minha chegada àquele lugar, e me deu prazer.
Capítulo 18
Sangue e penas
Depois disso eu raramente falava com Shannon e Mary, e elas comigo, a não ser para me lembrar de fazer minha parte nas tarefas domésticas, que eu nunca fazia. Para mim, o apartamento estava ótimo. Então, qual o problema de ter pêssegos estragando na geladeira ou louça suja na pia? E daí se o cheiro era como um tapa na cara de quem entrava? A meu ver, se o futum era suportável, a casa estava limpa, e essa filosofia era extensiva à minha pessoa. Eu nunca usava sabão, exceto no chuveiro, geralmente uma ou duas vezes por semana, e às vezes nem no chuveiro. De manhã, quando eu saía do banheiro, passava direto pela pia do corredor onde Shannon e Mary sempre – sempre – lavavam as mãos. Via o ar de reprovação delas e pensava em vovóda-cidade. Frívolas, dizia a mim mesma. Eu não mijo nas mãos. A atmosfera no apartamento era tensa. Shannon me olhava como se eu fosse um cão raivoso, e eu não fazia nada para tranquilizá-la.
Minha conta bancária diminuía gradualmente. Eu receava não passar de ano, mas no primeiro mês do semestre, depois de pagar a universidade e o aluguel, comprar comida e livros, fiquei pensando que, mesmo se passasse, não poderia voltar a estudar por uma razão óbvia: não poderia pagar. Procurei na internet os requisitos para obter uma bolsa de estudos. Para uma bolsa integral, era preciso uma média de pontos quase perfeita. Mesmo naquele primeiro mês do semestre eu sabia que uma bolsa estava comicamente fora de questão. História americana estava ficando mais fácil, mas só porque eu já não errava tudo nos testes. Eu ia bem em teoria musical, mas sofria com o inglês. A professora dizia que eu tinha jeito para escrever, mas minha linguagem era estranhamente formal e rebuscada. Não falei que tinha aprendido a ler e escrever lendo apenas a Bíblia, o Livro de Mórmon e sermões de Joseph Smith e Brigham Young. O maior problema era civilização ocidental. Para mim, as aulas eram só uma falação, provavelmente porque na maior parte de janeiro eu pensava que a Europa era um país, não um continente, e por isso muito pouco do que o professor falava fazia sentido. E depois do incidente do Holocausto eu não me animava a pedir esclarecimentos. Mesmo assim era minha aula preferida, por causa de Vanessa. Nós nos sentávamos sempre juntas. Eu gostava dela porque parecia ser o tipo de mórmon igual a mim. Usava gola alta, roupas largas e falou que nunca bebia Coca-Cola nem fazia dever de casa aos domingos. Era a única pessoa na universidade que não parecia gentia. Em fevereiro, o professor anunciou que, em vez de uma única prova semestral, daria provas mensais, e a primeira seria na semana seguinte. Eu não sabia como me preparar.
Não havia um livro didático para a turma, só o livro ilustrado das pinturas e alguns CDs de composições clássicas. Eu ouvia as músicas enquanto folheava as pinturas. Fazia um vago esforço para lembrar quem tinha pintado ou composto o quê, mas não decorei como escrever. O ACT fora a única prova que eu tinha feito, e era de múltipla escolha, portanto presumi que todas as provas fossem de múltipla escolha. Na manhã da prova o professor mandou todo mundo pegar o livro azul. Mal tive tempo de imaginar o que seria o livro azul, e todos já tinham tirado um da mochila. O movimento era fluido, sincronizado, como se tivessem treinado antes. Eu era a única dançarina no palco que havia perdido o ensaio. Perguntei a Vanessa se ela tinha um para emprestar, e tinha. Abri, esperando a múltipla escolha, mas estava em branco. As janelas estavam fechadas. O projetor tremeluziu, exibindo um quadro. Tínhamos sessenta segundos para escrever o título e o nome completo do autor da obra. Minha mente só produzia um zumbido embotado. Isso se repetiu em várias questões: fiquei completamente paralisada na carteira, sem escrever qualquer resposta. Um Caravaggio apareceu na tela – Judite e Holofernes. Olhei para a imagem de uma jovem calmamente segurando uma espada e passando a lâmina no pescoço de um homem, suave como se estivesse cortando queijo. Eu decapitava galinhas com papai, segurando as pernas sarnentas enquanto ele levantava o machado e descia com um “cóóó!”, e eu apertava as pernas da galinha com toda a força, quando então ela se retorcia à beira da morte, espalhando penas para todo lado e espirrando sangue na minha calça jeans. Lembrando das galinhas, pensei na plausibilidade da cena de Caravaggio. Ninguém tinha aquela
expressão no rosto, tranquila, desinteressada, ao cortar uma cabeça. Eu sabia que o quadro era de Caravaggio, mas só lembrava o sobrenome, e não sabia soletrar. Tinha certeza de que o título era Judite e Alguém, mas não seria capaz de escrever Holofernes nem se fosse o meu pescoço sob a espada. Trinta segundos. Talvez eu conseguisse fazer alguns pontos se escrevesse alguma coisa – qualquer coisa – na página, e tentei a fonética do nome: “Caravadjio.” Não parecia certo. Lembrando que uma das letras era dobrada, rabisquei “Carravagio”. Errado de novo. Ensaiei diversas ortografias, cada uma pior que a outra. Vinte segundos. Ao meu lado, Vanessa escrevia sem parar. Claro. Ela era da turma. Sua caligrafia era caprichada, e li Michelangelo Merisi da Caravaggio. E ao lado, em letras igualmente imaculadas, Judite e Holofernes. Dez segundos. Copiei, mas sem o nome todo de Caravaggio, porque, numa demonstração seletiva de integridade, achei que estaria colando. O projetor brilhou com outra imagem. Espiei mais algumas vezes a prova de Vanessa, mas não adiantou. Eu não conseguia copiar as redações dela, e me faltava o saber factual e de estilo para compor as minhas. Na ausência de capacidade e conhecimento, rabisquei lá o que me ocorria. Não me recordo se foi pedido para avaliar Judite e Holofernes, mas se pedissem tenho certeza de que teria dado minhas impressões: a calma no rosto da jovem não condizia com minha experiência no abate de galinhas. Composta numa linguagem adequada, teria sido uma resposta fantástica, algo sobre a serenidade em forte contraponto ao realismo da cena. Mas decerto o professor não teria se impressionado com a minha observação de que
“Quando a gente corta a cabeça de galinha, não dá para sorrir porque o sangue e as penas voam na boca da gente”. A prova terminou. As persianas foram abertas. Saí e fiquei no frio do inverno olhando para os pináculos das montanhas Wasatch. As montanhas estavam mais estranhas e ameaçadoras que nunca, mas eu queria ficar ali. Esperei uma semana pelo resultado da prova e, durante esse tempo, sonhei duas vezes com Shawn, encontrando-o sem vida no asfalto, virando seu corpo e vendo seu rosto iluminado em carmesim. Suspensa entre o medo do passado e o do futuro, anotei o sonho em meu diário. Em seguida, sem nenhuma explicação, como se a conexão entre as duas coisas fosse óbvia, escrevi: “Não entendo por que não me permitiram ter uma instrução decente quando criança.” O resultado chegou dias depois. Eu me saíra mal.
Em um inverno, quando eu era muito pequena, Luke achou um grande corujão-orelhudo no pasto, inconsciente e quase congelado. Era cor de ferrugem e, a meus olhos de criança, parecia ser do meu tamanho. Luke o levou para dentro de casa, onde ficamos maravilhados com a plumagem macia e as garras impiedosas. Lembro de acariciar suas penas listradas, tão lisas que pareciam água, enquanto meu pai segurava o corpo inerte. Eu sabia que, se ele estivesse consciente, eu jamais chegaria tão perto. Só o fato de tocálo já era um desacato à natureza. As penas estavam ensopadas de sangue. Um espinho tinha atravessado a asa. – Não sou veterinária – mamãe falou. – Eu cuido de gente.
Mas retirou o espinho e limpou a ferida. Papai disse que a asa levaria semanas para sarar e que a coruja iria despertar muito antes disso. Ao se ver presa, cercada de predadores, iria se debater até a morte, tentando se libertar. Era selvagem, ele disse, e na natureza aquela ferida era fatal. Deitamos a coruja no linóleo da porta dos fundos e, quando ela despertou, dissemos a mamãe que ficasse fora da cozinha. Mamãe respondeu que o inferno podia congelar antes que ela cedesse sua cozinha a uma coruja; entrou lá e começou o bater de panelas para o café da manhã. A coruja batia as asas loucamente, as garras arranhando a porta e a cabeça golpeando, em pânico. Gritamos, e mamãe recuou. Duas horas depois papai bloqueou metade da cozinha com folhas de compensado. A coruja ficou muitas semanas convalescendo lá. Pegávamos camundongos para alimentála, mas às vezes ela não comia, e nós não conseguíamos retirar as carcaças. O cheiro da morte era forte, pútrido, um soco no estômago. A coruja foi ficando mais irrequieta. Quando começou a recusar comida, abrimos a porta dos fundos e a deixamos fugir. Ainda não estava totalmente curada, mas papai falou que tinha mais chances na montanha do que conosco. Ela não era da casa. Não podia aprender a ser.
Eu queria contar para alguém que tinha ido mal na prova, mas alguma coisa me impediu de ligar para Tyler. Pode ter sido vergonha. Ou pode ter sido porque Tyler estava se preparando para ser pai. Tinha conhecido a esposa, Stefanie, em Purdue, e se casaram rapidamente. Ela não sabia nada sobre nossa família. Acho que ele preferia sua nova vida – sua nova família – à antiga.
Telefonei para casa. Papai atendeu. Mamãe estava fazendo um parto, o que ela fazia cada vez mais desde que tinha parado de ter enxaquecas. – Quando mamãe vai chegar? – Não sei. Melhor perguntar ao Senhor do que a mim, porque quem decide é Ele. Deu uma risadinha e perguntou: – Como vai a escola? Papai e eu não nos falávamos desde que ele tinha berrado comigo por causa do videocassete. Entendi que ele estava tentando ser solidário, mas eu não podia admitir que ia mal. Queria dizer que estava indo bem. Muito fácil, me imaginei falando. – Não muito bem – eu disse, em vez disso. – Eu não tinha ideia de que seria tão difícil. Silêncio, e imaginei a face austera de papai endurecendo. Me preparei para o golpe que pensei que ele estava armando, mas uma voz calma disse: – Vai dar certo, filha. – Não vai – eu disse. – Não vai ter bolsa de estudos. Eu não vou nem passar de ano. – Agora minha voz tremia. – Se não tem bolsa, não tem bolsa. Talvez eu possa ajudar com dinheiro. Vamos resolver isso. Anime-se, certo? – Certo. – Venha para casa, se precisar. Desliguei, incerta do que tinha ouvido. Sabia que não iria durar, que na próxima vez que nos falássemos tudo seria diferente, a ternura daquele momento esquecida, nossa batalha interminável novamente em primeiro plano. Mas naquela noite ele quis ajudar. E isso já era muita coisa.
Em março tive outra prova de civilização ocidental. Dessa vez eu fiz fichas de resumo. Passei horas decorando ortografias esquisitas, muitas delas em francês (eu agora tinha entendido que França era uma parte da Europa). Jacques-Louis David e François Boucher; não conseguia falar, mas sabia escrever. Minhas anotações eram disparatadas, e pedi a Vanessa se podia ver as dela. Vanessa me olhou com ceticismo, e por um momento imaginei se ela havia me visto colar da prova dela. Ela disse que não me daria as anotações, mas que podíamos estudar juntas. Depois da aula, fomos ao dormitório dela. Sentamos no chão, de pernas cruzadas e cadernos abertos à frente. Tentei ler minhas anotações, mas as frases eram incompletas, misturadas. – Não se preocupe com suas anotações – ela disse. – Não são tão importantes quanto o texto do livro. – Que livro? – O livro – Vanessa disse rindo, como se eu estivesse fazendo piada. Fiquei tensa, porque não estava. – Eu não tenho o livro – falei. – Claro que tem! Ela pegou o grosso livro ilustrado que eu tinha usado para decorar títulos e artistas. – Ah, esse? Eu olhei, sim. – Você olhou? Não leu? Fiquei olhando para ela. Eu não entendia. Era um curso de música e arte. Tínhamos CDs para ouvir e um livro de ilustrações de arte para ver. Não havia me ocorrido que o livro de arte era para ler, já que os CDs não eram. – Achei que era só para ver os quadros. Isso soou idiota quando falei em voz alta:
– Então, quando o programa indicava da página 50 a 85, você não achou que tinha que ler nada? – Eu olhei os quadros. Falei de novo, e ficou pior da segunda vez. Vanessa começou a folhear o livro, que, de repente, ficou muito parecido com um livro didático. – Então esse é o seu problema – ela disse. – Você tem que ler o livro. Ao dizer isso, a voz dela tomou uma cadência de sarcasmo, como se mais essa mancada – depois de fazer piada com o Holocausto e colar na prova – fosse demais para ela, e chega. Falou que era hora de eu ir embora; ela precisava estudar outra matéria. Peguei meu caderno e saí. “Ler o livro” veio a ser um excelente conselho. Na prova seguinte tirei um B, e no fim do semestre só tirava A. Era um milagre, foi assim que interpretei. Continuei a estudar toda noite até as duas ou três da manhã, acreditando que era meu preço a pagar para merecer o apoio de Deus. Fui bem em história, melhor em inglês e a melhor de todos em teoria musical. Uma bolsa integral era improvável, mas talvez eu conseguisse meia. Na última aula de civilização ocidental o professor anunciou que tantos alunos tinham ido mal na primeira prova que ele decidira anulá-la. E “puf!”, lá se foi minha nota péssima! Eu queria dar pulos de alegria, comemorar com Vanessa. Então me lembrei que ela não se sentava mais junto comigo.
Capítulo 19
No começo
No fim do semestre voltei ao Buck’s Peak. Em algumas semanas a BYU iria divulgar as notas e então eu saberia se poderia regressar no outono. Enchi meu diário de promessas de ficar longe do ferrovelho. Precisava de dinheiro – papai diria que eu estava mais quebrada que as tábuas dos Dez Mandamentos –, e retomei meu emprego na Stokes. Cheguei lá na hora do maior movimento da tarde, quando eu sabia que precisavam de ajuda, e de fato encontrei o gerente embalando mercadorias. Perguntei se ele queria que eu empacotasse, ele me olhou fixamente por três segundos, tirou o avental e me deu. A assistente deu uma piscadela, foi ela quem sugerira que eu fosse na hora da afobação. Havia alguma coisa na Stokes, seus corredores retos e limpos, as pessoas afetuosas que trabalhavam lá, que me deixavam calma e contente. É algo estranho para dizer de uma mercearia, mas eu me sentia em casa. Papai estava esperando quando entrei pela porta dos fundos. Viu o avental e disse: – Você vai trabalhar para mim neste verão. – Estou trabalhando na Stokes.
– Você acha que é boa demais para a sucata? – Levantou a voz. – Esta é sua família. Aqui é o seu lugar. O rosto de papai estava emaciado, os olhos injetados. Havia passado um inverno espetacularmente ruim. No outono, tinha investido uma grande quantia em equipamentos de construção – uma escavadeira, uma grua e um trailer de soldagem. Na primavera, tudo se fora. Luke tinha acidentalmente ateado fogo ao trailer de soldagem, que queimou até o chão. A grua despencou de um reboque porque alguém – nunca perguntei quem – não a prendeu adequadamente. E a escavadeira se juntou à sucata quando Shawn, puxando-a num caminhão com um reboque enorme, entrou muito rápido numa curva e lá se foram caminhão e reboque juntos. Com aquela sorte danada dele, Shawn se arrastou por baixo das ferragens, mas tinha batido com a cabeça e não conseguiu se lembrar dos dias anteriores a esse acidente. Caminhão, reboque e escavadeira ficaram destruídos. A determinação de papai estava entalhada em seu rosto. Encontrava-se em sua voz, na aspereza dela. Ele tinha que vencer aquele impasse. Estava convencido de que se eu estivesse na equipe haveria menos acidentes, menos revezes. – Você é mais mole que melado subindo o morro – ele me dissera várias vezes –, mas faz seu trabalho sem quebrar nada. Mas eu não podia fazer o trabalho porque seria andar para trás. Eu tinha voltado para casa, para meu antigo quarto, minha antiga vida. Se voltasse a trabalhar para papai, levantar toda manhã, calçar as botas com biqueira de metal e me arrastar para o ferro-velho, seria como se os últimos quatro meses não houvessem existido, como se eu nunca tivesse partido.
Passei por papai e me fechei no meu quarto. Mamãe bateu à porta logo depois. Entrou devagarinho e se sentou tão de leve na cama que mal senti seu peso perto de mim. Pensei que ela fosse falar o que disse na última vez, quando lembrei que eu ainda ia fazer 17 anos e ela me deixou ficar. – Você tem uma oportunidade de ajudar seu pai – ela falou. – Ele precisa de você. Ele nunca vai dizer isso, mas precisa. A escolha é sua. Houve um silêncio e ela prosseguiu: – Mas, se você não ajudar, não pode ficar aqui. Vai ter que morar em outro lugar. Na manhã seguinte, às quatro da manhã, peguei o carro, fui para a Stokes e trabalhei dez horas seguidas. Era começo da tarde e chovia forte quando cheguei em casa e encontrei minhas roupas no gramado da frente. Levei tudo para dentro. Mamãe estava misturando óleos na cozinha e não falou nada quando passei por ela com a camiseta e a calça jeans pingando água. Sentei na cama, enquanto a água de minhas roupas encharcava o tapete. Havia trazido um telefone comigo e olhei para ele, sem saber o que fazer. Não tinha para quem ligar. Nem para onde ir. Liguei para Tyler em Indiana. – Eu não quero trabalhar no ferro-velho – falei quando ele atendeu. Minha voz estava rouca. – O que houve? – ele perguntou. Parecia preocupado, achou que tinha havido outro acidente. – Estão todos bem? – Todos muito bem. Mas papai não me deixa ficar aqui a não ser que eu trabalhe no ferro-velho, e eu não posso mais fazer aquilo. Minha voz estava atipicamente aguda e trêmula. – O que você quer que eu faça? – Tyler perguntou.
Em retrospecto, estou certa de que ele falou literalmente, perguntando como poderia ajudar, mas meus ouvidos, solitários e suspeitosos, entenderam O que você espera que eu faça?. Comecei a tremer; senti uma tontura. Tyler tinha sido minha linha de vida. Por muitos anos esteve em minha mente como um último recurso, uma alavanca que eu podia puxar quando estivesse contra a parede. Mas, agora que eu havia puxado, entendi a futilidade. Não aconteceu nada. – O que houve? – Tyler perguntou novamente. – Nada. Está tudo bem. Desliguei e telefonei para a Stokes. A assistente atendeu. – Vem trabalhar hoje? – perguntou com voz animada. Falei que lamentava, mas não poderia mais ir, e desliguei. Abri o guarda-roupa e elas estavam lá, onde eu as havia deixado quatro meses atrás: as botas do ferro-velho. Calceias. Foi como se eu nunca as tivesse tirado. Papai estava na empilhadeira, carregando uma pilha de metal corrugado. Precisava de alguém para colocar blocos de madeira no reboque para poder descarregar a pilha. Quando me viu, baixou a carga para que eu subisse. Dirigi a pilha de metal para o alto e despejei no reboque.
Minhas
lembranças da universidade se dissiparam rapidamente. O arranhar do lápis no papel, o “clac” do projetor passando para o slide seguinte, o repique do sino anunciando o fim das aulas, tudo foi afogado no bater dos ferros e no ronco dos motores a diesel. Após um mês no ferro-velho, a BYU parecia um sonho, algo que eu tinha inventado, e agora eu estava acordada. Minha rotina era exatamente o que havia sido: depois do café da manhã, eu recolhia sucata ou extraía cobre de radiadores. Se os rapazes estivessem trabalhando fora, às
vezes eu ia junto dirigir a carregadeira, a empilhadeira ou o guindaste. No almoço, ajudava mamãe a cozinhar e lavar a louça, depois voltava para o ferro-velho ou para a empilhadeira. A única diferença era Shawn. Não era mais o irmão de quem eu me lembrava. Nunca dizia uma palavra áspera, parecia em paz consigo mesmo. Estava estudando para o GED, a prova do supletivo, e, uma noite em que voltávamos para casa depois de um trabalho, falou que ia tentar estudar um semestre numa Community College. Queria cursar direito. Naquele verão havia uma peça no Opera House de Worm Creek. Shawn e eu compramos ingressos. Charles também estava lá, poucas fileiras à nossa frente, e no intervalo, quando Shawn foi conversar com uma garota, ele se apressou a vir. Pela primeira vez não fiquei totalmente muda. Pensei em Shannon, como ela conversava com as pessoas na igreja, sua alegria amigável, o jeito que sorria e dava risadas. Seja Shannon, pensei. E durante cinco minutos, fui. Charles me olhava de um modo estranho, do jeito que eu via homens olhando para Shannon. Perguntou se eu queria ir ao cinema no sábado. O filme que ele sugeriu era vulgar, mundano, e eu jamais ia querer assistir, mas eu era Shannon, e disse que adoraria. Tentei ser Shannon na noite de sábado. O filme era horrível, pior que o esperado, o tipo de filme a que só um gentio iria assistir. Mas era difícil ver Charles como um gentio. Era só Charles. Pensei em dizer que o filme era imoral, que ele não deveria ficar vendo aquelas coisas, mas, ainda sendo Shannon, não falei nada, apenas sorri quando ele perguntou se eu queria tomar um sorvete.
Shawn era o único acordado quando cheguei em casa. Eu estava sorrindo quando entrei. Shawn falou, brincando, que eu tinha um namorado, e estava brincando mesmo, queria que eu risse. Disse que Charles tinha bom gosto, que eu era a pessoa mais decente que ele conhecia, e foi dormir. Em meu quarto, fiquei um longo tempo me olhando no espelho. A primeira coisa que notei foi minha calça jeans masculina, que nada tinha a ver com os jeans de outras garotas. A segunda coisa que observei foi que minha camiseta era larga demais e me fazia parecer mais quadrada do que eu era. Charles telefonou dias depois. Estava no meu quarto após um dia trabalhando no telhado. Cheirava a removedor de tinta e estava coberta de uma poeira cinzenta, mas ele não sabia. Ficamos duas horas conversando. Telefonou na noite seguinte, e na próxima também. Disse que a gente podia ir comer um hambúrguer na sexta-feira.
Quinta-feira, depois da sucata, dirigi 65 quilômetros até o Walmart mais perto e comprei uma calça jeans feminina e duas blusas, ambas azuis. Quando as vesti, mal reconheci meu corpo, tão mais estreito e cheio de curvas. Tirei-as imediatamente, sentindo que eram indecentes. Não eram, tecnicamente, mas eu sabia por que as queria. Era para meu corpo ser notado, e isso me parecia indecente, ainda que as roupas não fossem. Na tarde seguinte, quando a equipe terminou o trabalho, corri para casa. Tomei banho de chuveiro, tirando toda a sujeira, estendi as roupas na cama e fiquei olhando para elas. Demorei a vesti-las, e tornei a ficar chocada com minha imagem. Não tinha tempo de trocar, então vesti uma jaqueta, apesar de a noite estar quente, mas em algum
momento, não sei dizer quando nem por quê, decidi que afinal não necessitava da jaqueta. Pelo resto da noite não precisei me lembrar de ser Shannon. Eu ria e conversava sem precisar fingir nada. Charles e eu saímos todas as noites daquela semana. Frequentamos parques, sorveterias, quiosques de hambúrguer e postos de gasolina. Levei-o à Stokes, pois eu adorava aquilo lá e porque a assistente sempre me dava os sonhos que sobravam na confeitaria. Conversávamos a respeito de música – sobre bandas de que eu nunca ouvira falar e como ele queria ser músico e viajar pelo mundo. Nunca falávamos sobre nós, se éramos amigos ou algo mais. Eu gostaria que Charles tocasse no assunto, mas ele não falava. Gostaria que me fizesse saber de alguma outra maneira, tomando gentilmente minha mão ou me abraçando, mas ele não fazia nada disso também. Sexta-feira ficamos fora até tarde e, quando cheguei, a casa estava às escuras. O computador de mamãe estava ligado, e a proteção de tela lançava uma luz verde na sala. Mecanicamente, sentei e entrei no site da BYU. As notas tinham sido divulgadas. Passei. Mais que passei. Tive A em todas as matérias, exceto civilização ocidental, e teria uma bolsa de metade da mensalidade. Eu podia voltar. Charles e eu passamos a tarde seguinte no parque, sentados preguiçosamente em balanços de pneus. Falei sobre a bolsa. Queria contar como vantagem, mas por alguma razão meus medos afloraram. Disse que não deveria nem estar na faculdade, que deveria ter completado o ensino médio antes. Ou pelo menos ter começado. Charles ficou em silêncio enquanto eu falava, e não disse nada por um longo tempo. Depois falou:
– Você tem raiva porque seus pais não a puseram na escola? – Foi uma vantagem! – eu disse, quase gritando. Minha resposta foi instintiva. Foi como ouvir um verso de uma música que fica na cabeça, eu não pude evitar recitar o seguinte. Charles me olhou duvidando, como que pedindo para encaixar isso no que eu dissera momentos antes. – Bem, eu tenho raiva – ele disse. – Mesmo que você não tenha. Não falei nada. Nunca ouvira ninguém criticar meu pai, exceto Shawn, e não fui capaz de responder. Queria contar a Charles sobre os Illuminati, mas as palavras pertenciam ao meu pai, e até para mim soavam desconfortáveis, ensaiadas. Tive vergonha de minha incapacidade de me apropriar delas. Eu acreditava então, e uma parte de mim sempre acreditará, que as palavras de meu pai deveriam ser também as minhas.
Durante
um mês, quando chegava do ferro-velho, eu passava uma hora me esfregando para tirar a ferrugem das unhas e a sujeira das orelhas. Desembaraçava os cabelos e fazia uma maquiagem desajeitada. Passava punhados de creme na ponta dos dedos para amaciar as calosidades, caso fosse aquela a noite em que Charles iria tocá-los. Quando finalmente os tocou foi no começo da noite, quando me buscou de jipe para ver um filme na casa dele. Estávamos chegando paralelamente ao Fivemile Creek, quando ele passou a mão por cima da marcha e a pousou na minha. A mão dele era quente e tive vontade de pegá-la, mas em vez disso puxei a minha como se tivesse me queimado. Foi uma reação involuntária, e eu me arrependi imediatamente. Aconteceu de novo quando ele tentou pela
segunda vez. Meu corpo se contorceu, cedendo a um instinto estranho, potente. O instinto me atravessou na forma de uma palavra, um lirismo ousado, forte, assertivo. A palavra não era nova. Estava comigo havia algum tempo, silenciada, imóvel, como se adormecida num canto remoto da memória. Ao me tocar, Charles a despertou, e ela pulsou com vida. Enfiei as mãos debaixo dos joelhos e me inclinei para a janela. Não podia deixá-lo chegar perto de mim naquela noite, nem em nenhuma outra noite, durante meses, sem estremecer com aquela palavra, minha palavra, que vinha rasgando seu caminho na lembrança. Puta. Chegamos à casa dele. Charles ligou a TV e se instalou no sofá. Sentei num canto. As luzes diminuíram, os créditos rolaram na tela. Charles foi chegando para perto de mim, devagarinho a princípio e depois mais confiante, até que a perna dele roçou na minha. Em minha mente, saí em disparada, correndo mil quilômetros numa única batida do coração. Na realidade, só me encolhi. Charles também. Eu o assustei. Me ajeitei de volta, levando o corpo para o braço do sofá, juntando os membros para longe dele. Mantive essa pose forçada por uns vinte segundos, até que ele entendeu, ouvindo a palavra que eu não podia dizer, e se sentou no chão.
Capítulo 20
Recital dos pais
Charles foi meu primeiro amigo daquele outro mundo, do qual meu pai tentara me proteger. Ele era convencional de todos os modos e por todos os motivos pelos quais meu pai desprezava o convencionalismo. Charles falava mais sobre futebol e bandas populares do que sobre o Fim dos Dias, gostava de tudo da escola, ia à igreja, mas, como a maioria dos mórmons, se ficava doente, tanto podia chamar um médico quanto um pastor mórmon. Como eu não conseguia conciliar o mundo dele com o meu, eu os separava. Toda noite eu ficava na janela esperando seu jipe vermelho, e quando ele aparecia na rodovia eu corria para a porta. Quando vinha sacolejando na subida eu estava no gramado da frente, e antes que ele saísse do jipe eu já estava sentada lá, discutindo por causa do cinto de segurança (ele se recusava a dirigir se eu não pusesse o cinto). Uma vez ele veio mais cedo e andou até a porta. Gaguejei nervosamente ao apresentá-lo a mamãe, que estava fazendo uma mistura de bergamota com ilangueilangue, estalando os dedos para testar as proporções. Ela o cumprimentou, mas seus dedos continuaram estalando.
Quando Charles olhou para mim como se perguntasse por quê, mamãe explicou que Deus lhe falava através dos seus dedos. – Ontem testei que eu teria enxaqueca hoje se não tomasse um banho de lavanda – ela disse. – Tomei o banho, e quer saber? Não tive dor de cabeça! – Os médicos não curam enxaqueca antes que aconteça – papai cantarolou –, mas Deus cura! Voltando para o jipe, Charles falou: – Sua casa sempre tem aquele cheiro? – Que cheiro? – De plantas podres. Dei de ombros. Ele falou: – Você deve ter sentido. É forte. Eu já tinha sentido antes. Em você. Você sempre está cheirando assim. Diabos, agora eu também devo estar. Ele cheirou a camisa. Fiquei calada. Não tinha sentido cheiro nenhum.
Papai disse que eu estava ficando “metida”. Não gostava que eu corresse para casa assim que acabava o trabalho no ferro-velho, nem que me limpasse de toda a graxa antes de me encontrar com Charles. Ele sabia que eu preferia estar empacotando compras na Stokes do que dirigindo a carregadeira em Blackfoot, a cidadezinha poeirenta uma hora ao norte, onde papai estava construindo um estábulo. Ficava aborrecido de saber que eu queria estar em outro lugar, vestida como outra pessoa. Na obra em Blackfoot, ele inventava tarefas estranhas para mim, como se executá-las me lembrasse de quem eu era. Uma vez, a dez metros de altura, engatinhando nos caibros do telhado inacabado, sem utilizar o cinto de
segurança, porque nunca usávamos, papai viu que tinha deixado o giz de linha no outro lado da construção. – Traga o giz de linha para mim, Tara! – ele disse. Mapeei o percurso. Eu tinha que ir pulando de caibro em caibro, uns quinze, com espaço de 1,20 metro entre cada um, pegar o giz de linha e voltar pelo mesmo caminho. Era exatamente o tipo de ordem de papai que levava Shawn a dizer “Ela não vai fazer isso!”. – Shawn, pode me levar na empilhadeira? – Você pode ir lá pegar – Shawn respondeu. – A não ser que sua escola chique e seu namorado chique achem você boa demais para isso. O rosto dele ficou endurecido de uma forma que me era ao mesmo tempo nova e familiar. Fui gingando até o fim do caibro, que me levou à viga estrutural no extremo da construção. Por um lado isso era mais perigoso, porque se eu caísse para a direita não havia mais caibro para me amparar na queda, mas a viga da estrutura era mais larga, e eu podia andar nela como numa corda bamba de circo. Foi assim que papai e Shawn ficaram camaradas, ainda que só concordassem em uma coisa: que a pincelada de cultura me tornara metida e eu precisava ser arrastada de volta ao passado. Afixada, ancorada numa versão anterior de mim mesma. Shawn tinha pendor para a linguagem, usando-a para definir os outros. Começava procurando em seu repertório de apelidos. “Rapariga” foi seu predileto por algum tempo. Gritava “Rapariga, me passa o esmeril”, ou “Levanta a caçamba, Rapariga!”, e procurava ver minha reação. Nunca encontrou. Depois tentou “Bacurim”. Porque eu comia demais, ele disse. “Que baita porquinho!”, ele gritava
quando eu me abaixava para apertar um parafuso ou conferir uma medida. Shawn passou a ficar mais tempo que o necessário depois que a equipe terminava o serviço. Suspeitei que ele queria estar por perto quando Charles chegasse. Parecia que ia passar a vida inteira trocando óleo do caminhão. Na primeira noite em que Shawn fez isso, corri e entrei no jipe antes que ele pudesse falar alguma coisa. Na noite seguinte, ele foi rápido no gatilho. – Tara não é linda?! – ele gritou para Charles. – Tem olhos de peixe, e é quase tão inteligente quanto um. A provocação era velha, gasta pelo uso. Ele sabia que eu não iria reagir durante o trabalho, por isso guardou, na esperança de que, na frente de Charles, ainda surtisse efeito. Na noite seguinte foi: – Vão jantar? Não fique entre o Bacurim e a comida, ou não vai sobrar nada de você. Charles nunca respondia. Tínhamos um acordo tácito de começar a noite no momento em que a montanha desaparecia no retrovisor. No universo que explorávamos juntos havia postos de gasolina e cinemas, carros salpicando como berloques na rodovia, cheios de gente rindo, buzinando e acenando, porque era uma cidade pequena e todo mundo conhecia Charles. Havia estradas de terra branca de calcário, canais cor de carne ensopada e infindáveis campos de trigo brilhando em bronze. Mas não havia o Buck’s Peak. Durante o dia tudo o que havia era o Buck’s Peak – isso e a obra em Blackfoot. Shawn e eu passamos a maior parte de uma semana preparando ferros para terminar o telhado do estábulo. Usamos uma máquina do tamanho de um trailer para pressionar cada ferro em forma de Z, depois
encaixamos escovas de metal no rebolo para tirar a ferrugem e poder ser pintado. Quando a tinta secou, colocamos na pilha perto da oficina, mas em um ou dois dias o vento do pico cobriu tudo de poeira preta, que virou sujeira encardida quando misturada ao óleo no ferro. Shawn disse que precisavam ser lavados antes de colocados, e fui buscar um pano e um balde com água. Era um dia muito quente, eu enxugava poças de suor da testa. Meu arco de cabelo quebrou, eu não tinha outro ali. O vento descia forte da montanha, soprando meus cabelos para os olhos, e eu passava a mão no rosto para enxergar. Minhas mãos, sujas de graxa, borravam meu rosto de preto. Gritei para Shawn que os ferros estavam prontos. Ele surgiu de trás de uma viga e levantou a máscara de solda. Ao me ver, abriu um sorriso largo. – Olha nossa Crioula de volta!
No verão em que Shawn e eu trabalhamos com a Cisalha, houve uma tarde em que limpei tantas vezes o suor do rosto que, quando paramos para jantar, meu nariz e bochechas estavam pretos. Foi a primeira vez que Shawn me chamou de “Crioula”. A palavra era surpreendente, mas não desconhecida. Já ouvira papai falar, de modo que sabia o significado. Mas, por outro lado, não entendia nem um pouco o que ele estava querendo dizer. A única pessoa negra que eu tinha visto era uma menina, filha adotiva de uma família da igreja. Obviamente, papai não se referia a ela. Shawn passou o verão inteiro me chamando de Crioula. “Crioula, corre ali e pega o grampo!” “Hora do almoço, Crioula!” Não me dava um momento de sossego.
Então, um dia, o mundo virou de cabeça para baixo. Entrei para uma universidade, e cheguei a um auditório onde assisti, de olhos arregalados e a cabeça a mil, a aulas de história americana. O professor era o dr. Richard Kimball, de voz ressonante e contemplativa. Eu sabia o que era escravidão. Tinha ouvido papai falar e lido a respeito no livro predileto dele sobre a fundação americana. Li que os escravos nos tempos coloniais eram mais felizes e livres que seus donos porque estes tinham que arcar com as despesas com eles. Fez todo o sentido para mim. No dia em que o dr. Kimball falou sobre escravidão, ele projetou na tela um desenho de um mercado de escravos. A tela era grande. Dominava a sala, como uma tela de cinema. O desenho era caótico. Mulheres em pé, nuas ou seminuas, acorrentadas, e homens em volta delas. O projetor estalou, e entrou a imagem seguinte, uma fotografia em preto e branco, manchada pelo tempo. Desbotada e superexposta, a imagem é emblemática. Mostra um homem sentado, nu da cintura para cima, expondo para a câmera um mapa de cicatrizes saltadas se entrecruzando. A carne nem parece carne, por causa de tudo que fizeram com ela. Nas semanas seguintes, vi muitas imagens mais. Tinha ouvido falar da Grande Depressão anos antes, quando representei Annie, mas os slides de homens de chapéu e sobretudo na fila para distribuição de sopa eram novidade para mim. Quando o dr. Kimball deu aula sobre a Segunda Guerra Mundial a tela se encheu de aviões militares intercalados com esqueletos de cidades bombardeadas. Apareciam rostos misturados – Roosevelt, Hitler, Stalin. A Segunda Guerra Mundial se apagou junto com as luzes do projetor.
Na aula seguinte no auditório, havia caras novas na tela, e eram pretas. Não tinha aparecido mais nenhum rosto negro na tela – pelo menos que eu me lembrasse – desde as aulas sobre escravidão. Eu havia esquecido deles, desses outros americanos que eram estrangeiros para mim. Não tentara imaginar o fim da escravidão: certamente a força da justiça fora ouvida e tinha resolvido a questão. Isso era o que eu achava quando o dr. Kimball começou a aula com algo chamado movimento de direitos civis. A data apareceu na tela: 1963. Achei que tinha havido um erro. A Proclamação de Emancipação ocorrera em 1863. Eu não podia explicar esses cem anos, portanto supus que fosse erro de digitação. Copiei a data com uma interrogação, mas, à medida que mais fotos apareciam na tela, foi ficando claro a que século o professor se referia. As fotos eram em preto e branco, mas as pessoas eram modernas, vibrantes, bem definidas. Não mostravam posições imóveis de uma outra era, mas captavam movimento. Manifestações. Polícia. Bombeiros com mangueiras jogando água em jovens. Dr. Kimball citou nomes que eu nunca ouvira. Começou com Rosa Parks. Apareceu a imagem de um policial apertando o dedo de uma mulher numa esponja de tinta. Dr. Kimball disse que ela havia tomado assento num ônibus. Entendi que ela roubara o assento, embora parecesse uma coisa muito esquisita para roubar. Sua imagem foi substituída pela de um menino negro com camisa branca, gravata e chapéu de aba redonda. Não ouvi a história dele. Ainda estava pensando em Rosa Parks e como alguém conseguia roubar um banco de ônibus. Depois a imagem de um cadáver, e ouvi o dr. Kimball dizer: “Tiraram o corpo dele do rio.” Havia uma data abaixo da imagem: 1955. Lembrei que mamãe tinha 4 anos em 1955, e com essa descoberta a
distância entre mim e Emmett Till desapareceu. Minha proximidade com aquele menino assassinado podia ser medida na vida das pessoas que eu conhecia. O cálculo não era feito com referência a grandes mudanças históricas ou geológicas, a queda de civilizações ou a erosão das montanhas. Era medida no enrugamento da carne humana. Nas linhas no rosto de mamãe. O nome seguinte era Martin Luther King. Eu nunca tinha visto o rosto dele nem ouvido seu nome, e demorei algum tempo para entender que o dr. Kimball não estava falando de Martinho Lutero, de quem eu tinha ouvido falar. Levei mais outro tempo para associar o nome à imagem na tela, um homem de pele escura diante de um templo de mármore e cercado por uma multidão. Mal tinha acabado de entender quem ele era e por que estava discursando, quando soube que fora assassinado. Eu ainda era tão ignorante que conseguia ficar surpresa.
– Olha nossa Crioula de volta! Não sei o que Shawn viu em meu rosto, se foi choque, raiva ou uma expressão vazia. Fosse o que fosse, ficou deliciado. Tinha encontrado uma vulnerabilidade, um ponto fraco. Era tarde demais para fingir indiferença. – Não me chame assim – falei. – Você não sabe o que significa. – Claro que sei. Você está com a cara toda preta, como uma negra, Crioula! Pelo resto da tarde, e pelo resto do verão, eu fui “Crioula”. Antes, tinha respondido milhares de vezes com indiferença. No máximo, achava engraçado e Shawn parecia esperto. Agora eu tinha vontade de pôr uma mordaça nele. Ou deixá-lo sentado com um livro de história, desde que
não fosse o que papai ainda guardava na sala, sob a cópia emoldurada da Constituição. Não sabia explicar o que aquele nome me fazia sentir. Shawn queria me humilhar, me trancar no tempo, numa antiga ideia de mim mesma. Mas longe de me acorrentar, a palavra me transportava. Cada vez que ele dizia: “Ei, Crioula, levanta a caçamba” ou “Me traz um nível, Crioula”, eu voltava à universidade, ao auditório onde vi a história humana se desdobrar e pensava em meu lugar nessa história. As histórias de Emmett Till, Rosa Parks e Martin Luther King me vinham à mente cada vez que Shawn gritava “Crioula, vai para a próxima fileira!”. Vi os rostos deles superpostos em cada viga que Shawn soldou, de modo que no fim do verão eu tinha finalmente começado a compreender algo que deveria ter visto imediatamente: que alguém havia se oposto à grande marcha na direção da igualdade, que alguém fora a pessoa da qual a liberdade teve que ser arrancada. Não pensei em meu irmão como esse alguém. Duvido que algum dia pense nele dessa forma. No entanto, alguma coisa mudara. Eu começara a trilhar um caminho de saber, tinha percebido algo elementar sobre meu irmão, meu pai, sobre mim. Havia decifrado as maneiras pelas quais tínhamos sido esculpidos por uma tradição dada a nós por outrem, uma tradição da qual éramos, proposital ou acidentalmente, ignorantes. Havia começado a compreender que tínhamos emprestado nossa voz a um discurso cujo único objetivo era desumanizar e brutalizar outras pessoas, pois alimentar esse discurso era mais fácil, porque preservar o poder sempre dá a sensação de que é o caminho a seguir. Eu não sabia explicar isso enquanto suava naquelas tardes abrasadoras na empilhadeira. Não tinha a linguagem
que tenho hoje. Mas entendia um fato: que ri milhares de vezes ao ser chamada de Crioula, e agora eu não podia rir. A palavra e o modo como Shawn a pronunciava não tinham mudado. Somente meus ouvidos estavam diferentes. Não mais escutavam naquilo o tilintar de uma brincadeira. O que ouviam era um sinal, um chamado atravessando o tempo, que era respondido com uma convicção cada vez maior: que eu nunca mais deixaria que me fizessem de soldado raso numa guerra sem propósito.
Capítulo 21
Escutelária
Papai me pagou na véspera do meu retorno à BYU. Ele não tinha todo o dinheiro que prometera, mas era suficiente para cobrir a meia bolsa que eu devia. Passei meu último dia em Idaho com Charles. Era domingo, mas não fui à igreja. Passei dois dias com dor de ouvido, e durante a noite mudou de pontadas para uma dor constante e aguda como uma faca. Tive febre. A visão ficou distorcida, sensível à luz. Foi quando Charles telefonou para saber se eu queria ir à casa dele. Respondi que não enxergava bem para dirigir. Ele veio me buscar quinze minutos depois. Cobri o ouvido com a mão, me enrosquei no banco do carona, tirei a jaqueta e cobri a cabeça para evitar a luz. Charles perguntou que remédio eu estava tomando. – Lobélia e escutelária. – Acho que não está adiantando – ele disse. – Vai adiantar. Demora alguns dias. Ele franziu as sobrancelhas, mas não disse nada. A casa de Charles era asseada e espaçosa, janelas claras e assoalho brilhando. Lembrava a casa de vovó-da-cidade. Sentei num banco na cozinha e encostei a cabeça no balcão frio. Ouvi o “crec” de uma porta de armário se abrindo e o
“pop” de uma tampa de plástico. Quando abri os olhos, havia duas pílulas vermelhas no balcão. – É isso que as pessoas tomam para dor – Charles disse. – Nós, não. – Quem é esse “nós”? Você vai embora amanhã. Não é mais um deles. Fechei os olhos, querendo que ele desistisse. – O que você acha que vai acontecer se tomar as pílulas? – ele falou. Eu não respondi. Não sabia o que iria acontecer. Mamãe sempre disse que remédios de médicos eram um tipo especial de veneno, que nunca deixa o corpo e vai corroendo por dentro devagarinho pelo resto da vida. Ela me falou que, se tomasse um remédio hoje, mesmo que eu só tivesse filhos dali a dez anos, eles poderiam nascer deformados. – As pessoas tomam remédio para dor – disse Charles. – É normal. Devo ter estremecido diante da palavra “normal”, porque ele ficou calado. Encheu um copo d’água e pôs na minha frente, empurrou gentilmente as pílulas até tocarem meu braço. Peguei uma. Nunca tinha visto uma pílula tão de perto. Era menor do que eu esperava. Engoli uma, depois a outra. Tanto quanto podia me lembrar, quando eu sentia dor, por causa de um machucado ou dor de dente, mamãe fazia uma tintura de lobélia e escutelária. Nunca melhorava a dor, nem um pouquinho. Por isso passei a respeitar a dor, até a reverenciar, como coisa necessária e intocável. Vinte minutos após ter engolido as pílulas vermelhas, a dor de ouvido tinha passado. Não consegui compreender aquela ausência. Passei a tarde balançando a cabeça pra lá e pra cá, tentando liberar a dor. Achei que se gritasse bem
alto, ou me mexesse muito rápido, talvez a dor de ouvido voltasse e eu saberia que o remédio era um engodo, afinal. Charles observava em silêncio, mas deve ter achado meu comportamento absurdo, principalmente quando comecei a puxar a orelha, que ainda doía um pouquinho, para testar os limites daquela estranha bruxaria.
Mamãe tinha combinado de me levar para a BYU na manhã seguinte, mas foi chamada durante a noite para fazer um parto. Havia um carro estacionado no pátio, um Kia Sephia que papai tinha comprado de Tony pouco tempo antes. A chave estava na ignição. Meti minha bagagem dentro e parti para Utah, pensando que o carro ficaria por conta do dinheiro que papai me devia. Acho que ele pensou a mesma coisa, porque não disse uma palavra sobre isso. Eu me mudei para um apartamento a oitocentos metros da universidade. Tinha novas colegas de apartamento. Robin era alta e atlética, e a primeira vez que a vi estava com um short de corrida curto demais, mas não fiquei embasbacada. Quando conheci Jenni, ela estava tomando Coca Diet, e também não fiquei reparando porque tinha visto Charles tomando dúzias daquilo. Robin era a mais velha, e por alguma razão ela foi solidária comigo. Entendeu que minhas gafes eram por ignorância, não intencionais, e me corrigia de forma gentil, porém franca. Dizia exatamente o que fazer, ou não, para conviver bem com as garotas no apartamento. Não deixar comida estragada no armário, nem pratos rançosos na pia. Robin explicou isso numa reunião no apartamento. Quando terminou, outra colega, Megan, pigarreou: – Gostaria de lembrar a todas para lavar as mãos depois de irem ao banheiro. Não só com água, mas com sabonete
também. Robin revirou os olhos. – Tenho certeza de que todas aqui lavam as mãos. Naquela noite, ao sair do banheiro, parei na pia do corredor e lavei as mãos. Com sabonete. O dia seguinte era o primeiro de aula. Charles tinha feito meu horário. Me inscreveu em duas aulas de música e um curso de religião, que ele disse serem fáceis para mim. Depois me matriculou em dois cursos mais difíceis: álgebra, que me aterrorizava, e biologia, que só não me apavorava porque eu nem sabia o que era. Álgebra quase pôs um fim a minha bolsa de estudos. O professor passava o tempo todo resmungando coisas inaudíveis, andando pra lá e pra cá em frente ao quadro. Eu não era a única perdida, mas estava mais do que o restante. Charles tentava ajudar, mas era o começo de seu último ano do ensino médio e ele tinha seus deveres também. Em outubro, não passei na prova do meio do semestre. Parei de dormir. Ficava acordada até tarde, torcendo os cabelos nos dedos enquanto tentava destrinchar os significados no livro, e depois me deitava na cama ruminando minhas anotações. Tive úlcera de estômago. Uma vez, Jenni me encontrou curvada no gramado de uma casa desconhecida, a meio caminho entre o campus e o apartamento. Meu estômago estava em chamas, eu tremia de dor, mas não deixei que me levasse ao hospital. Ela ficou meia hora junto comigo e depois me levou para casa. A dor no estômago piorou, queimando a noite toda, e foi impossível dormir. Eu precisava de dinheiro para o aluguel e arrumei um emprego de faxineira no prédio da engenharia. Meu turno começava às quatro da manhã. Entre as úlceras e o trabalho na faxina, eu mal dormia. Jenni e Robin ficavam dizendo que eu precisava ir ao médico, mas não fui. Disse a
elas que no Dia de Ação de Graças eu iria em casa e mamãe iria me curar. Elas trocaram olhares nervosos, mas não falaram nada. Charles disse que meu comportamento era autodestrutivo, que eu tinha uma incapacidade quase patológica para pedir ajuda. Falou por telefone, e tão baixinho que era quase um sussurro. Eu falei que ele era louco. – Então vá falar com seu professor de álgebra – ele disse. – Você não está dando conta. Peça ajuda. Nunca tinha me ocorrido falar com um professor. Não sabia que era permitido falar com eles. Então decidi tentar, ainda que fosse para mostrar a Charles que eu era capaz. Bati à porta da sala dele poucos dias antes do Dia de Ação de Graças. No escritório, ele parecia menor do que na sala de aula e tinha mais brilho: a luz sobre a escrivaninha se refletia em sua cabeça e seus óculos. Estava mexendo nuns papéis e não levantou os olhos quando me sentei. – Se eu for mal nessa matéria, vou perder a bolsa – eu disse. Não expliquei que sem a bolsa eu não poderia voltar. – Sinto muito – ele disse, mal olhando para mim. – Mas esta escola é puxada. Talvez seja melhor voltar quando estiver mais velha. Ou se transferir. Como eu não sabia o que era “transferir”, não falei nada. Levantei-me para sair, e por algum motivo isso o suavizou. – Na verdade, muita gente está indo mal – ele disse, se recostando na cadeira. – Que tal isso: a prova final cobre toda a matéria do semestre. Vou avisar à classe que quem fizer o total de pontos na final, não 98, mas cem, terá nota A, não importa o desempenho na prova anterior. Está bom assim?
Falei que sim. Era uma aposta e tanto, mas eu era a rainha das apostas e tanto. Liguei para Charles. Disse que iria para Idaho no Dia de Ação de Graças e precisava de aulas de álgebra. Ele me encontraria em Buck’s Peak.
Capítulo 22
Os sussurros e os gritos
Quando cheguei a Buck’s Peak, mamãe estava fazendo a refeição do Dia de Ação de Graças. A grande mesa de carvalho estava cheia de potes de tinturas e frascos de óleos essenciais. Tirei tudo. Charles vinha jantar. Shawn estava irritado. Sentou-se num banco da mesa, me vendo pegar e esconder os frascos. Eu tinha lavado a porcelana da mamãe, que nunca fora usada, e comecei a arrumar a mesa, atenta à distância entre cada prato e faca. Shawn se ressentiu de minhas arrumações. – É só o Charles. Os padrões dele não são tão altos. Afinal, ele está com você – ele disse. Peguei os copos. Quando pus um na frente dele, Shawn enfiou um dedo nas minhas costelas, com força. – Não me toque! – berrei. E então tudo virou de cabeça para baixo. Meus pés foram tirados de baixo de mim e fui varrida para a sala de estar, fora da vista de mamãe. Shawn me deitou de costas e montou no meu estômago, prendendo meus braços com os joelhos. O choque de seu peso forçou o ar para fora de meus pulmões. Apertou o
braço contra a minha traqueia. Tentei engolir o suficiente para gritar, mas a traqueia estava bloqueada. – Quando você se comporta como criança, me força a te tratar como criança. Shawn falou isso alto, quase gritando. Estava falando comigo, mas não para mim. Falava para mamãe, para deixar tudo claro: eu tinha me comportado como criança, ele estava consertando a criança. A pressão cedeu em minha traqueia e senti um delicioso encher dos pulmões. Ele sabia que eu não iria pedir socorro. – Para com isso! – mamãe bradou da cozinha, mas eu não sabia se era para Shawn ou para mim. – Berrar é grosseria – Shawn disse, mais uma vez falando para a cozinha. – Vai ficar aí no chão até pedir desculpas. Pedi desculpas por ter gritado com ele. Logo eu estava de pé. Dobrei guardanapos de papel toalha e pus um em cada lugar. Quando coloquei junto ao prato de Shawn, ele tornou a enfiar o dedo em minhas costelas. Não falei nada. Charles chegou cedo. Papai ainda não tinha vindo do ferro-velho. Sentou-se de frente para Shawn, que o encarou sem piscar nem uma vez. Não queria deixar os dois a sós, mas mamãe precisava de ajuda com a comida, e voltei ao fogão, achando desculpas para ir à mesa. Numa dessas idas ouvi Shawn falando com Charles sobre suas armas, e em outra, a respeito das várias maneiras de matar um homem. Ri alto nas duas vezes, na esperança de que Charles pensasse que era brincadeira. Na terceira vez, Shawn me puxou para o colo dele. Ri também. A farsa não tinha como durar, nem mesmo até a hora do jantar. Passei por Shawn carregando uma travessa de porcelana cheia de pãezinhos, e ele me deu um soco tão
forte na barriga que me tirou todo o ar. Deixei cair o prato, que quebrou. – Por que você fez isso?! – gritei. Aconteceu tão rápido que não sei como o meu irmão me jogou no chão, mas novamente eu estava deitada de costas e ele em cima de mim. Shawn exigiu que eu pedisse desculpas por quebrar o prato. Murmurei desculpas, baixinho, para Charles não ouvir, mas isso enraiveceu Shawn. Ele agarrou meus cabelos, mais uma vez perto da raiz para ter apoio, me pôs de pé com um puxão e me arrastou para o banheiro. O movimento foi tão abrupto que Charles não teve tempo de reagir. A última coisa que vi, enquanto minha cabeça era arremessada pelo hall, foi Charles ficando em pé de um salto, olhos arregalados, o rosto pálido. Meu pulso estava dobrado, o braço torcido nas costas. Minha cabeça enfiada na latrina e meu nariz pairava sobre a água. Shawn gritava alguma coisa, mas eu não ouvia o que era. Estava atenta ao som de passos no hall e, quando escutei, fiquei enlouquecida. Charles não podia me ver assim. Não podia saber que, com toda a minha falsa aparência – maquiagem, roupas novas, pratos de porcelana –, era aquilo que eu era. Dei um golpe de corpo, me arqueando e puxando o pulso para longe de Shawn. Peguei-o desprevenido. Eu era mais forte do que ele supunha, ou talvez só mais imprudente, e ele perdeu a pegada do pulso. Disparei para a porta. Tinha passado por ela e dado um passo no hall quando minha cabeça foi jogada violentamente para trás. Shawn havia me pegado pelos cabelos e me puxado para ele com tamanha força que ambos caímos na banheira. A cena seguinte de que me lembro foi Charles me levantando, e eu ria – uma gargalhada estridente, demente.
Achei que, se continuasse rindo bem alto, ainda poderia salvar a situação, que Charles ainda poderia se convencer de que aquilo tudo era uma brincadeira. Lágrimas escorriam dos meus olhos. Meu dedão do pé estava quebrado, mas eu continuava gargalhando. Shawn estava parado na porta, de um jeito esquisito. – Você está bem? – Charles ficava repetindo. – Claro que estou! Shawn é tão, tão, tão... engraçado. Minha voz ficou estrangulada na última palavra, quando pus o pé no chão e uma onda de dor me assolou. Charles tentou me carregar, mas o empurrei e fui andando apesar da fratura, cerrando os dentes para não gritar, dando um tapinha de brincadeira em meu irmão. Charles não ficou para jantar. Voou para o jipe e não ouvi falar dele por muitas horas, até que telefonou e me pediu para encontrá-lo na igreja. Não voltaria a Buck’s Peak. Nós nos sentamos no jipe, no estacionamento escuro e vazio. Ele chorava. – Você não viu o que pensou que viu – eu disse. Se me perguntassem, eu teria dito que Charles era a coisa mais importante no mundo para mim. Mas não era. E eu provaria isso para ele. O importante para mim não era amor ou amizade, mas minha habilidade para mentir convincentemente a mim mesma e acreditar que eu era forte. Eu jamais o perdoaria por saber que eu não era. Fiquei instável, exigente, hostil. Inventei uma regra bizarra, cada vez mais elaborada para medir seu amor por mim, e quando ele não correspondia eu ficava paranoica. Me entreguei a acessos de fúria, extravasando toda a minha raiva, todo o ressentimento que sempre tive de papai e de Shawn, e transferindo para ele, um espectador desnorteado que foi o único a me ajudar. Quando discutíamos, eu gritava que nunca mais queria vê-lo, e berrei tantas vezes que uma
noite, quando liguei para dizer que tinha mudado de ideia, como eu sempre fazia, ele disse que não queria. Nosso último encontro foi num campo perto da rodovia. Buck’s Peak se projetava sobre nós. Ele disse que me amava, mas estava além do que podia fazer. E não podia me salvar. Somente eu podia. Eu não fazia ideia do que ele estava falando.
O
inverno cobriu o campus de neve grossa. Fiquei no alojamento decorando equações de álgebra, tentando viver como vivia antes, procurando imaginar minha vida na universidade desligada da minha vida em Buck’s Peak. A muralha entre as duas era inexpugnável. Charles tinha sido um buraco nela. A úlcera no estômago retornou, queimando e doendo à noite. Uma vez acordei com Robin me sacudindo. Disse que eu estava gritando enquanto dormia. Senti meu rosto molhado. Ela me envolveu tão apertado nos braços que me senti num casulo. Na manhã seguinte, Robin me pediu para ir ao médico com ela. Além da úlcera, era preciso fazer raios X do meu pé, porque o dedão estava preto. Eu disse que não precisava de médico. A úlcera iria sarar, e já tinham tratado meu dedão. Robin levantou as sobrancelhas. – Quem? Quem tratou? Dei de ombros. Ela supôs que tinha sido minha mãe, e deixei que ela acreditasse. A verdade foi que, na manhã do Dia de Ação de Graças, pedi a Shawn que visse se estava quebrado. Ele se ajoelhou no chão da cozinha e pus o pé no colo dele. Nessa postura, ele pareceu encolher. Examinou o dedão, depois levantou o olhar para mim e vi alguma coisa em seus olhos azuis. Achei que ia pedir desculpas, mas,
justamente quando seus lábios pareciam se abrir, ele agarrou a ponta do meu dedão e puxou com força. Senti como se meu pé tivesse explodido, de tão intenso foi o choque que me subiu pela perna. Eu ainda estava tentando engolir os espasmos da dor quando Shawn ficou em pé, pôs a mão em meu ombro e falou: – Desculpe, Nais Mova, mas dói menos quando você não sabe o que vem depois. Uma semana depois de Robin me chamar para ir ao médico, acordei novamente com ela me sacudindo. Robin me segurou e apertou contra ela, como se seu corpo pudesse me manter inteira e também me impedir de desmoronar. – Acho que você precisa ir falar com o bispo – ela disse na manhã seguinte. – Eu estou bem – respondi, fazendo de mim um clichê, como procedem as pessoas que não estão bem. – Só preciso dormir. Pouco depois encontrei em minha escrivaninha um panfleto do serviço de aconselhamento da universidade. Mal olhei e joguei no lixo. Eu não podia procurar aconselhamento. Isso seria pedir ajuda, e eu me acreditava invencível. Era uma ilusão elegante, uma pirueta mental. Meu dedão não estava quebrado porque não era quebrável. Somente raios X poderiam provar o contrário. Logo, raios X iriam quebrar meu dedão. A prova final de álgebra entrou nessa superstição. Na minha cabeça, adquiriu uma espécie de poder místico. Estudei com uma intensidade insana, acreditando que, se conseguisse uma ótima nota nesse exame, alcançasse aquele impossível total de pontos, mesmo com o dedo quebrado e sem Charles para me ajudar, seria uma evidência de que eu estava acima de tudo. Intocável.
Na manhã da prova, fui mancando para a sala de provas e me sentei num canto cheio de correntes de ar. A prova estava na minha frente. Os problemas eram complacentes, flexíveis; curvavam-se às minhas manipulações, formando soluções, uma após a outra. Entreguei a folha de respostas e fiquei na sala gelada, de olho na tela de resultados. Quando apareceu, pisquei, e pisquei de novo. Cem. O total de pontos. Fui tomada por uma dormência estranha. Eu me sentia embriagada daquilo e queria gritar para o mundo: “Aí está a prova, nada me abala!”
Buck’s Peak estava como sempre no Natal – um pináculo nevado adornado com pinheiros –, e meus olhos, cada vez mais acostumados a tijolo e concreto, ficaram quase cegos diante de tamanha dimensão e nitidez. Quando cheguei à subida, Richard estava na empilhadeira, levando uma pilha de caibros para a oficina que papai estava construindo em Franklin, perto da cidade. Richard tinha 22 anos, era uma das pessoas mais inteligentes que conheci, mas não tinha diploma de ensino médio. Ao passar por ele na entrada de carros, me ocorreu que provavelmente ficaria o resto da vida manobrando aquela empilhadeira. Pouco depois que cheguei em casa, Tyler telefonou. – Estou ligando só para saber – ele disse. – Para ver se Richard está estudando para o ACT. – Ele vai fazer? – Não sei. Talvez. Papai e eu estamos incentivando. – Papai? Tyler riu. – Sim, papai. Ele quer que Richard vá para a faculdade.
Achei que Tyler estava brincando até uma hora depois, quando nos sentamos para jantar. Tínhamos começado a comer e papai, com a boca cheia de batatas, falou: – Richard, vou te dar a semana que vem de folga, remunerada, se você usar para estudar os livros aí. Esperei por uma explicação. Não demorou a vir. – Richard é um gênio – papai falou logo depois, piscando um olho. – É cinco vezes mais esperto que aquele Einstein era. Ele pode desmentir essas teorias socialistas todas aí e todas essas especulações ímpias. Ele vai chegar lá e explodir todo esse sistema desgraçado. Papai continuou nesse enlevo, alheio ao efeito causado em quem o ouvia. Shawn se deixou cair num banco, com as costas apoiadas na parede, o rosto virado para o chão. Olhar para ele era imaginar um homem esculpido em pedra, de tão pesado, tão vazio de movimento. Richard era o filhomilagre, o presente de Deus, o Einstein para desbancar Einstein. Richard moveria o mundo. Shawn, não. Shawn tinha perdido muito de sua mente quando caiu lá de cima. Um dos filhos de meu pai iria manobrar a empilhadeira pelo resto da vida, mas não seria Richard. Richard parecia ainda mais infeliz que Shawn. Seus ombros estavam curvados e o pescoço enfiado entre eles, como se comprimido sob o peso dos louvores de papai. Depois que papai foi dormir, Richard contou que tinha feito simulados para o ACT. A nota foi tão baixa que ele nem me disse quanto. – Pelo visto, eu sou Einstein – Richard falou, com a cabeça entre as mãos. – O que eu faço? Papai fica dizendo que vou explodir tudo, mas nem sei se vou passar. Era a mesma coisa toda noite. Papai desfiava todas as falsas teorias que seu filho gênio iria desmentir. Depois do jantar eu falava com Richard sobre a faculdade, as aulas,
livros, professores, coisas que apelavam para seu desejo inato de saber. Fiquei preocupada. As expectativas de papai eram tão altas, e o medo de Richard decepcioná-lo era tão intenso, que era bem possível que ele nem fizesse o ACT.
A oficina em Franklin estava pronta para receber o telhado. Dois dias depois do Natal forcei o dedão, ainda torto e preto, a entrar na bota de biqueira e passei a manhã num telhado, aparafusando metal galvanizado. A tarde já avançava quando Shawn largou a parafusadeira e desceu se equilibrando pelo braço da grua. – Intervalo, Nais Mova! – ele gritou lá de baixo. – Vamos à cidade. Pulei no andaime e Shawn baixou o braço da grua até o chão. – Você dirige – ele falou, se recostou no assento e fechou os olhos. Fui para a Stokes. Recordo detalhes estranhos do momento em que entrei no estacionamento. O cheiro de óleo flutuando acima de nossas luvas de couro, a sensação áspera da poeira na ponta dos dedos. E Shawn com um risinho no banco do carona. Em meio a um mar de carros, atento para um jipe vermelho. Charles. Passo pelo pátio principal, retorno pelo asfalto do lado norte da loja, onde os funcionários estacionam. Viro o espelho para me avaliar, notando o emaranhado que o vento fez com meus cabelos em cima do telhado, a graxa que o metal alojou em meus poros, deixando-os grossos e marrons. Minhas roupas estão pesadas de sujeira. Shawn vê o jipe vermelho. E também que lambo o dedo e esfrego a sujeira do rosto, e fica empolado.
– Vamos lá! – ele diz. – Vou esperar no carro. – Você vai entrar – ele diz. Shawn sabe farejar o vexame. Ele sabe que Charles nunca me viu daquele jeito, que no último verão eu corria para casa todos os dias e limpava todas as manchas, toda a sujeira, escondia cortes e calosidades com roupas novas e maquiagem. Centenas de vezes, Shawn me viu sair do banheiro irreconhecível, deixando a sujeira do ferro-velho escorrendo pelo ralo do chuveiro. – Você vai entrar – Shawn fala de novo. Contorna o carro e abre minha porta. O movimento é antiquado, quase cavalheiresco. – Eu não quero. – Não quer que seu namorado veja como está glamorosa? – Ele ri e me espeta com o dedo. Olha para mim de um modo estranho, como se dissesse: “É isso que você é. Ficou fingindo que era outra pessoa. Alguém melhor. Mas você é isso aí.” Ele começa a rir, um riso alto, selvagem, como se alguma coisa engraçada tivesse acontecido, mas não aconteceu nada. Ainda rindo, ele pega meu braço e puxa para cima, como se fosse me jogar nas costas e me carregar como os bombeiros fazem. Não quero que Charles me veja, e ponho fim à brincadeira. Falo sem entonação: “Não me toque.” O que acontece a seguir é um borrão na memória. Só vejo flashes, do céu revirando absurdamente e punhos vindo sobre mim, de um olhar selvagem nos olhos de um homem que não reconheço. Vejo minhas mãos agarrando o volante e sinto braços fortes torcendo minhas pernas. Algo se desloca em meu tornozelo, um “crac” ou um “pop”. Eu largo o volante. Sou puxada para fora do carro.
Sinto o chão gelado nas costas; pedrinhas ralam minha pele. Minha calça escorregara para baixo dos quadris; senti ser tirada, centímetro a centímetro, enquanto Shawn puxava minhas pernas. Minha blusa está levantada e olho para mim, meu corpo esparramado no asfalto, meu sutiã e minha calcinha desbotada. Quero me cobrir, mas Shawn segura minhas mãos sobre a cabeça. Fico quieta, sentindo o frio penetrar em mim. Ouço minha voz implorando para ele me soltar, mas não parece minha voz. Estou escutando os soluços de outra garota. Sou arrastada para cima e colocada de pé. Agarro minhas roupas. Então sou curvada e meu pulso está dobrado para trás, dobrando até onde pode ir e ainda mais. Meu nariz está perto do asfalto quando o osso começa a curvar. Tento recuperar o equilíbrio, usando a força das pernas para me empurrar para trás, mas quando o tornozelo sente o peso, se curva. Grito. Cabeças se voltam em nossa direção. As pessoas esticam o pescoço para ver o que é aquela comoção. Imediatamente, começo a rir, uma gargalhada histérica que, apesar de todos os meus esforços, soa como um grito. – Você vai entrar – Shawn fala, e sinto o osso do pulso estalar. Vou com ele para as luzes brilhantes. Dou risadas enquanto passamos de corredor em corredor, pegando as coisas que ele queria comprar. Rio de qualquer palavra que ele diz, tentando convencer a quem estava no estacionamento de que aquilo era só uma brincadeira. Estou andando com uma distensão no tornozelo, mas mal percebo a dor. Não vemos Charles. A volta para casa é em silêncio. São apenas oito quilômetros, mas parecem oitenta. Chegamos e vou
mancando para a oficina. Papai e Richard estão lá. Como eu já mancava antes por causa do dedão, não dá para notar muito meu novo coxear. Mesmo assim, Richard nota a expressão em meu rosto, manchado de traços de graxa e lágrimas, e sabe que alguma coisa aconteceu. Papai não vê nada. Pego minha parafusadeira e a manejo com a mão esquerda, mas a pressão é irregular, e com o peso todo em um pé só, meu equilíbrio é instável. Os parafusos pulam do metal pintado, deixando marcas longas, sinuosas como fitas enroladas. Papai me manda para casa após eu estragar duas peças. Aquela noite, com o pulso enfaixado bem forte, rabisco uma anotação no diário. Pergunto a mim mesma: Por que ele não parou quando implorei? Era como se eu estivesse apanhando de um zumbi, escrevi. Como se ele não conseguisse me ouvir. Shawn bate à porta. Enfio meu diário sob o travesseiro. Seus ombros estão caídos. Ele fala em voz baixa. Foi uma brincadeira, diz. Não tinha ideia de ter me machucado, até me ver segurando o braço na obra. Verifica os ossos no meu pulso, examina meu tornozelo. Traz gelo embrulhado num pano de prato e diz que, na próxima vez que formos brincar, eu tinha que lhe dizer que estava machucando. Ele sai. Volto ao diário. Era mesmo uma brincadeira?, escrevo. Será que ele não percebia que estava me machucando? Não sei. Simplesmente não sei. Fiquei raciocinando, em dúvida se eu tinha falado claramente: o que eu tinha sussurrado e o que eu havia gritado? Chego à conclusão de que, se tivesse pedido de outro modo, falado com mais calma, ele teria parado. Escrevo isso até acreditar, o que não demora muito, pois
quero acreditar. É reconfortante pensar que o defeito é meu porque significa que está sob meu poder. Largo o diário e me deito na cama, repetindo essa narrativa como se fosse um poema que resolvi aprender de cor. Estava quase decorando, quando a repetição é interrompida. Imagens invadem minha mente – deitada de costas, braços presos atrás da cabeça. De repente, estou no estacionamento. Olho para baixo, para minha barriga à mostra, e olho para cima, para meu irmão. Sua expressão é inesquecível. Não é raiva nem fúria. Não tem furor ali. Só prazer, imperturbado. E uma parte de mim entende, ainda que eu tente argumentar contra, que minha humilhação era a causa do seu prazer. Não era por acaso ou efeito colateral. Era o objetivo. Esse meio conhecimento opera em mim como uma possessão, e por alguns minutos sou tomada por ele. Levanto da cama, pego o diário e faço algo que nunca tinha feito antes: escrevo o que aconteceu. Não uso linguagem vaga, obscura, como fizera em outras anotações. Não me escondo atrás de insinuações e sugestões. Escrevo o que lembro: Houve um momento em que ele estava me forçando para fora do carro, quando prendeu minhas mãos atrás da minha cabeça e minha blusa ficou levantada. Pedi para me deixar arrumar a blusa, mas era como se ele não ouvisse. E ficou olhando fixo para ali, como um grande idiota. É bom que eu seja tão pequena. Se fosse maior, naquele momento eu o teria arrebentado.
– Não sei o que você fez com o seu pulso – papai falou na manhã seguinte. – Mas desse jeito não serve para ficar na equipe. É melhor voltar para Utah.
A ida para a BYU foi hipnótica. Quando cheguei lá, as lembranças do dia anterior tinham esmaecido e sumido. Vieram à tona quando abri meu e-mail. Havia uma mensagem de Shawn. Pedindo desculpas. Mas ele já tinha se desculpado antes, no meu quarto. Nunca soube de Shawn se desculpar duas vezes. Peguei o diário e fiz outra anotação, oposta à primeira, que revisei de memória. Foi um mal-entendido, escrevi. Se eu tivesse pedido para parar, ele teria parado. Mas não importa como eu escolhesse lembrá-lo, aquele evento mudou tudo. Refletindo sobre isso hoje, fico impressionada, não pelo que aconteceu, mas por ter escrito o que aconteceu. Que em algum lugar dentro daquela casca quebradiça, daquela garota esvaziada pela ficção da invencibilidade, ainda havia uma fagulha. As palavras da segunda anotação não obscureceram as palavras da primeira. Ambas permaneceram, minhas lembranças lançadas junto com as dele. Havia uma audácia em não editar a bem da coerência, em não arrancar uma ou outra página. Admitir a incerteza é aceitar a fraqueza, a impotência, e acreditar em si mesma apesar delas. É uma fragilidade, mas nela existe uma força: a convicção de viver na minha própria mente, e não na mente de outra pessoa. Muitas vezes me perguntei se as palavras mais fortes que escrevi naquela noite não tinham vindo da raiva nem da fúria, mas da dúvida: Não sei. Simplesmente não sei. Não saber ao certo e me recusar a ceder àqueles que alegam ter certeza era um privilégio que nunca tinha me permitido antes. Minha vida me foi narrada por outros. Suas vozes eram vigorosas, enfáticas, absolutas. Nunca me ocorreu que minha voz pudesse ser tão forte quanto a deles.
Capítulo 23
Vim de Idaho
No domingo, uma semana depois, um homem da igreja me convidou para jantar. Eu disse não. Aconteceu uma segunda vez, dias depois, com outro homem, e não consegui dizer sim. Não queria nenhum deles perto de mim. O bispo ficou sabendo que havia uma mulher em seu rebanho que era contra o casamento. Seu assistente se aproximou depois do culto de domingo, dizendo que o bispo queria falar comigo no escritório. Meu pulso ainda estava fraco quando apertei a mão do bispo. Era um homem de meia-idade, de rosto redondo e cabelos escuros repartidos com capricho. Sua voz era como cetim. Parecia me conhecer antes mesmo que eu abrisse a boca. (De certa forma, conhecia; Robin tinha lhe contado muita coisa.) Disse que eu deveria me inscrever no serviço de aconselhamento da universidade para que algum dia pudesse desfrutar de um casamento eterno com um homem de bem. Ele falava e eu ouvia, muda como uma rocha. Perguntou sobre minha família. Não respondi. Já os havia traído por não amá-los como deveria. O mínimo que podia fazer era ficar calada.
– O casamento é um plano de Deus – disse o bispo, e se levantou. A reunião tinha terminado. Pediu que eu retornasse no domingo seguinte. Eu disse que retornaria, mas sabia que não. Meu corpo estava pesado quando voltei ao apartamento. Em toda a minha vida tinham me ensinado que o casamento era vontade de Deus, e recusá-lo era uma espécie de pecado. Eu estava desafiando Deus. Não queria fazê-lo. Desejava ter filhos, minha própria família, mas ainda que ansiasse por isso sabia que jamais teria. Eu não era capaz. Não podia estar perto de nenhum homem sem me desprezar. Sempre caçoei da palavra “puta”. Parecia bruta e ultrapassada, até para mim. Mas, apesar de zombar em silêncio de Shawn por usá-la, passei a me identificar com ela. O fato de ser antiquada só fazia fortalecer a associação, porque significava que geralmente só a ouvia em relação a mim. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, depois que havia começado a usar rímel e brilho nos lábios, Shawn disse a papai que ouvira rumores na cidade, de que eu tinha má reputação. Imediatamente, papai achou que eu estava grávida. Ele gritou com mamãe que nunca deveria ter me deixado ir àquelas peças na cidade. Ela disse que eu era confiável, decente. Shawn falou que nenhuma adolescente era e que, na experiência dele, as que pareciam mais beatas eram as piores. Sentada na cama, com as pernas dobradas junto ao peito, ouvi a gritaria. Será que eu estava grávida? Não sabia. Pensei em todas as interações que tivera com garotos, cada olhar, cada toque. Fui ao espelho, levantei a camiseta, passei os dedos pela barriga, examinando cada centímetro, e pensei: Talvez.
Nunca tinha beijado um garoto. Havia presenciado partos, mas nunca me falaram sobre os fatos da concepção. Enquanto meu pai e meu irmão gritavam, a ignorância me manteve em silêncio. Eu não podia me defender porque não entendia a acusação. Dias depois, quando foi confirmado que eu não estava grávida, cheguei a uma nova compreensão da palavra “puta”, que era menos sobre ações e mais acerca da essência. Não era tanto que eu tivesse feito algo errado, era mais que eu existia do modo errado. Havia algo de impuro no fato do meu ser. É estranho como a gente dá às pessoas que ama tanto poder sobre a gente, escrevi no meu diário. Mas Shawn tinha mais poder sobre mim do que eu poderia imaginar. Ele havia me definido para mim mesma, e não há poder maior do que esse.
Fiquei do lado de fora da sala do bispo numa noite fria de fevereiro. Não sabia o que tinha me levado lá. O bispo estava sentado calmamente à sua escrivaninha. Perguntou o que podia fazer por mim, e eu disse que não sabia. Ninguém me daria o que eu queria, porque o que eu desejava era ser refeita. – Posso ajudar – ele disse –, mas você precisa me dizer o que a está incomodando. Sua voz era gentil, e aquela gentileza era cruel. Queria que ele gritasse. Se gritasse, eu ficaria zangada, e zangada eu me sentia poderosa. Não sabia se poderia falar sem me sentir poderosa. Pigarreei e falei durante uma hora. O bispo e eu nos encontramos todos os domingos até a primavera. Na minha visão, ele era um patriarca com
autoridade sobre mim, mas parecia abrir mão dessa autoridade no momento em que eu entrava. Eu falava e ele escutava, drenando minha vergonha como um curandeiro extrai a infecção de uma ferida. No fim do semestre, falei que ia passar o verão em casa com a família. Estava sem dinheiro, não podia pagar o aluguel. Ele pareceu cansado quando lhe disse isso. E falou: – Não vá para casa, Tara. A igreja vai pagar seu aluguel. Eu não queria o dinheiro da igreja. Já havia decidido. O bispo me fez prometer uma coisa: que eu não trabalharia para meu pai. No primeiro dia em Idaho, retomei meu emprego na Stokes. Papai caçoou, disse que eu não ganharia o suficiente para voltar à faculdade. Tinha razão, mas o bispo dissera que Deus iria prover um meio, e acreditei nele. Passei o verão repondo o estoque das prateleiras e ajudando senhoras idosas até o carro. Evitei Shawn. Foi fácil porque ele tinha uma nova namorada, Emily, e eles estavam falando em casamento. Shawn tinha 28 anos; Emily estava no último ano do ensino médio. O temperamento dela era submisso. Shawn repetia todos os joguinhos que fazia com Sadie, testando seu controle. Ela nunca deixava de cumprir as ordens dele, estremecia quando ele levantava a voz e pedia desculpas quando ele gritava com ela. Que o casamento deles seria manipulativo e violento, eu não tinha dúvida, embora essas palavras não fossem minhas. Foram dadas pelo bispo, e eu ainda lutava para compreender o significado delas. No fim do verão voltei à BYU com apenas dois mil dólares. Na primeira noite de volta, escrevi no diário: Tenho muitas contas e não imagino como vou pagar. Mas Deus há de fornecer ou provações para meu crescimento ou meios para conseguir. O tom dessa anotação parece altivo, elevado,
mas detecto nela um cheiro de fatalismo. Talvez eu precisasse sair da universidade. Tudo bem. Havia mercearias em Utah. Eu podia empacotar mercadorias e um dia seria gerente. Duas semanas depois, no semestre de outono, fui arrancada dessa resignação quando acordei de noite com uma dor cegante na mandíbula. Nunca tinha sentido nada tão agudo, tão eletrificante. Queria arrancar o maxilar da boca, só para me livrar da dor. Fui tropeçando até o espelho. A causa era um dente lascado anos atrás, e agora o tinha quebrado de novo, em maior profundidade. Fui ao dentista, que disse que o dente vinha se deteriorando havia anos. O tratamento custaria 1.400 dólares. Eu não podia pagar nem metade daquilo e continuar na universidade. Telefonei para casa. Mamãe concordou em me emprestar o dinheiro, mas papai impôs a condição de eu trabalhar para ele no verão seguinte. Nem pensei no assunto. Falei que nunca mais iria trabalhar no ferro-velho, pelo resto da minha vida, e desliguei. Tentei ignorar a dor e me concentrar nas aulas, mas era como se me mandassem assistir à aula enquanto um lobo mastigava meu maxilar. Eu não tinha tomado ibuprofeno desde aquele dia com Charles, e passei a tomar como se fosse pastilha de hortelã. Aliviava só um pouco. A dor era no nervo, e forte demais. Não tinha dormido desde que a dor começou, e passei a não fazer refeições porque mastigar era impensável. Foi quando Robin contou ao bispo. Ele me chamou numa tarde ensolarada. Me observou calmamente, do outro lado da escrivaninha, e perguntou: – O que você vai fazer a respeito desse dente? Tentei relaxar o rosto. Ele prosseguiu:
– Você não pode ficar o ano inteiro na faculdade desse jeito. Mas há uma solução fácil. Na verdade, muito fácil. Quanto seu pai ganha? – Não muito. Tem dívidas desde que os rapazes destruíram todos os equipamentos no ano passado. – Excelente – ele disse. – Tenho aqui o requerimento para auxílio. Tenho certeza de que você está qualificada, e o melhor é que não vai precisar pagar depois. Eu já ouvira falar em auxílio do governo. Papai dizia que aceitar era ficar em dívida com os Illuminati: – É assim que eles pegam a gente. Dão o dinheiro, de graça, e quando a gente vê, são donos da gente. Essas palavras ecoavam em minha mente. Ouvia alunos falarem sobre o auxílio e me esquivava deles. Era preferível sair da faculdade a deixar que me comprassem. – Não acredito em auxílio do governo – falei. – Por que não? Contei a ele o que meu pai dizia. Ele suspirou e olhou para o céu. – Quanto custa o tratamento do seu dente? – Mil e quatrocentos. Vou arrumar o dinheiro. – A igreja vai pagar – ele disse baixinho. – Eu tenho um fundo discricionário. – Esse dinheiro é sagrado. O bispo jogou as mãos para o alto. Ficamos em silêncio. Então ele abriu a gaveta da escrivaninha e pegou um talão de cheques. Era de sua conta pessoal. Preencheu um cheque, em meu nome, de 1.500 dólares. – Eu não vou deixar você sair da faculdade por causa disso. O cheque estava na minha mão. Fiquei tão tentada, a dor era tão violenta, que devo tê-lo segurado por uns dez segundos antes de devolver.
Arrumei um emprego na lanchonete do campus, servindo hambúrgueres e sorvete. No intervalo entre os dias de pagamento, eu ignorava contas vencidas, pegava dinheiro emprestado com Robin, e assim, duas vezes por mês, as poucas centenas de dólares que entravam na minha conta desapareciam rapidamente. Estava falida quando fiz 19 anos, no fim de setembro. Havia desistido de tratar do dente; eu sabia que nunca teria 1.400 dólares. Além disso, a dor tinha diminuído: ou o nervo havia morrido ou meu cérebro se adaptara às pontadas. Mesmo assim, havia outras despesas, e decidi vender a única coisa que eu possuía de algum valor: meu cavalo, Bud. Liguei para Shawn perguntando quanto eu poderia apurar. Ele disse que um cavalo de raça mista não valia grande coisa, mas eu poderia mandá-lo para o leilão, como vovô fazia com seus cavalos, para virarem comida de cachorro. Imaginei Bud num moedor de carne e disse: – Tente encontrar um comprador antes. Semanas depois, Shawn me mandou um cheque de algumas centenas de dólares. Quando telefonei perguntando para quem ele tinha vendido, Shawn balbuciou alguma coisa vaga sobre alguém de passagem, vindo de Tooele. Fui uma aluna pouco interessada naquele semestre. A curiosidade era um luxo reservado para quem tinha segurança financeira. Minha mente era absorvida por preocupações mais imediatas, como o extrato detalhado da minha conta bancária, a quem eu devia e quanto, se havia alguma coisa em meu quarto que eu pudesse vender por uns dez ou vinte dólares. Fiz todos os deveres e estudei para as provas, mas por puro terror de perder a bolsa se
minha média caísse um único décimo, e não por interesse nas aulas. Em dezembro, depois do meu último pagamento do mês, eu tinha sessenta dólares no banco. O aluguel era de 110 dólares, vencendo em 7 de janeiro. Precisava de dinheiro rápido. Ouvi falar de uma clínica perto do shopping que pagava por doação de sangue. Uma clínica devia fazer parte do Sistema Médico, mas raciocinei que, se estavam tirando, e não pondo alguma coisa em mim, tudo bem. A enfermeira ficou vinte minutos espetando minhas veias e, por fim, disse que eram muito pequenas. Enchi o tanque de gasolina com meus últimos trinta dólares e fui passar o Natal em casa. Na manhã de Natal, papai me deu um rifle. Como não fui eu quem o tirou da caixa, não sabia que tipo de rifle era. Perguntei a Shawn se ele queria comprar, mas papai o pegou de volta e disse que iria guardar. E então foi isso. Não tinha mais nada para vender, nem amigos de infância nem presentes de Natal. Era hora de largar a faculdade e arrumar um emprego. Aceitei o fato. Meu irmão Tony estava morando em Las Vegas, trabalhando como caminhoneiro, e no dia de Natal telefonei para ele. Respondeu que eu podia morar com ele por alguns meses e trabalhar no In-N-Out Burger do outro lado da rua. Desliguei e estava passando pelo hall, desejando ter perguntado a Tony se podia me emprestar o dinheiro para chegar a Las Vegas, quando uma voz roufenha me chamou: – Ei, Nais Mova. Venha aqui um minuto. O quarto de Shawn estava imundo. Havia roupa suja espalhada por todo o chão, e dava para ver o cabo de um revólver debaixo de uma pilha de camisetas manchadas. As prateleiras tinham empenado sob o peso de caixas de munição e livros do Louis L’Amour. Shawn estava sentado
na cama, os ombros e as pernas arqueados, joelhos para fora. Parecia estar naquela posição havia algum tempo, contemplando a imundície. Deu um suspiro, ficou de pé e andou em minha direção, levantando o braço direito. Involuntariamente, dei um passo para trás. Pegou a carteira, abriu e tirou de lá uma nota amassada de cem dólares. – Feliz Natal – ele disse. – Você não vai desperdiçar como eu.
Achei que aqueles cem dólares eram um sinal de Deus. Eu deveria continuar na faculdade. Voltei à BYU e paguei o aluguel. Então, como não teria como pagar o de fevereiro, arrumei um segundo emprego, como faxineira doméstica, dirigindo vinte minutos para o norte três vezes por semana para limpar casas ricas em Draper. O bispo e eu ainda tínhamos reuniões aos domingos. Robin lhe dissera que eu não havia comprado os livros para o semestre. – Isso é ridículo – ele disse. – Peça um auxílio! Você é pobre! É para isso que o auxílio existe! Minha oposição era além do racional, era visceral. – Eu ganho um monte de dinheiro – o bispo falou. – Pago um monte de impostos. Finja que o dinheiro é meu. Ele havia imprimido os formulários e me deu um. – Pense nisso. Você precisa aprender a aceitar ajuda, até mesmo do governo. Peguei os formulários. Robin preencheu. Me recusei a enviar. – Só junte a papelada – ela disse. – Veja o que acha. Precisava das declarações de imposto de renda de meus pais. Eu nem sabia se eles declaravam, mas, se declarassem, papai não me daria se soubesse para o que
era. Pensei em inventar várias justificativas, mas nenhuma era crível. Imaginei as declarações guardadas no grande arquivo de documentos na cozinha. E decidi roubá-las. Fui para Idaho pouco antes de meia-noite, esperando chegar por volta das três da manhã, com a casa em silêncio. Chegando ao pico, subi cautelosamente o acesso, estremecendo cada vez que um graveto estalava sob os pneus. Abri a porta do carro sem fazer barulho, cruzei o gramado devagarinho e entrei pela porta dos fundos, andando pela casa silenciosamente, tateando para chegar ao arquivo. Mal dera alguns passos quando ouvi um “clink” familiar. – Não atire! – gritei. – Sou eu! – Quem? Acendi a luz e vi Shawn sentado do outro lado, apontando uma pistola para mim. Baixou a arma. – Pensei que fosse... outra pessoa. – Óbvio! – eu disse. Ficamos ali meio sem graça por um momento, e fui dormir. Na manhã seguinte, depois que papai foi para o ferrovelho, contei a mamãe uma história inventada de que a BYU precisava da declaração de imposto de renda. Ela sabia que eu estava mentindo, pois, quando papai chegou inesperadamente e perguntou por que estava copiando a declaração, ela falou que era uma duplicata para o arquivo dela. Peguei a cópia e voltei para a BYU. Shawn e eu não trocamos uma palavra até eu partir. Ele não me perguntou por que entrei furtivamente em minha própria casa às três da manhã, e eu também não perguntei quem ele estava esperando no meio da noite com uma pistola carregada.
O
formulário ficou uma semana em minha escrivaninha antes que Robin fosse comigo ao correio e me visse entregá-lo ao funcionário. Não demorou muito, uma semana, talvez duas. Eu estava limpando casas em Draper quando chegou a correspondência, e Robin deixou a carta em minha cama, com um bilhete dizendo que eu agora era uma comunista. Rasguei o envelope e um cheque caiu na minha cama. De quatro mil dólares. Me senti gananciosa, e logo em seguida tive medo da minha ganância. Havia um número de contato. Disquei. – Tem um problema – falei com a mulher que atendeu. – O cheque é de quatro mil dólares, e só preciso de 1.400. Silêncio na linha. – Alô? Alô? – Deixe-me entender bem – a mulher disse. – Você está dizendo que o cheque é dinheiro demais? E o que você quer que eu faça? – Se eu devolver, você pode me mandar outro? Só preciso de 1.400. Para um tratamento de canal. – Olhe, querida. Você recebe isso porque é o que você recebe. Pode descontar ou não, você é quem sabe. Fiz o tratamento de canal. Comprei os livros, paguei o aluguel e ainda sobrou dinheiro. O bispo falou que eu devia usá-lo com alguma coisa que fosse para mim, mas eu disse que não podia, precisava economizar. Ele disse que eu podia gastar alguma coisa sim. – Lembre que você pode pedir a mesma quantia no ano que vem. Então comprei um vestido novo para os domingos. Eu achava que o dinheiro seria usado para me controlar, mas o que ele me deu foi o poder de manter minha palavra
para mim mesma. Pela primeira vez, desde que falei que nunca mais trabalharia para papai, eu acreditei naquilo. Hoje, fico pensando se o dia em que decidi roubar a declaração de imposto de renda não foi a primeira vez que saí de casa para ir até Buck’s Peak. Naquela noite, entrei na casa de meu pai como uma intrusa. Era uma mudança na minha forma de pensar, era aceitar minhas raízes. Minhas palavras confirmaram isso. Quando colegas me perguntavam de onde eu era, eu dizia: “Eu vim de Idaho”, uma frase que, por mais que eu tenha repetido anos e anos, nunca me pareceu natural. Quando a gente faz parte de um lugar, crescendo naquela terra, não tem necessidade de dizer que é de lá. Antes de partir, nunca havia pronunciado as palavras “Eu vim de Idaho”.
Capítulo 24
Um cavaleiro errante
Mil dólares na conta bancária. Só de pensar nisso já era estranho, quanto mais falar. Mil dólares. Sobrando. Dos quais eu não tinha necessidade imediata. Levei semanas para aceitar esse fato, mas quando o fiz senti a mais poderosa vantagem do dinheiro: a capacidade de pensar em coisas além dele. Meus professores entraram em foco, súbita e nitidamente. Era como se antes do auxílio eu os visse através de uma lente borrada. Meus livros começaram a fazer sentido, e passei a estudar mais que o exigido. Foi nesse estado que ouvi pela primeira vez o termo transtorno bipolar. Eu estava na turma de psicologia 101 quando o professor leu em voz alta os sintomas que apareciam na tela: depressão, mania, paranoia, euforia, delírios de grandeza e de perseguição. Prestei atenção, com um interesse desesperado. É o meu pai, escrevi nas anotações. Ele está descrevendo papai. Pouco antes de o sino tocar, um aluno perguntou qual o papel que os transtornos mentais tiveram em movimentos separatistas.
– Estou pensando em conflitos famosos, como Waco, Texas e Ruby Ridge, em Idaho – ele disse. Idaho não tinha muitas coisas para ter fama, e me perguntei o que seria “Ruby Ridge”. Ele tinha dito que foi um conflito. Busquei na memória, tentando lembrar se já tinha ouvido as palavras. Havia nelas algo de familiar. Então as imagens apareceram em minha mente, fracas e distorcidas, como se a transmissão tivesse falhas na origem. Fechei os olhos e a cena se tornou vívida. Eu estava em casa, agachada atrás dos armários de madeira. Mamãe, ajoelhada ao meu lado, a respiração lenta e cansada. Ela passou a língua nos lábios, disse que estava com sede e, antes que eu a impedisse, se levantou e correu para a pia. Senti o tremor do tiroteio e ouvi meu próprio grito. Houve um baque de alguma coisa pesada caindo no chão. Puxei o braço dela para o lado e peguei o bebê. O sino tocou. O auditório ficou vazio. Fui para o laboratório de informática. Hesitei por um momento diante do teclado, tomada pela premonição de que talvez aquela informação me trouxesse arrependimento. Depois fiz uma busca por “Ruby Ridge”. Segundo a Wikipédia, Ruby Ridge foi o local do confronto fatal de Randy Weaver e várias agências federais, inclusive o U.S. Marshals Service e o FBI. O nome Randy Weaver me era familiar, e enquanto lia eu o ouvia saindo dos lábios de meu pai. A história que vivi na imaginação durante 13 anos se repetiu em minha mente: o tiro no menino, depois no pai, e em seguida na mãe. O governo havia assassinado a família inteira, pais e filho, para encobrir o que tinham feito. Pulei a introdução e fui logo para o primeiro tiroteio. Agentes federais cercaram o chalé dos Weaver. A missão era apenas de vigilância, e a família não sabia da presença dos agentes, até que o cachorro começou a latir. Julgando
que ele havia pressentido um animal selvagem, o filho de 14 anos, Sammy, correu para a floresta. Os agentes atiraram no cachorro, e Sammy, que estava armado, abriu fogo. O conflito resultou em duas mortes: a de um agente federal e a de Sammy, que tinha recuado e estava subindo o morro em direção à casa quando foi atingido nas costas. Continuei a ler. No dia seguinte atiraram em Randy, também nas costas, quando ele tentava buscar o filho. O corpo tinha ficado no barracão. Randy estava levantando a tranca quando um atirador de tocaia mirou na espinha dele e errou. Sua esposa, Vicki, chegou à porta para ajudar o marido, e o atirador abriu fogo de novo. A bala a atingiu na cabeça, matando-a imediatamente, enquanto ela trazia no colo a filhinha de dez meses. A família ficou nove dias escondida no chalé, junto com o corpo da mãe, até que negociadores puseram fim ao confronto e Randy Weaver foi preso. Li e reli essas últimas linhas, tentando entender. Randy Weaver estava vivo? Papai sabia? Continuei lendo. O país inteiro ficou indignado. Todos os principais jornais publicaram artigos criticando severamente o governo pelo cruel desprezo pela vida humana. O Departamento de Justiça abriu inquérito e o Senado ouviu depoimentos. Ambos recomendaram reforma nas leis de intervenção, particularmente no uso de forças letais. Os Weaver entraram com uma ação judicial exigindo duzentos milhões de dólares de indenização, mas fizeram um acordo com o governo, que ofereceu um milhão para cada uma das três filhas de Vicki. Randy recebeu cem mil dólares e a retirada de todas as acusações, mantendo, porém, duas cláusulas referentes a comparecimento à corte de justiça. Ele foi entrevistado pelas maiores organizações da mídia e chegou a escrever um livro em coautoria com
uma filha. Hoje ganha a vida fazendo palestras em feiras de armas de fogo. Se foi uma tentativa de encobrir o papel do governo, foi muito mal feita. Houve repercussão na mídia, inquéritos oficiais, fiscalização. Não são estas as medidas da democracia? Eu ainda não entendia uma coisa. Afinal, por que os agentes do governo tinham cercado o chalé de Randy Weaver? Por que ele fora escolhido? Lembrei de papai dizendo que bem poderia ter sido nós. Papai sempre falava que algum dia o governo viria atrás de quem resistisse à lavagem cerebral, pessoas que não punham os filhos na escola. Durante 13 anos acreditei que o governo tinha perseguido Randy para obrigá-lo a pôr os filhos na escola. Voltei ao alto da página e li tudo de novo. Dessa vez não pulei a introdução. Segundo todas as fontes, inclusive o próprio Randy Weaver, o conflito havia começado quando ele vendeu duas espingardas de cano curto para um agente infiltrado que conheceu numa reunião do Nações Arianas. Li essa frase mais de uma vez. Na verdade, li várias vezes. Só então entendi. No cerne dessa história o que estava em jogo era a supremacia branca, e não a educação em casa. O governo, aparentemente, nunca tivera o hábito de matar pessoas por não mandarem os filhos à escola. Isso me parecia tão óbvio agora que era difícil entender por que eu acreditara em outra coisa. Tive um momento de amargor, achando que papai havia mentido. Depois me lembrei do medo em seu rosto, ofegante, de sua respiração e tive certeza de que ele realmente acreditava que estávamos em perigo. Procurei uma explicação e palavras estranhas me vieram à mente, palavras que eu ouvira minutos antes: paranoia, mania, delírios de grandeza e de perseguição. E finalmente a
história fez sentido – a da página e a que vivi na infância. Papai deve ter lido sobre Ruby Ridge, ou visto no noticiário, e quando aquilo passou pelo seu cérebro febril deixou de ser uma história sobre alguém e passou a ser uma história sobre ele. Se o governo foi atrás de Randy Weaver, certamente iria ao encalço de Gene Westover, que estava na linha de frente na guerra contra os Illuminati havia anos. Não contente de continuar lendo sobre as proezas alheias, ele forjou para si um elmo e montou num pangaré.
Fiquei
obcecada com o transtorno bipolar. Tínhamos que fazer uma pesquisa para a aula de psicologia. Escolhi esse tema e usei como pretexto para consultar todos os neurocientistas e psicólogos cognitivistas da universidade. Relatei os sintomas de papai, atribuindo-os não ao meu pai, mas a um tio fictício. Alguns sintomas se encaixavam perfeitamente, outros não. Os professores disseram que cada caso é um caso. Um deles falou: – O que você está descrevendo parece mais uma esquizofrenia. Seu tio já fez algum tratamento? – Não. Ele acha que os médicos fazem parte de uma conspiração do governo. – Isso complica mesmo as coisas – ele disse. Com a sutileza de um trator, escrevi sobre o efeito que pais bipolares têm sobre os filhos. Foi acusador, brutal. Escrevi que filhos de pais bipolares estão expostos a dois fatores de risco. Primeiro, porque têm uma predisposição genética a transtornos de humor; e, segundo, devido ao ambiente de tensão e à criação deficiente que os pais que têm esse transtorno dão aos filhos. Nas aulas, aprendi qual era o efeito dos neurotransmissores na química do cérebro. Entendi que a
doença não é uma questão de escolha. Esse conhecimento poderia ter me tornado mais complacente com relação a papai. Não tornou. Eu só sentia raiva. Nós é que pagamos, pensei. Mamãe. Luke. Shawn. Tínhamos sofrido com machucados, cortes, concussões, pernas queimadas e cabeças abertas. Vivíamos em estado de alerta, numa espécie de terror constante, o cérebro inundado de cortisol, porque qualquer dessas coisas podia acontecer a qualquer instante. Pois papai sempre colocava a fé antes da segurança. Porque ele acreditava estar certo, e continuou acreditando depois da primeira batida de carro, da segunda, depois da caçamba, do fogo, do andaime. E fomos nós que pagamos. Depois que entreguei o trabalho, passei o fim de semana em Buck’s Peak. Menos de uma hora após minha chegada, papai e eu já estávamos discutindo. Ele disse que eu devia lhe pagar o carro. Na verdade, ele só mencionou, mas eu fiquei enlouquecida, histérica. Pela primeira vez na vida, gritei com meu pai. Não por causa do carro, mas por causa dos Weaver. Fiquei tão sufocada de raiva que as palavras saíam aos borbotões, como soluços engasgados. Por que você é assim? Por que nos aterrorizou dessa maneira? Por que você lutou tanto com monstros imaginados e não faz nada sobre os monstros na sua cabeça? Papai me olhava boquiaberto, estupefato. Seu queixo estava caído e as mãos pendiam ao lado do corpo, tremendo, como se ele quisesse levantá-las, fazer alguma coisa. Eu nunca o vira tão desamparado desde a noite em que se inclinou junto à janela do carro destruído, vendo o rosto de mamãe inchar e se distender, incapaz até mesmo de tocar nela porque os fios elétricos transmitiam uma energia fulminante por meio do metal.
Cheia de vergonha, ou de raiva, fui embora. Dirigi sem parar até a BYU. Meu pai telefonou poucas horas depois. Não atendi. Gritar com ele não adiantou, quem sabe ignorálo adiantaria. No fim do semestre, fiquei em Utah. Foi o primeiro verão que não voltei a Buck’s Peak. Não falei com meu pai, nem por telefone. Esse distanciamento não foi formalizado. Eu só não queria ver meu pai nem ouvir sua voz, e assim o fiz.
Resolvi experimentar a normalidade. Tinha vivido 19 anos como meu pai queria. Agora iria tentar outra coisa. Mudei para um apartamento no outro lado da cidade, onde ninguém me conhecia. Queria recomeçar. Na igreja, na primeira semana, o bispo me recebeu com um caloroso aperto de mão e foi cumprimentar outro recém-chegado. Adorei o desinteresse dele. Se eu conseguisse fingir ser normal por algum tempo, talvez pudesse achar que era verdade. Foi na igreja que conheci Nick, que usava óculos quadrados e cabelos escuros espetados cuidadosamente à custa de gel. Papai teria desprezado um homem que usasse gel nos cabelos, talvez por isso eu tenha amado Nick. Também amei o fato de ele não saber distinguir um alternador de um virabrequim. O que Nick conhecia eram livros, videogames e marcas de roupa. E palavras. Tinha um vocabulário impressionante. Formamos um casal desde o começo. Ele pegou minha mão na segunda vez que nos encontramos. Quando sua pele tocou a minha, me preparei para lutar contra aquele instinto primitivo de afastá-lo, mas não foi preciso. Foi estranho, excitante, e nenhuma parte de mim queria que acabasse. Desejei estar ainda na minha antiga congregação
e sair correndo para contar ao bispo de lá que eu não precisava mais ser refeita. Superestimei meu progresso. Fiquei tão concentrada no que estava funcionando que não reparei no que não estava. Fazia alguns meses que estávamos juntos, eu passava várias tardes com a família dele e nunca dizia uma palavra sobre a minha. Sem pensar, uma vez mencionei um óleo de mamãe quando Nick teve dor no ombro. Ele tinha curiosidade – e estava esperando que eu tocasse no assunto –, mas fiquei com raiva de mim pelo deslize, e não deixei acontecer de novo.
No fim de maio comecei a me sentir meio doente. Durante uma semana mal consegui me arrastar para o trabalho, que era um estágio num escritório de advocacia. Dormia no começo da noite e acordava no fim da manhã, e ainda passava o dia inteiro bocejando. Comecei a sentir dor de garganta e minha voz sumia, enrouquecida, como se as cordas vocais tivessem virado lixas. A princípio, Nick achou engraçado eu não querer ir ao médico, mas à medida que a doença progredia ele foi ficando preocupado e, depois, confuso. Eu me esquivava, dizendo: – Não é nada grave. Se fosse, eu iria. Outra semana se passou. Abandonei o estágio e ficava dormindo dia e noite. Certa manhã, Nick chegou de surpresa. – Vamos ao médico – ele disse. Eu ensaiei dizer que não, mas vi a expressão no rosto dele. Parecia querer fazer uma pergunta, mas sabia que não valia a pena. A linha tensa da boca, o estreitar dos olhos. “Isso é expressão de falta de confiança”, pensei.
Entre consultar um diabólico médico socialista e admitir para meu namorado que eu achava que todos os médicos eram socialistas diabólicos, preferi ir ao médico. – Vou hoje – falei. – Eu prometo. Mas prefiro ir sozinha. – Ótimo – ele disse. Nick saiu, e me deparei com outro problema. Eu não sabia como ir a um médico. Liguei para uma colega de turma e pedi que me levasse de carro. Uma hora depois, ela me pegou e vi, perplexa, que passou direto pelo hospital perto do meu apartamento. Ela me levou a um prédio pequeno no norte do campus, que chamou de “clínica”. Tentei fingir desinteresse, como se tivesse feito aquilo antes, mas ao atravessar o estacionamento senti como se mamãe estivesse me observando. Não sabia o que dizer à recepcionista. Minha amiga atribuiu meu silêncio à dor de garganta e descreveu meus sintomas. Disseram para esperar. Uma enfermeira me levou a uma salinha branca onde me pesou, tomou a pressão e esfregou minha língua com cotonete. Disse que garganta nessa gravidade era geralmente causada por estreptococos ou mononucleose. Dali a alguns dias, eles iriam saber. Quando o resultado chegou, fui sozinha à clínica. Um médico de meia-idade e quase calvo me deu o resultado. – Parabéns – ele disse. – Você tem estrepto e mono. Em um mês, é a primeira pessoa que vejo com os dois. – Os dois? – sussurrei. – Como posso ter os dois? – Muita, muita falta de sorte – ele falou. – Vou lhe dar penicilina para o estrepto, mas não posso fazer muito pela mono. Vai ter que esperar passar. Mas curando o estrepto você vai se sentir melhor. O médico pediu à enfermeira que trouxesse penicilina. – Você tem que começar com antibiótico imediatamente – ele disse.
Com os comprimidos na mão, lembrei do dia em que Charles me deu ibuprofeno. Pensei em mamãe e nas muitas vezes que me dissera que antibióticos envenenam o corpo, causam infertilidade e bebês malformados. Que o espírito do Senhor não reside num vaso imundo e que nenhum vaso é limpo quando abandona Deus e confia no homem. Ou talvez fosse papai quem dizia essa última parte. Engoli os comprimidos. Talvez em desespero, porque me sentia tão mal, mas penso que a razão era mais mundana: curiosidade. Lá estava eu no coração do Sistema Médico, e queria ver, enfim, o que era aquilo de que eu sempre tivera medo. Meus olhos iam sangrar? Minha língua ia cair? Decerto alguma coisa horrível ia acontecer. Eu precisava saber o quê. Voltei ao apartamento e liguei para mamãe. Achei que confessar aliviaria minha culpa. Contei que havia ido ao médico e que tinha estrepto e mono. – Estou tomando penicilina – eu disse. – Só queria que você soubesse. Ela começou a falar muito rápido, mas não escutei bem porque estava cansada demais. Quando ela pareceu ficar mais relaxada, falei “te amo” e desliguei. Dois dias depois chegou um pacote de Idaho pelo correio expresso. Continha seis frascos de tintura, duas ampolas de óleo essencial e um saco de argila branca. Reconheci as fórmulas. Óleos e tinturas para fortificar rins e fígado, argila para banhar os pés, a fim de eliminar toxinas. Havia um bilhete de mamãe: Essas ervas vão tirar o antibiótico do seu organismo. Por favor, use-as enquanto insistir em tomar essas drogas. Amo você. Botei a cabeça no travesseiro e adormeci quase instantaneamente, mas antes dei uma boa gargalhada. Ela
não tinha mandado remédios contra o estrepto e a mono. Só contra a penicilina.
Acordei
na manhã seguinte com o telefone tocando. Era
Audrey. – Houve um acidente – ela disse. Suas palavras me transportaram a outro momento, quando ouvi essas palavras em vez de “Alô”. Pensei naquele dia e no que mamãe dissera em seguida. Tive a esperança de Audrey estar lendo um roteiro diferente. – É papai. Se você correr, se sair daí agora mesmo, vai dar tempo de se despedir.
Capítulo 25
A função do enxofre
Havia uma história que me contavam quando menina, e repetida tantas vezes desde que eu era muito pequena, que não me lembro quem a contou primeiro. Era sobre vovô-láde-baixo e como havia surgido a mossa acima de sua têmpora direita. Quando vovô era mais jovem, passou um verão muito quente na montanha, cavalgando a égua branca que usava na função de vaqueiro. Era uma égua alta, amansada pela idade. Mamãe contava que a égua era firme como uma rocha, e vovô não prestava muita atenção quando a cavalgava. Largava as rédeas quando bem queria, para arrancar uns carrapichos da bota ou tirar o boné vermelho e enxugar o suor do rosto com a manga da camisa. A égua ficava parada. Mas, por mais tranquila que fosse, tinha pavor de cobras. – Ela deve ter avistado alguma coisa se mexendo no capim – mamãe contava –, porque empinou e atirou o vovô longe. Havia uns ancinhos atrás. Vovô caiu neles e um gancho cravou em sua testa.
O que exatamente amassou o crânio do vovô mudava a cada vez que eu ouvia a história. Às vezes era um ancinho, às vezes uma pedra. Desconfio que ninguém soubesse ao certo. Não houve testemunhas. O baque deixou vovô inconsciente, e ele não se lembra de nada até vovó tê-lo encontrado na varanda, encharcado de sangue até as botas. Ninguém sabe como ele chegou à varanda. Do pasto de cima até a casa é um quilômetro e meio de terreno rochoso com subidas íngremes inclementes, que vovô não teria conseguido transpor naquele estado. Mas chegou lá. Vovó ouviu um leve arranhar na porta e, ao abrir, viu vovô estendido com os miolos sangrando para fora da cabeça. Ela o levou à cidade às pressas, onde lhe colocaram uma placa de metal. Depois que vovô já estava em casa, se recuperando, vovó saiu em busca da égua branca. Andou por toda a montanha, mas foi achá-la amarrada na cerca de trás do curral, com um nó que ninguém sabia dar, exceto o pai dela, Lott. Às vezes, quando eu estava na casa da vovó comendo furtivamente cereais com leite, perguntava a vovô como tinha conseguido sair da montanha. Ele sempre dizia que não sabia. Então dava um suspiro fundo, longo e lento, como se estivesse entrando em um modo dele, não em uma história, e contava tudo de novo, do começo ao fim. Vovô era um homem calado, quase mudo. A gente podia passar a tarde inteira capinando com ele e não ouvir nem dez palavras. Só “Tá”, “Esse não”, “É sim”. Mas bastava perguntar como tinha descido da montanha naquele dia que ele falava por dez minutos sem parar, embora só se lembrasse de estar deitado no mato, sem conseguir abrir os olhos enquanto o sol secava o sangue de seu rosto.
– Mas uma coisa vou lhe dizer – vovô falava, tirando o chapéu e passando os dedos no amassado da testa. – Eu ouvi coisas deitado lá no mato. Vozes, e estavam falando. Reconheci uma, porque era do vovô Lott. Ele dizia para alguém que o filho de Albert estava em perigo. Era Lott falando, sei disso tão certo quanto estar em pé aqui. – Os olhos de vovô brilhavam um pouquinho, e ele dizia: – Só tem uma coisa. Lott tinha morrido há quase dez anos. Essa parte da história pedia reverência. Mamãe e vovó adoravam contar, mas eu gostava mais do jeito que mamãe contava. A voz dela sussurrava nos lugares certos. Eram anjos, ela dizia com uma pequena lágrima escorrendo junto ao sorriso. Seu bisavô Lott mandou os anjos, e eles desceram o vovô da montanha. A marca era feia, uma cratera de cinco centímetros na testa do vovô. Às vezes eu imaginava um médico alto, de jaleco branco, batendo com um martelo numa placa de metal. Em minha imaginação de criança, o médico usava as mesmas folhas de metal corrugado que papai colocava nos telhados dos galpões de feno. Mas isso era só às vezes. Geralmente, eu via outra coisa. A prova de que meus ancestrais andavam pelo pico, sentinelas, com anjos a seu comando.
Não sei por que papai estava sozinho na montanha aquele dia. A compactadora de carros ia chegar. Suponho que ele queria retirar o último tanque de gasolina, mas não consigo imaginar o que deu nele para acender o maçarico sem antes drenar o tanque. Não sei até onde ele chegou, quantas cintas de ferro tinha conseguido cortar quando uma fagulha atingiu o tanque. Mas sei que papai estava em pé
junto ao carro, com o corpo encostado na lataria quando o tanque explodiu. Vestia uma camisa de manga comprida, luvas de couro e máscara de solda. O rosto e os dedos receberam o maior impacto da explosão. O calor derreteu a máscara como se fosse uma colher de plástico. A parte de baixo do rosto se liquefez. O fogo consumiu a máscara, a pele, os músculos. O mesmo processo se repetiu em seus dedos – as luvas de couro não davam conta do inferno que as atravessou – línguas de fogo lamberam seus ombros e o peito. Quando se arrastou para longe do fogaréu, deve ter parecido mais um cadáver que um corpo vivo. Para mim, é incompreensível que ele tenha conseguido se mexer, quanto mais se arrastar por quatrocentos metros pelos campos e barrancos. Se alguma vez alguém precisou de anjos, foi ele. Mas, contra todas as probabilidades, ele conseguiu – assim como seu pai anos antes –, e ficou encolhido na porta de casa, incapaz de bater. Naquele dia minha prima Kylie estava trabalhando com mamãe, enchendo ampolas de óleo essencial. Outras mulheres trabalhavam ali perto, pesando folhas secas e extraindo tinturas. Kylie ouviu uma batida leve à porta, como se alguém esbarrasse com o cotovelo. Abriu a porta, mas não se lembra do que viu. – Eu bloqueei – ela me disse mais tarde. – Não me lembro do que vi. Só me lembro do que pensei, que foi: Ele não tem pele. Meu pai foi carregado para o sofá. Alguém despejou Resgate – a homeopatia para choque – na cavidade sem lábios que tinha sido a boca. Deram a ele lobélia e escutelária para a dor, a mesma mistura que mamãe dera a Luke anos atrás. Papai engasgou com o remédio. Não
conseguia engolir. Havia inalado o calor da explosão e a garganta estava queimada. Mamãe tentou levá-lo ao hospital. Arfando, ele sussurrou com dificuldade que preferia morrer a ir ao médico. A autoridade do homem era tanta que ela cedeu. A pele morta foi cuidadosamente retirada, o corpo, lambuzado com unguento – o mesmo medicamento que mamãe passara em Luke anos atrás – da cintura até o alto da cabeça, depois envolto em ataduras. Mamãe lhe deu cubos de gelo para chupar, a fim de hidratá-lo, mas o interior da boca e a garganta estavam tão queimados que não absorviam líquido, e sem lábios nem músculos ele não conseguia segurar o gelo na boca, que escorria para a garganta e provocava engasgo. Muitas vezes durante aquela noite ele quase não resistiu. A respiração diminuía, parava, e minha mãe, junto com a tropa celestial de mulheres que trabalhavam com ela, corria a ajustar chacras e dar tapinhas em pontos de pressão, tudo o que pudesse levar os pulmões danificados a trabalhar de novo. Foi nessa manhã que Audrey me ligou.[8] O coração dele tinha parado duas vezes durante a noite, ela me contou. Provavelmente o coração é que o mataria, se os pulmões não parassem antes. De qualquer modo, Audrey tinha certeza de que ele estaria morto até o meio do dia. Liguei para Nick. Falei que precisava passar alguns dias em Idaho por uma questão de família, nada sério. Ele sabia que eu estava escondendo alguma coisa – sua voz mostrava a mágoa por minha falta de confiança nele. Mas no instante em que desliguei o telefone tirei isso da cabeça. Com as chaves na mão, e a outra na maçaneta, hesitei. O estrepto. E se eu contagiasse papai? Eu vinha tomando penicilina havia quase três dias. O médico disse que após
24 horas já não seria contagioso. Mas era um médico e eu não confiava nele. Esperei um dia. Tomei várias vezes a dose receitada de penicilina e liguei para mamãe, perguntando o que deveria fazer. – Venha para casa – ela disse, e sua voz falhou. – Acho que amanhã o estrepto não vai fazer diferença. Não recordo o cenário da viagem. Meus olhos mal registravam o quadriculado dos campos de trigo e de batata, as colinas escuras cobertas de pinheiros. Eu só enxergava meu pai, como o vira da última vez, com aquela expressão contorcida. Lembrava do agudo causticante de minha voz enquanto eu gritava com ele. Assim como Kylie, não lembro o que vi quando olhei para meu pai. Sei que, quando mamãe retirou a atadura aquela manhã, as orelhas dele estavam tão queimadas, com a pele tão glutinosa, que tinham se fundido com o tecido xaroposo atrás delas. Ao entrar pela porta dos fundos, a primeira coisa que vi foi mamãe segurando a faca de manteiga que estava usando para descolar as orelhas dele do crânio. Ainda a vejo segurando a faca, o olhar fixo, concentrado, mas, onde meu pai estava, há uma lacuna em minha memória. O cheiro era forte, de carne queimada, confrei, verbasco e tanchagem. Vi mamãe e Audrey retirando o resto das ataduras. Começaram pelas mãos. Os dedos estavam grudentos, cobertos de um limo pálido que podia ser da pele desmanchada ou de pus. Os braços não estavam queimados, nem os ombros e as costas, mas uma espessa camada de gaze cobria-lhe o peito e o estômago. Quando a retiraram, fiquei aliviada ao ver grandes manchas de pele viva, irritada. Havia alguns buracos onde as chamas deviam ter se concentrado em jatos. Exalavam um cheiro
penetrante, de carne apodrecendo, e estavam cheias de poças brancas. Mas foi o rosto dele que invadiu meus sonhos à noite. Ainda tinha a testa e o nariz. A pele ao redor dos olhos e na parte superior das bochechas era rosada e saudável. Mas abaixo do nariz nada estava no lugar. Vermelha, deformada, escorrida, a cara parecia uma máscara de plástico que tivesse ficado muito perto de uma vela. Papai não havia engolido nada, nem comida, nem água, por quase três dias. Mamãe telefonou para um hospital em Utah, implorando para lhe mandarem um cateter. – Preciso hidratá-lo – ela disse. – Sem água, ele vai morrer. O médico disse que mandaria um helicóptero imediatamente, mas mamãe disse não. – Então eu não posso ajudar. Você vai matá-lo, e não vou tomar parte nisso – disse o médico. Mamãe estava fora de si. Num ato final, desesperado, fez em papai um enema, enfiou o tubo o mais fundo possível, tentando bombear líquido através do reto para mantê-lo vivo. Ela não tinha a menor ideia se aquilo iria funcionar. Não sabia se havia algum órgão naquela parte do corpo que absorvesse água. Mas era o único orifício que não tinha sido queimado. Dormi no chão da sala para estar lá quando ele se fosse. Acordei diversas vezes com arquejos, movimentos rápidos e murmúrios de que tinha acontecido de novo, de que ele havia parado de respirar. Uma vez, pouco antes do amanhecer, a respiração parou e tive certeza de que era o fim. Havia morrido, não voltaria. Apoiei a mão em um pequeno quadrado de ataduras enquanto mamãe e Audrey corriam em volta, entoando cânticos e dando batidinhas nele. A sala não estava em paz,
ou talvez eu é que não estivesse. Por muitos anos, papai e eu estivemos em conflito, numa interminável batalha de vontades. Eu pensava que havia aceitado nosso relacionamento tal como era. Mas naquele momento percebi o quanto eu esperava que aquele conflito chegasse ao fim, o quanto eu acreditava em um futuro em que seríamos pai e filha em paz. Olhei o peito dele, rezei para que respirasse, mas não respirou. Já havia passado tempo demais. Estava me preparando para sair dali, deixar minha mãe e minha irmã se despedirem, quando ele tossiu, uma tosse áspera, quebradiça, como papel crepom sendo amassado. Então, como Lázaro ressuscitado, seu peito começou a subir e descer. Falei com mamãe que eu estava indo. Papai talvez sobreviva, eu disse, e nesse caso não será o estrepto que vai matá-lo.
A produção de mamãe deu uma parada. As mulheres que trabalhavam para ela, em vez de fazer tinturas e envasar óleos, passaram a fazer barris de unguento, com uma nova receita que mamãe desenvolveu especificamente para o papai, usando confrei, lobélia e tanchagem. Mamãe espalhava o unguento no torso de papai duas vezes por dia. Não me lembro dos outros tratamentos que usaram, e não conheço o suficiente de trabalho com energia para dizer ao certo. Sei que nas duas primeiras semanas gastaram 17 galões de unguento, e mamãe comprava gaze por atacado. Tyler veio de Purdue de avião. Substituía mamãe, trocando toda manhã as ataduras dos dedos, removendo camadas de pele e de músculos necrosados durante a noite. Não doía. Os nervos estavam mortos. Tyler me disse:
– Raspei tantas camadas que achei que uma hora dessas iria atingir um osso. Os dedos de papai começaram a entortar, curvando-se para trás nas juntas, numa posição não natural, porque os tendões tinham começado a encolher e a se contrair. Tyler tentava dobrar os dedos de papai para dentro, para alongar os tendões e evitar uma deformidade permanente, mas papai não suportava a dor. Voltei a Buck’s Peak quando tive certeza de estar curada do estrepto. Sentava na cama de papai, pingando colherinhas de água em sua boca com um conta-gotas e lhe dando purê de legumes como se fosse um bebê. Ele raramente falava. A dor dificultava a concentração, mal completava uma frase. Mamãe se ofereceu para comprar remédios na farmácia, os mais fortes analgésicos, mas ele recusou. Dizia que era a dor do Senhor, e iria senti-la por inteiro. Enquanto estive fora, procurei em todas as lojas de vídeo, num raio de cem quilômetros, até encontrar a série completa de The Honeymooners. Mostrei para papai. Ele piscou para me dizer que tinha visto. Perguntei se queria ver um episódio. Piscou de novo. Enfiei a primeira fita no videocassete, observando o rosto escorchado dele, ouvindo seus sussurros baixos, enquanto na tela Alice Kramden sempre levava a melhor sobre o marido. 8 É possível que minha linha do tempo tenha pulado aqui um ou dois dias. Segundo alguns que estavam lá, apesar de muito queimado, meu pai não parecia estar em grande perigo até o terceiro dia, quando começou a cicatrização, tornando a respiração mais difícil. A desidratação completava o quadro. Nesse relato, foi aí que começaram a temer pela vida dele, e também quando minha irmã telefonou, mas entendi mal e achei que a explosão tinha acontecido na véspera.
Capítulo 26
À espera da cura
Papai não saiu da cama durante dois meses, a não ser quando um de meus irmãos o carregava. Fazia xixi numa garrafa e continuava com os enemas. Mesmo depois que ficou claro que ele iria sobreviver, não sabíamos como seria sua vida dali por diante. Só podíamos esperar, e logo parecia que tudo o que fazíamos eram apenas formas de esperar: para lhe dar comida, para trocar as ataduras, para ver o quanto nosso pai voltaria a ser o que fora. Era difícil imaginar um homem como ele, altivo, forte, atlético, ficar inválido para sempre. Eu me perguntava como papai se adaptaria se mamãe passasse o resto da vida picando comidinhas para ele, se conseguiria ser feliz sem poder segurar um martelo. Muita coisa havia se perdido. Mas, misturada à tristeza, eu tinha também esperança. Papai sempre fora um homem duro, um homem sabedor da verdade em todos os assuntos, e não estava interessado no que os outros tinham a dizer. Nós escutávamos o que ele falava, e tão somente. Quando não estava falando, ele exigia silêncio. A explosão o transformara de pregador em ouvinte. Falar era difícil, não só pela dor constante, mas porque a
garganta estava queimada. Então ele observava e ouvia. Ficava ali, hora após hora, dia após dia, os olhos alertas, a boca fechada. Dentro de algumas semanas, meu pai, que anos antes nem sabia dizer qual era a minha idade, passou a saber de minhas aulas, meu namorado, meu trabalho de férias. Não contei nada disso, mas ele prestava atenção às minhas conversas com Audrey enquanto trocávamos as ataduras e se lembrava de tudo. – Eu quero saber mais sobre essas aulas – ele arquejou certa manhã, no fim do verão. – Parecem muito interessantes. Havia uma chance de começar de novo.
Papai
ainda estava acamado quando Shawn e Emily anunciaram seu noivado. Foi na hora do jantar, e a família estava reunida em torno da mesa da cozinha quando Shawn falou que achava que ia se casar com Emily, afinal. Houve silêncio enquanto os garfos raspavam nos pratos. Mamãe perguntou se ele falava a sério. Ele respondeu que não, achava que iria encontrar alguém melhor antes de levar aquilo adiante. Sentada ao lado dele, Emily tinha um sorriso torto. Não dormi aquela noite. Fiquei checando o ferrolho da porta. O presente parecia vulnerável ao passado, como se eu estivesse tomada por ele e, se piscasse, quando abrisse os olhos teria 15 anos de novo. No dia seguinte, Shawn disse que ele e Emily estavam programando uma cavalgada de oitenta quilômetros até Bloomington Lake. Surpreendi a nós dois dizendo que eu também queria ir. Fiquei ansiosa, pensando em passar
muitas horas naquela região inóspita com Shawn, mas deixei a ansiedade de lado. Eu tinha que fazer uma coisa. Oitenta quilômetros parecem oitocentos em lombo de cavalo, principalmente quando o corpo está mais acostumado a uma cadeira do que a uma sela. Ao chegarmos ao lago, Shawn e Emily saltaram lépidos dos cavalos e começaram a preparar o acampamento. Só consegui tirar a sela de Apolo e descansar numa árvore caída. Observei Emily montando a barraca que ela e eu iríamos compartilhar. Ela era alta e inacreditavelmente magra, cabelos lisos e louros, quase prateados. Fizemos uma fogueira e cantamos canções à beira do fogo. Jogamos cartas. Depois fomos para as barracas. Deitada no escuro, ao lado de Emily, fiquei ouvindo os grilos. Tentava imaginar como iniciar uma conversa, como dizer que ela não deveria se casar com meu irmão, quando ela disse: – Quero falar com você sobre Shawn. Sei que ele tem uns problemas. – Tem – eu disse. – Ele é um homem espiritual – disse Emily. – Deus lhe deu uma missão especial. Ajudar as pessoas. Ele me contou como ajudou Sadie. E como ajudou você. – Ele não me ajudou. Eu queria dizer mais, contar a Emily o que o bispo me dissera. Mas eram as palavras dele, não minhas. Eu não tinha palavras. Havia percorrido oitenta quilômetros para falar e fiquei muda. – Ele é mais tentado pelo demônio do que os outros homens – ela continuou. – Por causa dos seus dons, porque ele é uma ameaça a Satanás. É por isso que ele tem problemas. Por causa da retidão dele.
Ela se sentou. Eu via a silhueta de seu longo rabo de cavalo no escuro. – Ele falou que vai me magoar – ela disse. – Eu sei que é por causa de Satanás. Mas às vezes tenho medo dele, tenho medo do que ele possa fazer. Falei que não deveria se casar com alguém que lhe desse medo, ninguém deveria, mas as palavras saíram natimortas de meus lábios. Eu acreditava nelas, mas não as entendia bem a ponto de fazê-las viver. Fiquei olhando no escuro, procurando seu rosto, tentando entender o poder que meu irmão tinha sobre ela. Ele tivera aquele poder sobre mim, eu sabia. Ainda tinha algum. Eu não estava mais sob o feitiço, mas também não estava livre. – Ele é um homem espiritual – ela repetiu. Depois entrou no saco de dormir e eu soube que a conversa estava encerrada.
Voltei
para a BYU dias antes do semestre de outono. Fui diretamente ao apartamento de Nick. Mal tínhamos nos falado. Todas as vezes que ele telefonou eu devia estar ocupada, trocando ataduras ou fazendo unguento. Nick sabia que meu pai tinha se queimado, mas não com que gravidade. Eu mais retinha do que dava informação. Não contei que houvera uma explosão, nem que fui “visitar” meu pai, não num hospital, mas na sala da nossa casa. Não contei a Nick sobre as paradas cardíacas. Não falei das mãos retorcidas, nem dos enemas, nem nos quilos de tecido liquefeito que raspamos do corpo dele. Bati à porta e Nick abriu. Pareceu surpreso ao me ver. – Como está seu pai? – perguntou quando me sentei ao lado dele no sofá.
Em retrospecto, esse momento foi provavelmente o mais importante da nossa amizade, o instante em que eu poderia ter feito uma coisa, a melhor, e fiz outra. Era a primeira vez que o via desde a explosão. Naquela hora mesmo eu poderia ter contado tudo a ele: que minha família não acreditava na medicina moderna; que tratávamos queimaduras em casa com unguento e homeopatia; que tinha sido aterrador, mais que aterrador, que enquanto eu vivesse jamais esqueceria o cheiro de carne queimada. Poderia ter dito tudo isso, ter desabafado, ter deixado que o relacionamento, carregando aquele peso, se tornasse mais forte. Em vez disso, guardei a carga comigo, e minha amizade com Nick, já anêmica, subnutrida e desperdiçada, definhou até cair na obsolescência. Achei que podia reparar o dano. Agora que eu estava de volta, essa seria minha vida, e não importava que Nick não entendesse nada de Buck’s Peak. Mas o pico se recusava a me deixar ir. Ficava colado em mim. As crateras negras no peito de meu pai se materializavam no quadro-negro, eu via a cavidade de sua boca caída nas páginas dos livros. Esse mundo recordado era até mais vívido que o mundo físico habitado por mim, e eu oscilava entre os dois. Nick pegava minha mão, e por um momento eu estava ali com ele, sentindo a surpresa de sua pele na minha. Mas, quando olhava para nossos dedos entrecruzados, algo mudava, e não era mais a mão de Nick. Era uma garra sangrenta. Quando dormia, eu me entregava totalmente ao pico. Sonhava com Luke, com seus olhos se revirando. Sonhava com papai, o lento arfar em seus pulmões. Com Shawn, o momento em que meu pulso estalou no estacionamento. E comigo mancando ao lado dele, rindo alto, aquele cacarejar horrível. Mas em meus sonhos eu tinha cabelos longos, louros, quase prateados.
O casamento foi em setembro. Cheguei à igreja cheia de energia, ansiosa, como se eu tivesse sido enviada através do tempo, vinda de um futuro desastroso para esse momento em que minhas ações ainda tinham peso, e meus pensamentos, consequências. Havia sido enviada e não sabia para fazer o quê. Torcia as mãos, mordia as bochechas, esperando o momento crucial. Cinco minutos antes da cerimônia, vomitei no banheiro feminino. Quando Emily disse “sim”, a vitalidade me deixou. Tornei a ser um espírito e flutuei de volta à BYU. Da janela do quarto, fiquei olhando as Rochosas e fui tomada pela implausibilidade delas. Pareciam uma pintura. Uma semana depois do casamento terminei com Nick – e, implacavelmente, tenho vergonha de admitir. Nunca contei a ele sobre minha vida de antes, nunca esbocei para ele o mundo que me invadia e obliterava aquele em que vivíamos. Eu poderia ter contado. Poderia ter falado: “Aquele lugar tem um domínio sobre mim do qual eu talvez nunca consiga escapar.” Assim, eu teria ido ao coração daquilo. Mas me afundei no tempo. Era tarde demais para confiar em Nick, para levá-lo aonde quer que eu fosse. Então eu disse adeus.
Capítulo 27
Se eu fosse mulher
Entrei na BYU a fim de estudar música, para que algum dia pudesse dirigir o coro da igreja. Mas naquele semestre, no outono do meu penúltimo ano, não me matriculei em nenhuma aula de música. Não sabia explicar por que abandonei teoria musical avançada em favor de geografia e política comparada, nem por que desisti de canto com partitura para estudar história dos judeus. Quando vi esses cursos no currículo da universidade e li os títulos em voz alta senti algo infinito, e queria sentir o gosto daquela infinitude. Durante quatro meses frequentei aulas de geografia, história e política. Aprendi sobre Margaret Thatcher, o Paralelo 38 e a Revolução Cultural. Estudei política parlamentar e sistemas eleitorais em todo o mundo. Aprendi a respeito da diáspora dos judeus e da estranha história dos Protocolos dos Sábios de Sião. No fim do semestre, o mundo era tão grande que ficou difícil me imaginar retornando à montanha, à cozinha ou mesmo a um piano na sala ao lado da cozinha. Isso me causou uma espécie de crise. Meu amor pela música e meu desejo de estudá-la tinham sido compatíveis
com a ideia do que é uma mulher. Meu amor pela história, política e assuntos internacionais não era. E mesmo assim, me atraíam. Dias antes das provas finais, passei uma hora com meu amigo Josh numa sala de aula vazia. Ele estava revisando suas incrições para o curso de direito. Eu estava escolhendo minhas disciplinas para o semestre seguinte. – Se você fosse mulher – perguntei –, escolheria estudar direito? Josh nem levantou os olhos. – Se eu fosse mulher – respondeu –, eu não iria querer estudar direito. – Mas desde que eu o conheço você não fala em outra coisa a não ser o direito. É o seu sonho, não é? – É – ele admitiu. – Mas não seria se eu fosse mulher. As mulheres são diferentes. Não têm essa ambição. A ambição delas é ter filhos. Ele sorriu como se eu soubesse do que ele estava falando. E eu sabia. Sorri, e por alguns segundos estávamos em concordância. Depois: – Mas se você fosse uma mulher e se se sentisse exatamente como se sente agora? O olhar de Josh se fixou na parede por um momento. Ele ficou realmente pensando a respeito. Depois disse: – Eu saberia que alguma coisa estava errada comigo. Fiquei pensando se alguma coisa estava errada comigo desde o começo do semestre, quando assisti à primeira aula de assuntos internacionais. Fiquei pensando como eu poderia ser mulher e, no entanto, me sentir atraída por coisas que não eram de mulher. Alguém deveria ter a resposta, e decidi perguntar a um professor. Escolhi o professor de história dos judeus, que era sossegado e de fala mansa. Dr. Kerry era baixo, de olhos
escuros e expressão séria. Dava aulas vestindo um paletó de lã grossa mesmo em tempos de calor. Bati levemente à porta da sala dele, como se esperasse que não fosse atender, e logo estava sentada em silêncio à sua frente. Eu não sabia qual era minha questão, e o dr. Kerry não perguntou. Mas fez perguntas gerais, sobre minhas notas, que disciplinas eu estava cursando. Perguntou por que eu tinha escolhido história dos judeus, e, sem pensar, respondi de sopetão que, somente alguns semestres atrás, eu tinha ficado sabendo do Holocausto e queria conhecer o resto da história. – Quando você aprendeu sobre o Holocausto? – perguntou. – Na BYU. – Não ensinaram na escola? – Provavelmente sim. Só que eu não estava lá. – E onde você estava? Expliquei como pude que meus pais não acreditavam em escola pública e nos ensinavam em casa. Quando terminei, ele juntou os dedos como se estivesse contemplando um problema difícil. – Acho que você deve se expandir. Ver o que acontece. – Expandir, como? Ele se inclinou para a frente, como se acabasse de ter uma ideia. – Já ouviu falar em Cambridge? – Não. – É uma universidade na Inglaterra – ele disse. – Uma das melhores do mundo. Eu organizo um programa de cursos para alunos de outros países. É um programa altamente competitivo e extremamente exigente. Você pode não ser aceita, mas, se for, pode ter uma ideia de suas capacidades.
Voltei a pé para o apartamento imaginando o que deduzir daquela conversa. Eu queria um conselho moral, alguém que reconciliasse o apelo de mulher e mãe com o de outra coisa. Mas ele não ligou para isso. Parecia dizer: “Primeiro descubra do que você é capaz, depois decida quem você é.” Então me candidatei ao programa.
Emily
estava grávida. A gravidez não ia bem. Quase abortou no primeiro trimestre, e agora, perto da vigésima semana, estava começando a ter contrações. Mamãe, que era a parteira, havia lhe dado erva-de-são-joão e outros remédios. As contrações diminuíram, mas não cessaram. Cheguei para passar o Natal em Buck’s Peak esperando encontrar Emily de cama, fazendo repouso. Não estava. Ficava em pé na cozinha macerando ervas, junto com meia dúzia de mulheres. Falava raramente e sorria mais escassamente ainda. Ficava andando pela casa carregando barris de viburno e agripalma. Estava calada ao ponto da invisibilidade, e pouco depois esqueci que ela se encontrava lá. Haviam passado seis meses desde a explosão, e, embora papai estivesse de pé, estava claro que jamais voltaria a ser o homem que fora. Mal conseguia atravessar uma sala sem ofegar, de tão afetados ficaram seus pulmões. A pele da parte de baixo do rosto havia se regenerado, mas era fina e cerosa, como se tivesse sido esfregada com lixa até ficar transparente. As orelhas estavam grossas de cicatrizes. Os lábios estavam finos e a boca caída, dando-lhe a aparência emaciada de um homem muito mais velho. Mas a mão direita, mais que o rosto, aturdia o olhar. Cada dedo ficou cristalizado numa posição, alguns engelhados, outros arrebitados, mexendo-se como numa garra retorcida.
Conseguia segurar uma colher equilibrada entre o indicador curvado para cima e o anular curvado para baixo, mas comia com dificuldade. Ainda assim, fiquei imaginando se enxertos de pele teriam sido tão eficazes quanto o confrei e o unguento de lobélia da mamãe. Era um milagre, todos diziam, e deram outro nome à receita da mamãe, que, depois das queimaduras de papai, passou a se chamar Unguento Milagroso. Na minha primeira noite, no jantar, papai falou que a explosão fora uma terna misericórdia do Senhor: – Foi uma bênção. Um milagre. Deus poupou minha vida e ampliou meu chamamento. Testemunhar Seu poder. Mostrar às pessoas que existe outro meio além do Sistema Médico. Ele tentava, mas não conseguia firmar a faca para cortar a carne. – Eu nunca estive em perigo. Vou provar a vocês. Assim que puder atravessar o quintal sem quase desmaiar, vou pegar um maçarico e cortar outro tanque. No dia seguinte, quando fui tomar o café da manhã, tinha um monte de mulheres ao redor de papai. Ouviam, com vozes sussurrantes e olhos brilhando, papai contando as visitações celestiais que recebera enquanto oscilava entre a vida e a morte. Tinha sido orientado por anjos, como os profetas dos antigos. Havia alguma coisa no modo como as mulheres olhavam para ele. Algo como adoração. Observando as mulheres durante toda a manhã, vi a mudança que o milagre de papai tinha operado nelas. Antes, as mulheres que trabalhavam para minha mãe se dirigiam a ela normalmente, com perguntas objetivas sobre o trabalho. Agora falavam baixinho, cheias de admiração. Dramas eclodiam entre elas na disputa pela estima de
mamãe e de papai também. A mudança pode ser resumida assim: antes eram empregadas, agora, devotas. A história das queimaduras de papai se tornou algo como um mito. Era contada e recontada, tanto para os recémchegados como para os antigos. De fato, era raro passar uma tarde em casa sem ouvir uma narrativa do milagre, e às vezes essas histórias não eram nada rigorosas. Ouvi mamãe falar a uma sala cheia de faces devotas que 65 por cento da parte de cima de papai tiveram queimaduras de terceiro grau. Não era do que eu me lembrava. Na minha memória, o pior fora a calcinação da pele. Os braços, costas e ombros quase não foram queimados. Somente a parte inferior do rosto e as mãos tinham sido de terceiro grau. Mas fiquei quieta. Pela primeira vez meus pais pareciam ter um mesmo pensamento. Mamãe não mais moderava as declarações de papai depois que ele saía da sala, não dava mais sua opinião discreta. Ela havia sido transformada pelo milagre. Transfigurada nele. Lembrei-me dela como uma jovem esposa, tão cautelosa, tão humilde diante das vidas sobre as quais tinha tanto poder. Agora, pouco restava dessa humildade. O próprio Senhor guiara as mãos dela, e nenhum infortúnio viria, exceto pela vontade de Deus.
Poucas
semanas após o Natal, a Universidade de Cambridge escreveu ao dr. Kerry recusando minha inscrição. – A competição foi muito acirrada – disse dr. Kerry quando fui à sala dele. Agradeci e me levantei para sair. – Porém – ele disse –, Cambridge me orientou a escrever a eles caso eu achasse que havia alguma injustiça óbvia. Não entendi, e ele repetiu:
– Só pude ajudar um aluno. Eles lhe ofereceram, se você quiser. Parecia impossível que eu realmente tivesse permissão para ir. Em seguida lembrei que precisava de passaporte, e sem uma certidão de nascimento verdadeira, seria improvável conseguir. Alguém como eu não fazia parte de Cambridge. Era como se o universo entendesse isso e estivesse tentando evitar a blasfêmia da minha entrada. Fui pessoalmente fazer a solicitação. A funcionária riu muito da minha certidão tardia de nascimento. – Nove anos! – ela disse. – Nove anos não é um atraso. Você tem algum outro documento? – Tenho. Mas eles têm datas de nascimento diferentes. E um também tem nome diferente. Ela ainda estava rindo. – Data e nome diferentes? Não, não vai dar. Você não tem como tirar passaporte. Voltei várias vezes para falar com a funcionária, ficando cada vez mais desesperada, até que finalmente foi encontrada uma solução. Minha tia Debbie foi ao Tribunal de Justiça, onde fez uma declaração juramentada de que eu era quem eu dizia ser. Consegui o passaporte.
Em fevereiro, Emily deu à luz. O bebê pesava 570 gramas. Quando Emily começou a ter contrações, no Natal, mamãe falou que a gravidez iria se desenvolver conforme a vontade de Deus. Viu-se que a vontade Dele era que Emily desse à luz com 26 semanas de gestação. Houve uma nevasca aquela noite, uma dessas fortíssimas tempestades de neve da montanha, que esvazia as estradas e fecha as cidades. Emily estava em estágio avançado de trabalho de parto quando mamãe viu que ela
precisava ir para o hospital. O bebê, que chamaram de Peter, apareceu logo depois, deslizando de Emily com tanta facilidade que mamãe falou que o “apanhou” em vez de fazer o parto. Chegou imóvel, de cor cinza. Shawn achou que estava morto. Então mamãe sentiu uma tênue batidinha do coração. Na verdade, ela viu o coração batendo pela membrana que era a pele do bebê. Meu pai correu para a van, que saiu rangendo na neve e no gelo. Shawn carregou Emily e a deitou no banco traseiro. Mamãe colocou o bebê no peito de Emily e o cobriu, criando uma incubadora improvisada. Estilo canguru, ela disse. Meu pai foi dirigindo no temporal furioso. Em Idaho, chamamos de whiteout: é quando o vento sopra a neve com tanta violência que branqueia a estrada, cobrindo-a como um véu, e não se vê o asfalto, nem os campos, nem os rios; não se vê nada, a não ser vagalhões de neve. De algum modo, escorregando na neve e no granizo, conseguiram chegar à cidade, mas o hospital, rural, não estava equipado para atender aquele fiapo de vida. O médico disse que precisavam levá-lo ao McKay-Dee, em Ogden, o mais rápido possível, não havia tempo. Não podiam ir de helicóptero por causa da nevasca, então os médicos os mandaram de ambulância. Na verdade, foram duas ambulâncias, caso a primeira sucumbisse ao temporal. Muitos meses se passaram, foram realizadas incontáveis cirurgias de coração e pulmão, até Shawn e Emily poderem levar para casa o pequeno ramo de carne que disseram ser meu sobrinho. Por enquanto estava fora de perigo, mas os médicos disseram que seus pulmões talvez nunca se desenvolvessem totalmente. Ele seria sempre frágil. Papai disse que Deus havia coordenado o nascimento, como tinha feito com a explosão. Mamãe lhe fazia eco,
acrescentando que Deus havia colocado um véu sobre seus olhos para que ela não impedisse as contrações. – Peter tinha que vir ao mundo assim – ela disse. – É um presente de Deus, e Deus dá os presentes Dele da maneira que Ele escolhe.
Capítulo 28
Pigmalião
A primeira vez que vi o King’s College, em Cambridge, só não achei que estava sonhando porque minha imaginação nunca produzira algo tão grandioso. Meus olhos se fixaram numa torre com relógio, esculpida em pedra. Fui conduzida à torre, passamos por ela e entramos no College. Havia um lago de grama aparada com perfeição e, depois do lago, um prédio cor de marfim que reconheci vagamente como grecoromano. Mas era a capela gótica, de quase noventa metros de comprimento por trinta de altura, uma montanha de pedra dominando a cena. Passamos pela capela, por outro pátio, depois subimos uma escada em espiral. Uma porta se abriu, e me disseram que ali era o meu quarto. Fui deixada lá para me instalar à vontade. O homem gentil que me deu essa instrução não podia imaginar o quanto isso era impossível. No dia seguinte, o café da manhã foi servido num grande salão. Foi como estar comendo numa igreja; o teto era cavernoso, e me sentia avaliada, como se o salão soubesse que eu estava lá, mas não deveria. Sentei-me a uma mesa comprida cheia de alunos da BYU. As moças conversavam
sobre as roupas que tinham comprado. Marianne fora às compras tão logo soube que havia sido aceita no programa. – A gente precisa de peças diferentes na Europa – ela disse. Heather concordou. Como a avó dela tinha pagado a passagem de avião, ela usou o dinheiro para renovar o guarda-roupa. – As pessoas aqui se vestem de maneira mais refinada – ela disse. – Você não pode ficar usando jeans. Pensei em correr de volta ao meu quarto e trocar o moletom e o tênis que eu estava usando, só que não tinha pelo que trocar. Eu não tinha nada como as roupas de Marianne e Heather – cardigãs coloridos realçados com echarpes delicadas. Não tinha comprado roupas novas para Cambridge porque precisei tomar um empréstimo estudantil para pagar a taxa de admissão. Além disso, mesmo que eu tivesse as roupas de Marianne e Heather, não saberia usálas. Dr. Kerry chegou anunciando que tínhamos sido convidados a conhecer a capela. Podíamos até chegar ao telhado. Houve uma certa confusão quando entregamos rapidamente as bandejas e o acompanhamos para fora do salão. Fiquei entre os últimos do grupo enquanto atravessamos o pátio. Quando entrei na capela, quase perdi o ar. A sala – se é que aquele espaço pode ser chamado de sala – era avultada como se pudesse abarcar o oceano inteiro. Passamos por uma pequena porta de madeira e subimos uma estreita escada em espiral cujos degraus de pedra pareciam intermináveis. Finalmente a escada se abriu para o telhado, que era inclinado, um V invertido cercado por parapeitos de pedra. O vento soprava forte, rolando nuvens pelo céu. A vista era espetacular, a cidade miniaturizada,
completamente encolhida pela capela. Me deixei levar, subi no telhado e andei pela cumeeira, deixando o vento me embalar enquanto olhava para a amplidão de ruas emaranhadas e pátios de pedra. – Você não tem medo de cair – disse uma voz. Eu me virei. Era o dr. Kerry. Havia me seguido, mas parecia instável sobre os próprios pés, se desequilibrando a cada lufada do vento. – Podemos descer – eu disse. Desci rapidamente da cumeeira até o passadiço ao lado da amurada. O dr. Kerry me seguia, mas seus passos continuavam estranhos. Em vez de andar olhando para a frente, ele rodava o corpo e andava de lado, como um caranguejo. O vento continuava a atacar. Ofereci meu braço para descermos até o fim, de tão instável que ele parecia, e aceitou. – Foi uma afirmação – ele disse quando chegamos ao passadiço. – Eis você, ereta, mãos nos bolsos. Ele fez um gesto na direção dos outros alunos. – Está vendo como eles se encolhem? Como se agarram à parede? Ele tinha razão. Uns poucos se aventuravam até a cumeeira, mas com muito cuidado, com o mesmo andar de lado desengonçado do dr. Kerry, cambaleando conforme o vento. Todos os outros se seguravam firmemente no parapeito de pedra, joelhos dobrados e costas arqueadas, como se não soubessem bem se era para andar ou engatinhar. Estiquei o braço e agarrei a parede. – Não precisa fazer isso. Não é uma crítica – ele disse. Fez uma pausa, como se estivesse incerto de se devia ou não falar mais. Depois disse: – Todos passaram por uma mudança. Os outros estavam relaxados até chegarem a esta altura. Agora estão
desconfortáveis, nervosos. Você fez o percurso oposto. É a primeira vez que a vejo à vontade consigo mesma. Está na maneira de se mover, como se você tivesse passado a vida inteira nesse telhado. Uma lufada varreu o parapeito. O dr. Kerry cambaleou, se agarrou à parede. Subi na direção da cumeeira a fim de que ele pudesse se apoiar na amurada. Ele me olhou, esperando por uma explicação. – Fiz os telhados de muitos celeiros – eu disse, por fim. – Então suas pernas são mais fortes? Por isso você aguenta em pé esse vento? Tive que pensar antes de responder: – Aguento em pé esse vento porque não estou tentando aguentar. O vento é só vento. Se você pode aguentar essas rajadas no chão, pode aguentar no alto. Não tem diferença. com exceção da que está na sua cabeça. Ele olhou para mim, sem entender. – Eu só estou em pé – eu disse. – Vocês todos estão tentando compensar, deixar o corpo abaixado, porque ficam com medo da altura. Mas ficar abaixado e andar de lado não é natural. Vocês se tornaram vulneráveis. Se pudessem controlar o pânico, o vento não seria nada. – Assim como não é nada para você – ele disse.
Eu queria ter uma mente acadêmica, mas o dr. Kerry via em mim a de uma montadora de telhas. O lugar dos outros alunos era na biblioteca. O meu era numa grua. A primeira semana passou num borrão de aulas. Na segunda semana foi destacado um supervisor para cada aluno, a fim de orientar a pesquisa. Meu supervisor, conforme vim a saber, era o eminente professor Jonathan Steinberg, que fora vice-diretor de uma faculdade de
Cambridge e era muito elogiado por seus escritos sobre o Holocausto. O primeiro encontro com o professor Steinberg aconteceu poucos dias depois. Esperei na porta do alojamento do zelador até que um homem magro apareceu com um molho de chaves grossas e abriu uma porta de madeira encravada na pedra. Eu o segui subindo a escada em espiral na própria torre do relógio, onde havia uma sala bem iluminada e com mobília simples: duas cadeiras e uma mesa de madeira. Ao me sentar, podia ouvir meu sangue latejar atrás das orelhas. O professor Steinberg estava na casa dos 70, mas eu não o descreveria como um velho. Era ágil e seus olhos se moviam pela sala com uma energia atenta. Sua fala era comedida e fluente: – Sou o professor Steinberg. O que você gostaria de ler? Balbuciei alguma coisa sobre historiografia. Eu tinha decidido estudar não história, mas historiadores. Acho que esse interesse surgiu da sensação de falta de base que tive desde que soube do Holocausto e dos movimentos pelos direitos civis. Entendi então que aquilo que a pessoa sabe do passado é restrito, e sempre estará limitado pelo que os outros contam. Eu sabia o que era ter uma concepção errada e depois corrigida, uma de tal magnitude que, quando mudada, alterava o mundo. Agora precisava entender como os grandes guardiães da história tinham compensado a própria ignorância e parcialidade. Pensei que, se eu pudesse aceitar que aquilo que escreviam não era absoluto, e sim o resultado de um processo distorcido de conversação e revisão, talvez pudesse me reconciliar com o fato de que a história com a qual a maioria das pessoas concordava não era a que tinham me ensinado. Papai poderia estar errado, e grandes historiadores como Carlyle, Macaulay e Trevelyan poderiam estar também, mas
das cinzas recolhidas de suas disputas eu poderia construir um mundo onde viver. Sabendo que a base não era alicerce nenhum, eu esperava me pôr de pé em cima dela. Duvido que eu tenha conseguido articular alguma coisa disso. Quando acabei de falar, o professor Steinberg me olhou por um momento e disse: – Fale sobre sua educação. Onde você frequentou a escola? O ar foi imediatamente sugado da sala. – Eu cresci em Idaho. – E frequentou a escola lá? Me ocorreu em retrospecto que alguém poderia ter falado sobre mim com o professor Steinberg, talvez o dr. Kerry. Ou talvez ele tenha notado que eu evitava a pergunta e ficado curioso. Fosse qual fosse o motivo, ele não se satisfez até que admiti nunca ter ido à escola. – Que maravilha! – ele disse sorrindo. – É como se eu tivesse adentrado o Pigmalião de Shaw.
Durante dois meses tive uma reunião por semana com o professor Steinberg. Ele nunca me indicou leituras. Líamos só o que eu pedia para ler, fosse um livro ou uma página. Nenhum professor na BYU examinava o que eu escrevia como o professor Steinberg. Nem uma vírgula, nem uma frase, nem um adjetivo ou advérbio escapava ao seu interesse. Não fazia distinção entre gramática e conteúdo, entre forma e substância. Uma frase mal escrita era uma ideia mal concebida, e a lógica gramatical tinha a mesma necessidade de correção. Ele observava: – Diga-me, por que você colocou esta vírgula aqui? Qual relação entre essas sentenças você quer estabelecer?
Quando eu explicava, às vezes ele dizia “Está certo”, e outras vezes ele me corrigia com longos esclarecimentos sobre sintaxe. Passado um mês com o professor Steinberg, escrevi um ensaio comparando Edmund Burke com Publius, o personagem usado por James Madison, Alexander Hamilton e John Jay para escrever The Federalist Papers. Mal dormi por duas semanas. A cada momento eu abria os olhos para ler ou pensar sobre os textos. Com meu pai aprendi que livros eram para ser ou adorados ou eLivross. Livros que eram de Deus, escritos pelos profetas mórmons ou pelos Pais Fundadores, não eram tanto para ser estudados, mas estimados como algo perfeito em si mesmo. Eu fui ensinada a ler as palavras de homens como Madison como um molde para encher com o gesso de minha própria mente, a ser formada pelos contornos de seu modelo impecável. Eu lia para saber o que pensar, não para aprender a pensar por mim mesma. Livros que não eram de Deus eram banidos; eram um perigo, poderosos e tentadores por sua astúcia. Para escrever o ensaio, precisei ler de um modo diferente, sem me entregar nem ao medo nem à adoração. Como Burke defendia a monarquia britânica, papai diria que ele era um agente da tirania. Não iria querer aquele livro em casa. Me senti entusiasmada por alguém confiar em mim para ler aquelas palavras. Senti um entusiasmo semelhante lendo Madison, Hamilton e Jay, principalmente nas ocasiões em que eu descartava suas conclusões em favor de Burke, ou quando me parecia que as ideias deles não eram de fato diferentes na substância, mas apenas na forma. Havia suposições maravilhosas embutidas nesse método de leitura: que livros não eram traiçoeiros, e que eu não era frágil.
Terminei o ensaio e o entreguei ao professor Steinberg. Dois dias depois, quando cheguei para nossa reunião, ele estava muito quieto. Perscrutou-me, do outro lado da mesa. Esperei que ele dissesse que o ensaio era um desastre, produto de uma mente ignorante, que eu tinha extrapolado, tirado muitas conclusões de muito pouco material. – Eu dou aula em Cambridge há trinta anos – ele disse. – E esse é um dos melhores ensaios que já li. Eu estava preparada para insultos, mas não para aquilo. O professor Steinberg deve ter falado mais sobre o ensaio, mas eu nem ouvi. Minha mente estava consumida por uma necessidade premente de sair dali. Naquele momento eu não me encontrava mais na torre do relógio em Cambridge. Eu estava com 17 anos, num jipe vermelho, e o garoto que eu amava tinha tocado em minha mão. Entrei em parafuso. Qualquer forma de crueldade eu podia tolerar melhor que a bondade. Elogio era veneno para mim, eu engasgava. Queria que o professor gritasse comigo, e desejava isso tão intensamente que me senti desorientada por não receber. Era preciso dar expressão à feiura que havia em mim. Se não fosse expressa na voz dele, teria que ser na minha. Não lembro como saí da torre do relógio, nem como passei a tarde. Naquela noite houve um jantar de gala. O salão estava à luz de velas, o que era lindo, mas fiquei animada por outro motivo: eu não tinha roupas formais, vestia apenas blusa e calça pretas, e achei que ninguém ia notar por causa da iluminação fraca. Minha amiga Laura chegou atrasada. Contou que seus pais tinham vindo visitála e a levaram à França. Havia acabado de voltar. Estava com um vestido púrpura vistoso, com preguinhas plissadas na saia. A bainha era muito acima do joelho, e a princípio achei que era um vestido de puta, até que ela me disse que
o pai tinha comprado para ela em Paris. Um presente de pai não podia ser indecente. Um presente de pai me parecia o sinal inequívoco de que a mulher não era uma puta. Lutei com aquela dissonância – um vestido indecente de presente para uma filha querida – até o fim do jantar, quando os pratos foram recolhidos. Na supervisão seguinte, o professor Steinberg disse que, quando eu me candidatasse ao mestrado, garantiria que eu fosse aceita em qualquer instituição da minha escolha. – Você já foi a Harvard? – perguntou. – Ou talvez você prefira Cambridge? Eu me imaginei aluna do mestrado, andando com o rugeruge de um longo manto preto pelos velhos corredores de Cambridge. Depois estava sendo arrastada para um banheiro, com o braço torcido nas costas e a cabeça enfiada no vaso sanitário. Tentei me concentrar na estudante, mas não consegui. Não era capaz de visualizar a garota de manto preto esvoaçante sem ver a outra. Ou acadêmica ou puta – as duas ao mesmo tempo não podia ser. Uma delas era mentira. – Não posso – respondi. – Não posso pagar. – Deixe que eu me preocupo com o pagamento – disse o professor Steinberg.
No
fim de agosto, em nossa última noite em Cambridge, houve um jantar de despedida no grande salão. As mesas estavam postas com mais facas, garfos e cálices do que eu jamais vira. Nas paredes, os quadros eram fantasmagóricos à luz das velas. Me senti exposta e, ao mesmo tempo, meio invisível, pela elegância. Olhava para as alunas que passavam, observando cada vestido de seda, cada olho fortemente maquiado, deslumbrada com a beleza delas.
No jantar, ouvia a alegre conversa de minhas colegas e ansiava pelo isolamento do meu quarto. O professor Steinberg estava sentado à mesa no alto do tablado. Cada vez que olhava para ele sentia aquele velho instinto se apoderando de mim, os músculos tensos me preparando para fugir. Deixei o salão quando foi servida a sobremesa. Foi um alívio escapar de todo aquele refinamento e beleza, me permitir ser desinteressante e não um ponto de contraste. O dr. Kerry me viu sair e me seguiu. Estava escuro. O gramado era negro, e o céu mais negro ainda. Pilares de luz branca se elevavam do chão, iluminando a capela que luzia como a lua contra o céu da noite. – Você causou muito boa impressão no professor Steinberg – disse o dr. Kerry, acompanhando meus passos. – Só espero que ele também tenha causado essa impressão em você. Não entendi. – Venha por aqui – ele disse, virando-se para a capela. – Tenho uma coisa a lhe dizer. Fui andando atrás dele, reparando no silêncio de meus passos, sabendo que meus tênis não clicavam nas pedras com a elegância dos saltos altos das outras garotas. O dr. Kerry falou que vinha me observando. – Você age como se estivesse personificando outra pessoa. E é como se pensasse que seu futuro depende disso. Não sabia o que dizer, então não disse nada. – Nunca lhe ocorreu – ele disse – que você tem tanto direito a estar aqui quanto qualquer um? Ele ficou esperando por uma explicação.
– Eu preferiria estar servindo o jantar, mais do que comendo – eu disse. O dr. Kerry sorriu. – Você deve confiar no professor Steinberg. Ele diz que você é uma estudiosa, “ouro puro”, ouvi ele dizer, então você é. – Aqui é um lugar mágico. Aqui tudo é brilhante – falei. – Você tem que parar de pensar assim – disse o dr. Kerry, levantando a voz. – Você não é ouro dos tolos, que só brilha sob uma luz especial. Seja quem for que você se torne, seja o que for que faça de você, é isso que você sempre foi. Esteve sempre em você. Não em Cambridge. Em você. Você é ouro. E voltar para a BYU, ou até para a montanha de onde você veio, não vai mudar o que você é. Pode mudar como os outros veem você, e mesmo como você se vê. Até o ouro parece opaco conforme a luz. Mas essa é a ilusão. E sempre foi. Eu queria acreditar nele, tomar suas palavras para me refazer, mas nunca tive essa fé. Quanto mais eu enterrava as lembranças, quanto mais forte fechava os olhos diante delas, quando pensava em mim mesma, as imagens que me vinham à mente eram daquela garota, a do banheiro, a do estacionamento. Eu não podia falar com o dr. Kerry sobre aquela garota. Não podia lhe contar que a razão pela qual eu não podia voltar a Cambridge era que estar ali havia proporcionado um enorme alívio a todos os momentos degradantes e violentos da minha vida. Na BYU, eu podia quase esquecer, podia misturar o que tinha sido com o que era lá. Mas o contraste aqui era muito grande, o mundo diante dos meus olhos era fantástico demais. As lembranças eram mais reais, mais críveis que as torres de pedra.
Para mim mesma, eu fingia haver outras razões para não estar em Cambridge, que tinham a ver com diferenças de classe e status. Era porque eu era pobre, havia crescido pobre. Porque eu era capaz de aguentar o vento no telhado da capela sem me abalar. Essa era a pessoa que não podia estar em Cambridge, a garota do telhado, não a puta. Naquela tarde escrevi em meu diário: Posso ir para a faculdade. E posso comprar roupas novas. Mas ainda sou Tara Westover. Trabalhei em coisas que nenhum aluno de Cambridge trabalhou. Podemos usar a roupa que for, não seremos iguais. As roupas não podiam resolver o que estava errado comigo. Alguma coisa tinha me estragado por dentro e o mau cheiro era muito forte, o caroço era rançoso demais para ser encoberto por um simples tecido. Se o dr. Kerry suspeitou de alguma parte disso, não sei. Mas ele entendeu que eu me fixara em roupas como símbolos de por que eu não podia e não deveria estar em Cambridge. Foi a última coisa que ele me disse antes de ir embora, me deixando paralisada, perplexa, ao lado da grandiosa capela. – O mais forte determinante do que você é está dentro de você – ele falou. – O professor Steinberg diz que é como o Pigmalião. Pense na história, Tara. Ele fez uma pausa, o olhar feroz, a voz penetrante. – Ela era só uma cockney num vestidinho bonito. Até passar a acreditar em si mesma. Depois não importava mais o vestido que usava.
Capítulo 29
Formatura
O programa chegou ao fim e retornei à BYU. O campus era o mesmo de sempre e teria sido fácil esquecer Cambridge e voltar à vida que eu tinha lá. Mas o professor Steinberg estava determinado a não permitir isso. Ele me enviou um formulário de inscrição para algo chamado Gates Cambridge Scholarship, que, conforme explicou, era um pouco como o Rhodes Scholarship, mas em Cambridge, não em Oxford. Era uma bolsa que custearia todas as despesas para estudar lá, incluindo mensalidade, acomodação e comida. Quanto a mim, achava aquilo comicamente fora do alcance para alguém como eu, mas ele insistiu, e me candidatei. Não muito depois notei outra diferença, outra pequena mudança. Uma noite, eu estava com meu amigo Mark, que estudava línguas antigas. Assim como eu, e como a maioria das pessoas na BYU, Mark era mórmon. – Você acha que as pessoas deveriam estudar história da Igreja? – ele perguntou. – Eu acho. – E se elas ficarem infelizes com isso? Achei que sabia o que ele estava querendo dizer, mas esperei que explicasse.
– Muitas mulheres têm problemas com a fé quando ficam sabendo da poligamia. Minha mãe teve. Acho que ela nunca entendeu isso. – Eu também nunca entendi – eu disse. Houve um silêncio tenso. Ele esperava que eu pegasse a deixa: que eu rezava para ter fé. E eu tinha rezado, muitas e muitas vezes. Talvez nós dois estivéssemos pensando na nossa história, ou talvez só eu. Pensei em Joseph Smith, que teve quarenta esposas. Brigham Young teve 55 esposas e 56 filhos. A Igreja havia acabado com a prática mundana da poligamia em 1890, mas nunca modificou a doutrina. Quando criança aprendi com meu pai e na escola dominical que, na plenitude do tempo, Deus iria restaurar a poligamia, e na vida após a morte eu seria uma esposa plural. O número de minhas irmãs esposas iria depender da retidão do meu marido. Quanto mais honrado ele fosse, mais esposas lhe seriam dadas. Nunca me dei bem com isso. Quando criança, eu me imaginava no céu, vestida de branco, numa névoa perolada, diante do meu marido. Mas quando a câmera se aproximava havia dez mulheres atrás de nós, com os mesmos vestidos brancos. Em minha fantasia, eu era a primeira esposa, mas sabia que não era garantido. Eu bem poderia estar escondida no meio do bando de mulheres. Tanto quanto me lembro, essa imagem esteve no centro da minha ideia de paraíso: meu marido e suas esposas. Havia um espinho nessa aritmética. Era que no cálculo divino do céu um homem equilibrava a equação com incontáveis mulheres. Lembrei de minha trisavó. Ouvi o nome dela pela primeira vez quando eu tinha 12 anos, que é a idade em que, no mormonismo, você deixa de ser menina e se torna mulher. Aos 12 anos, as aulas na escola dominical
passavam a incluir palavras como pureza e castidade. Foi também aos 12 anos que, como parte das obrigações com a igreja, me mandaram aprender sobre um de meus ancestrais. Perguntei a mamãe qual ancestral escolher e ela disse sem pensar: “Anna Mathea.” Eu disse o nome em voz alta. Flutuou pela minha língua como o começo de um conto de fadas. Mamãe disse que eu deveria honrar Anna Mathea porque ela me dera um dom: a voz. – Foi a voz dela que levou nossa família para a igreja – mamãe falou. – Ela ouviu missionários mórmons pregando nas ruas da Noruega. Rezou e Deus a abençoou com a fé, com o conhecimento de que Joseph Smith era Seu profeta. Ela contou para o pai dela, mas ele tinha ouvido histórias sobre os mórmons e não deixou que ela fosse batizada. Então ela cantou para ele. Cantou um hino mórmon chamado “O Meu Pai”. Quando terminou, o pai tinha lágrimas nos olhos e disse que uma religião com uma música tão linda tinha que ser obra de Deus. Foram batizados juntos. Depois que Anna Mathea converteu os pais, a família se sentiu chamada por Deus para vir para os Estados Unidos e conhecer o profeta Joseph. Economizaram para a viagem, mas depois de dois anos só tinham conseguido trazer metade da família. Anna Mathea ficou para trás. A viagem foi longa e difícil, e quando chegaram a Idaho, a um assentamento mórmon chamado Worm Creek, a mãe de Anna adoeceu, ficou à beira da morte. Seu último desejo era tornar a ver a filha. Então o pai de Anna escreveu a ela dizendo para pegar todo o dinheiro que tivesse e vir para a América. Anna estava apaixonada e pronta para se casar, mas deixou o noivo na Noruega e atravessou o oceano. A mãe morreu antes que ela chegasse ao litoral americano.
Agora a família estava desprovida. Não havia dinheiro para mandar Anna de volta para o noivo, para o casamento que ela deixara para trás, e Anna era um peso financeiro para o pai. Então o bispo a convenceu a se casar com um fazendeiro rico, como segunda esposa dele. A primeira mulher era infértil e teve um acesso de ciúme e raiva quando Anna ficou grávida. Temendo que a primeira esposa fizesse mal ao bebê, Anna voltou para a casa do pai, onde deu à luz gêmeos, mas apenas um sobreviveu ao rigoroso inverno da fronteira. Ali comigo, Mark continuava esperando. Depois desistiu e balbuciou as palavras que eu deveria dizer, que ele não entendia completamente, mas sabia que a poligamia era um princípio ditado por Deus. Concordei. Pronunciei as palavras e me preparei para uma onda de humilhação, para aquela imagem que invadia meus pensamentos, de mim, uma de muitas esposas por trás de um homem solitário e sem rosto, mas a imagem não veio. Procurei em minha mente e descobri uma nova convicção: eu jamais seria uma esposa plural. Uma voz declarou isso com uma determinação inexorável. A declaração me fez tremer. E se Deus ordenasse?, perguntei. “Você não vai ser”, a voz respondeu. E eu sabia que era verdade. Pensei novamente em Anna Mathea, imaginando o mundo em que ela vivia, onde, seguindo um profeta, largava seu amado, atravessava um oceano, entrava num casamento sem amor como uma segunda amante e enterrava o primeiro filho, só para que uma neta, uma não crente, duas gerações depois, atravessasse o mesmo oceano. Eu era herdeira de Anna Mathea. Ela me deu sua voz. Não me deu sua fé também?
Fui
colocada numa pequena lista de candidatos à Gates Scholarship. Haveria uma entrevista em fevereiro, em Annapolis. Não tinha a menor ideia de como me preparar. Robin me levou ao Park City, onde havia uma loja de ponta de estoque da Ann Taylor, e me ajudou a escolher um terninho azul-marinho e mocassins combinando. Eu não tinha uma bolsa, e Robin me emprestou a dela. Duas semanas antes da entrevista, meus pais vieram à BYU. Nunca haviam me visitado, mas estavam a caminho do Arizona e pararam para jantar. Levei-os ao restaurante indiano em frente ao meu apartamento. A garçonete ficou olhando meu pai um tempo longo demais e esbugalhou os olhos quando viu a mão dele. Papai pediu metade do cardápio. Falei que três pratos era suficiente, mas ele deu uma piscadela dizendo que dinheiro não era problema. A notícia da cura milagrosa de meu pai parecia estar se espalhando, trazendo a eles cada vez mais clientes. Os produtos de mamãe eram vendidos a praticamente todas as parteiras e curandeiras na Mountain West. Esperando a comida chegar, papai perguntou sobre minhas aulas. Falei que estava estudando francês. “É uma língua socialista”, ele disse, e falou durante vinte minutos sobre a história do século XX. Disse que os banqueiros judeus na Europa tinham feito acordos secretos para começar a Segunda Guerra Mundial e tramaram com os judeus na América para pagar. Haviam planejado o Holocausto para se beneficiarem financeiramente da desordem mundial. Por dinheiro, tinham mandado o próprio povo para as câmaras de gás. Essas ideias me eram familiares, mas levei um tempinho para lembrar onde tinha ouvido. Foi numa aula do dr. Kerry
sobre Os Protocolos dos Sábios de Sião. Publicado em 1903, pretendia ser um registro de uma reunião secreta de judeus poderosos que planejavam dominar o mundo. O documento foi declarado falso, mas ainda assim se espalhou, insuflando o antissemitismo nas décadas anteriores à Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler escreveu sobre os Protocolos em Mein Kampf, afirmando que eram autênticos e revelavam a verdadeira natureza do povo judeu. Papai estava falando alto, num volume apropriado à montanha, mas estrondoso no pequeno restaurante. Nas mesas ao lado, as pessoas interromperam a conversa e ficaram em silêncio, prestando atenção na nossa. Eu me arrependi de ter escolhido um restaurante tão perto do meu apartamento. Papai passou da Segunda Guerra Mundial para as Nações Unidas, a União Europeia e a iminente destruição do mundo. Falava como se os três fossem sinônimos. O curry chegou, e me concentrei nele. Mamãe estava cansada do sermão e pediu a papai que falasse de outra coisa. – Mas o mundo está acabando! – ele disse, agora gritando. – Claro que está – mamãe falou. – Mas não vamos falar disso no jantar. Pousei meu garfo e fiquei olhando para eles. De todas as declarações estranhas da última meia hora, por alguma razão, foi esta que mais me chocou. A concretude delas nunca havia me abalado antes. Tudo o que eles faziam sempre fez sentido para mim, condizia com uma lógica que eu entendia. Talvez fosse o contexto. Buck’s Peak era deles e os camuflava, de modo que, quando eu os via lá, rodeados pelas relíquias gritantes e agudas de minha infância, o cenário os absorvia. Ou pelo menos o barulho. Mas aqui, tão
perto da universidade, pareciam tão irreais que eram quase míticos. Papai me olhou, esperando que eu desse uma opinião, mas eu estava alienada de mim. Não sabia o que ser. Na montanha, me rendia sem pensar à voz da filha e acólita deles. Mas aqui eu não encontrava a voz que, nas sombras do Buck’s Peak, surgia tão facilmente. Fomos ao meu apartamento, e mostrei meu quarto. Mamãe fechou a porta, revelando o pôster de Martin Luther King que eu tinha pendurado quatro anos atrás, quando soube dos movimentos de direitos civis. – É Martin Luther King? Você não sabe que ele era ligado ao comunismo? – papai perguntou, mordendo o tecido ceroso que havia sido seus lábios. Eles partiram pouco depois, viajando de carro pela noite. Acompanhei-os até o carro e peguei meu diário. É impressionante eu ter acreditado nisso tudo sem a menor suspeita, escrevi. O mundo inteiro estava errado; só papai estava certo. Pensei no que a esposa de Tyler, Stefanie, me dissera por telefone dias antes. Disse que levou anos para convencer Tyler a deixar vacinar os filhos, porque uma parte dele ainda acreditava que a vacina era uma conspiração do Sistema Médico. Lembrando-se disso, e ainda com a voz de papai ecoando em meus ouvidos, desprezei meu irmão. Escrevi: Ele é um cientista! Como não consegue enxergar além dessa paranoia! Reli, e o desdém deu lugar à ironia. Mas também, escrevi, talvez eu pudesse rir de Tyler com mais credibilidade se não me lembrasse, como lembro agora, de que até hoje nunca fui vacinada.
A entrevista para a Gates Scholarship ocorreu no St. John’s College, em Annapolis. O campus intimidava, com seu gramado imaculado e a caprichada arquitetura colonial. Nervosa, sentei-me no corredor, aguardando ser chamada. Sentia-me rígida no terninho e me agarrava, desajeitada, à bolsa de Robin. No entanto, o professor Steinberg tinha escrito uma carta de recomendação tão incisiva que pouco me sobrou para fazer. Recebi a confirmação no dia seguinte. Tinha conseguido a bolsa. Começaram os telefonemas do jornal dos alunos da BYU e dos jornais locais. Dei uma dúzia de entrevistas. Apareci na TV. Um dia, ao acordar, vi minha cara estampada na página da BYU na internet. Eu era a terceira aluna em toda a história da BYU a conseguir uma Gates Scholarship, e a universidade estava tirando o máximo proveito da imprensa. Perguntaram sobre minha experiência escolar, o quanto meus professores de escola haviam me preparado para o sucesso. Me esquivei, me defendi, menti quando foi preciso. Não disse a um único repórter que nunca tinha ido à escola. Não sabia por que não podia contar a eles. Só não podia suportar o pensamento de pessoas me dando tapinhas nas costas, dizendo que eu era incrível. Não queria ser uma personagem de Horatio Alger numa homenagem melosa ao sonho americano. Desejava que minha vida fizesse sentido, e nada naquela narrativa fazia sentido para mim.
Um mês antes da formatura, fui a Buck’s Peak. Papai tinha lido os artigos sobre minha bolsa e o que disse foi: – Você não falou que estudou em casa. Achei que seria mais agradecida por eu e sua mãe termos afastado você da
escola, vendo como deu certo. Devia dizer às pessoas que foi isso que deu certo: estudar em casa. Eu não disse nada. Papai entendeu como um pedido de desculpas. Ele desaprovou minha ida para Cambridge. – Nossos ancestrais arriscaram a vida para cruzar o oceano, para escapar a esses países socialistas. E o que você faz? Vira as costas e volta para lá? Mais uma vez, me calei. – Estou ansioso para sua formatura – ele disse. – O Senhor tem umas reprimendas que eu vou fazer a esses professores aí. – Não vai – eu disse calmamente. – Se o Senhor mandar, vou me levantar e falar. – Não vai – repeti. – Não vou aonde o espírito do Senhor não seja bem recebido. Essa foi a conversa. Esperei que fosse se diluir, mas papai estava tão magoado porque eu não falei nas entrevistas que tinha estudado em casa que essa nova ferida supurou. Houve um jantar na noite anterior à formatura em que eu receberia o prêmio de “mais destacada formanda” pelo departamento de história. Fiquei esperando meus pais na entrada e eles não chegavam. Telefonei para mamãe, achando que estavam atrasados. Ela falou que não iriam. No jantar, fui presenteada com uma placa. Minha mesa era a única que tinha lugares vagos. No dia seguinte houve um almoço para os formandos homenageados, e fui destacada para me sentar com o reitor da faculdade e o diretor do programa de homenageados. Mais uma vez, ficaram dois lugares vagos, e eu disse que meus pais tiveram problemas com o carro. Depois do almoço, telefonei para mamãe.
– Seu pai não vai, a não ser que você peça desculpas – ela disse. – E eu também não vou. Pedi desculpas. – Ele pode falar o que quiser, mas venham, por favor. Os dois perderam a maior parte da cerimônia; não sei se me viram receber o diploma. Só me lembro de estar esperando com meus amigos antes que a música começasse, vendo os pais deles tirando fotos e as mães ajeitando os cabelos. Lembro que minhas colegas usavam colares de flores e joias ganhas recentemente. Depois da cerimônia fiquei sozinha no gramado, vendo os alunos com suas famílias. Por fim, vi meus pais. Mamãe me abraçou. Minha amiga Laura tirou duas fotos. Em uma, eu e mamãe, ambas com sorriso forçado. Na outra, estou entre meus pais, parecendo espremida, sob pressão. Eu estava deixando as montanhas naquela noite. Já tinha feito as malas antes da formatura. Meu apartamento estava vazio, as malas junto à porta. Laura tinha se oferecido para me levar ao aeroporto, mas meus pais perguntaram se podiam me levar. Esperava que me deixassem na entrada, mas papai insistiu para me acompanharem dentro do aeroporto. Esperaram enquanto eu despachava as malas e me seguiram até o portão do raios X. Era como se papai quisesse me dar até o último segundo para mudar de ideia. Fomos andando em silêncio. Chegando ao portão, abracei os dois e disse adeus. Tirei os sapatos, laptop, câmera, passei pelo portão, rearrumei a bolsa e caminhei para o terminal. Só então olhei para trás e vi papai, ainda parado ali, me vendo ir embora, as mãos nos bolsos, ombros despencados, a boca frouxa. Acenei e ele deu um passo à frente, como se fosse me seguir, e me lembrei daquele momento, anos
antes, quando os fios elétricos cobriram o carro com mamãe lá dentro, e papai ficou perto dela, exposto. Ele ainda estava naquela posição quando eu me virei para entrar no corredor. Essa imagem de meu pai ficará comigo para sempre, aquele olhar de amor, medo e perda. Eu sabia que ele estava com medo. Deixou escapar na última noite em Buck’s Peak, na mesma noite em que disse que não iria à minha formatura. – Se você estiver na América – ele sussurrou –, podemos buscar você. Onde você estiver. Tenho milhares de galões de gasolina enterrados no campo. Posso buscar você quando chegar O Fim, trazê-la para casa, e você ficará em segurança. Mas se você cruzar o oceano...
PARTE TRÊS
Capítulo 30
A mão do Todo-Poderoso
Um portão de pedra barrava a entrada do Trinity College. Encravada no portão havia uma portinha de madeira. Entrei por ela. Um zelador de sobretudo preto e chapéu-coco me mostrou o local, atravessando o Great Court, o maior dos pátios. Depois de uma passagem de pedra, entramos num corredor coberto de pedra cor de trigo maduro. – Esse é o claustro norte – ele disse. – Foi aqui que Newton bateu o pé para medir o eco, calculando pela primeira vez a velocidade do som. Voltamos ao Great Gate. Meu quarto ficava na extremidade oposta a ele, três lances de escada acima. O zelador saiu e fiquei lá, apoiada nas malas, vendo pela janelinha o mítico portão de pedra e suas muralhas de outro mundo. Cambridge estava bem como eu me lembrava, antiga, linda. Já eu, estava diferente. Não era uma visitante, uma hóspede. Era membro da universidade. Meu nome estava pintado na porta. Segundo a documentação, eu fazia parte daquele lugar. Vesti roupas escuras para a primeira aula, esperando não chamar a atenção, mas mesmo assim achei que não parecia com os outros alunos. Eu não soava como eles, e não só
porque eram britânicos. A fala deles tinha uma cadência animada que mais parecia música. Aos meus ouvidos, soava refinada, culta. Eu tinha uma tendência a falar enrolado e a gaguejar quando nervosa. Escolhi um lugar em torno de uma grande mesa quadrada e fiquei ouvindo dois colegas conversando sobre o tema da palestra, os dois conceitos de liberdade de Isaiah Berlin. O aluno ao meu lado disse que tinha estudado Isaiah Berlin em Oxford, o outro disse que, durante sua graduação em Cambridge, já escutara os comentários desse professor sobre Berlin. Eu nunca tinha ouvido falar de Isaiah Berlin. O palestrante começou a apresentação. Falava calmamente, mas avançava rápido, como se presumisse que já conhecíamos o material. Isso era confirmado pelos alunos, cuja maioria não fazia anotações. Escrevi cada palavra. – Então, quais são os dois conceitos de Isaiah Berlin? – o palestrante perguntou. Quase todo mundo levantou a mão. O palestrante chamou o aluno que tinha estudado em Oxford. – Liberdade negativa – ele disse – é estar livre de obstáculos ou restrições externos. Nesse sentido, o indivíduo é livre se não for fisicamente impedido de agir. Lembrei-me de Richard, que sempre sabia citar com exatidão tudo o que havia lido. – Muito bem. E o segundo? – Liberdade positiva – disse outro aluno – é estar livre de restrições internas. Anotei essas definições, mas não as entendi. O palestrante tentou esclarecer. Disse que liberdade positiva é o domínio de si, são as regras de si sobre si mesmo. Ter liberdade positiva é ter o controle da própria
mente, estar livre de crenças e medos irracionais, de vícios, superstições e de toda forma de autocoerção. Eu não tinha ideia do que era autocoerção. Olhei em volta. Ninguém parecia confuso. Eu era uma das poucas tomando notas. Quis pedir mais explicações, mas algo me impediu – a certeza de que a pergunta iria fazer ecoar pela sala que meu lugar não era ali. Depois da aula voltei ao meu quarto, onde fiquei olhando pela janela o portão de pedra com a amurada medieval. Pensei na liberdade positiva, o que significaria autocoerção, até minha cabeça começar a latejar com uma dor chata. Liguei para casa. Mamãe atendeu. Sua voz ficou animada quando reconheceu meu “Oi, mamãe” choroso. Falei que eu não deveria ter vindo para Cambridge, que eu não entendia nada. Ela disse que tinha feito um teste muscular e descoberto que um dos meus chacras estava desequilibrado, mas ela podia ajustar. Lembrei a ela que eu estava a oito mil quilômetros de distância. – Não faz mal – ela disse. – Ajusto o chacra em Audrey e jogo voando para você. – Faz o que para mim? – Eu jogo – ela disse. – A distância não é nada para a energia. Posso mandar voando a energia corrigida daqui. – Com que velocidade a energia viaja? – perguntei. – Com a velocidade do som, ou é mais como um avião a jato? Vem direto ou faz escala em Minneapolis? Mamãe riu e desligou.
Quase toda manhã eu estudava na biblioteca da faculdade, perto de uma janelinha. Certa manhã eu estava lá quando Drew, meu colega da BYU, me enviou uma música por email. Falou que era um clássico, mas eu nunca tinha ouvido,
nem conhecia o cantor. Ouvi com fones de ouvido. Fui envolvida imediatamente. Fiquei escutando várias vezes, olhando para o claustro norte. Libertem-se da escravidão mental Ninguém, a não ser nós mesmos, pode libertar nossa mente Anotei esses versos em cadernos, nas margens dos ensaios que estava escrevendo. Em vez de ler, ficava pensando neles. Pela internet, li sobre o câncer que tinham descoberto no pé de Bob Marley. Soube também que Bob Marley era um rastafári, e que rastafáris acreditavam em “um corpo inteiro”, e por isso ele recusou a cirurgia para amputar o dedo. Quatro anos depois, aos 36 anos, ele morreu. Libertem-se da escravidão mental. Bob Marley escreveu esse verso um ano antes de morrer, enquanto um melanoma operável estava fazendo metástase para seus pulmões, fígado, estômago e cérebro. Imaginei um cirurgião ganancioso com dentes afiados e dedos esqueléticos tentando convencer Marley a amputar. Me encolhi diante da imagem assustadora do médico e sua medicina corrupta, e só então entendi, como nunca antes, que, apesar de ter renunciado ao mundo de meu pai, eu nunca tinha encontrado a coragem para viver neste. Folheei meu caderno à procura da aula sobre liberdade negativa e positiva. Num canto do caderno, rabisquei: Ninguém, a não ser nós mesmos, pode libertar nossa mente. Então peguei o telefone e liguei. – Eu preciso tomar vacinas – falei com a enfermeira.
Toda
quarta-feira à tarde eu ia a um seminário, onde reparei em duas mulheres, Katrina e Sophie, que sempre se sentavam juntas. Nunca tinha falado com elas até pouco antes do Natal, quando perguntaram se eu gostaria de tomar um café. Eu nunca tinha “tomado um café”. Jamais havia sequer provado café, porque é proibido pela igreja, mas saí com elas, atravessamos a rua e entramos num café. A balconista estava impaciente, então escolhi qualquer um. Ela me deu uma xicrinha contendo o equivalente a uma colher de sopa de um líquido cor de lama, e fiquei de olho comprido nas canecas espumantes que Katrina e Sophie levaram para a mesa. Elas debateram conceitos dados na aula; eu debatia comigo mesma se devia tomar meu café. Elas usavam expressões complexas com a maior facilidade. Algumas, como “segunda onda”, eu já tinha ouvido, embora não soubesse o que significavam. Outras, como “masculinidade hegemônica”, eu não acompanhava nem com a língua, quanto mais com a mente. Tomei vários goles do fluido acre e granuloso até entender que elas estavam falando sobre feminismo. Olhei para elas como se estivessem atrás de uma vitrine. Eu nunca ouvira ninguém usar a palavra “feminismo”, a não ser como uma reprimenda. Na BYU, “Você fala como uma feminista” era sinal do fim de uma discussão. Era também sinal de que eu tinha perdido a discussão. Saí do café e fui para a biblioteca. Depois de cinco minutos on-line e idas às estantes, eu estava em meu lugar de sempre com uma pilha de livros escritos por quem eu agora entendia que eram autoras da segunda onda – Betty Friedan, Germaine Greer, Simone de Beauvoir. Li apenas algumas páginas de cada livro antes de fechá-los com força.
Eu nunca tinha visto a palavra “vagina” escrita, jamais a havia falado em voz alta. Voltei à internet e às estantes, onde troquei os livros da segunda onda pelos que tinham precedido a primeira – Mary Wollstonecraft e John Stuart Mill. Li a tarde inteira e entrei pela noite, desenvolvendo pela primeira vez um vocabulário para a inquietação que eu sentia desde criança. Desde o momento em que entendi que meu irmão Richard era menino e eu era menina, queria trocar o futuro dele com o meu. Meu futuro era a maternidade; o dele, a paternidade. Parecia a mesma coisa, mas não era. Um era quem decidia. Chefiava. Mandava na família. O outro era um dos mandados. Eu sabia que meus anseios não eram naturais. Esse saber, assim como boa parte do saber sobre mim mesma, vinha da voz das pessoas que eu conhecia, pessoas que eu amava. Ao longo dos anos essa voz me acompanhava, sussurrando, sugerindo, desconfiando... que eu não estava certa. Que meus sonhos eram perversões. A voz tinha muitos timbres, muitos tons. Às vezes era a voz de meu pai. No mais das vezes, era a minha. Levei os livros para o quarto e passei a noite lendo. Adorei as páginas ferozes de Mary Wollstonecraft, mas houve uma única linha escrita por John Stuart Mill que, quando li, moveu o mundo: “É um assunto do qual nada se pode saber de maneira definitiva.” O tema que Mill tinha em mente era a natureza da mulher. Mill afirmava que as mulheres foram persuadidas, convencidas, empurradas e esmagadas numa série de contorções femininas durante tantos séculos que agora era impossível definir suas capacidades e aspirações naturais. O sangue latejava em minha cabeça. Senti uma explosão animadora de adrenalina, de possibilidades, de uma
fronteira sendo ampliada. Da natureza das mulheres nada se pode saber de maneira definitiva. Nunca havia sentido tanto conforto num vazio, num buraco negro do saber. Parecia dizer: seja você o que for, você é mulher.
Em dezembro, depois de ter entregado meu último ensaio, fui de trem para Londres e peguei um avião. Mamãe, Audrey e Emily me buscaram no aeroporto de Salt Lake City e seguimos pela interestadual. Era quase meia-noite quando avistei a montanha. Eu podia adivinhar sua forma grandiosa contra o céu escuro. Ao entrar na cozinha notei uma abertura na parede, que levava a um anexo que papai estava construindo. Mamãe me conduziu ao outro lado e acendeu a luz. – Incrível, não é? – ela disse. “Incrível” era a palavra. Era um cômodo enorme, do tamanho de uma capela de igreja, com o teto abobadado de quase cinco metros de altura. O tamanho da construção era tão absurdo que levei algum tempo para notar a decoração. As paredes eram de placas aparentes de impermeabilizante, num contraste espetacular com o apainelado de madeira do teto alto. Sofás de camurça carmesim se assentavam cordialmente junto ao sofazinho namoradeira que meu pai trouxera de um lixão muitos anos antes. Grossos tapetes com desenhos intricados cobriam metade do chão, e a outra metade era de cimento cru. Havia vários pianos, um dos quais parecia tocável, e uma TV do tamanho de uma mesa de jantar. O espaço combinava perfeitamente com meu pai: era maior que o mundo e maravilhosamente incongruente. Papai sempre dissera que queria construir um salão do tamanho de um navio, mas nunca achou que iria ter o dinheiro. Olhei para mamãe em busca de uma explicação,
mas foi ele quem respondeu. O negócio da mamãe era um sucesso estrondoso. Os óleos essenciais estavam na moda e mamãe tinha os melhores do mercado. – Nossos óleos são tão bons – ele disse – que já estamos tirando parte dos lucros dos grandes produtores. Todos conhecem os óleos dos Westover em Idaho. Ele contou que uma companhia ficou tão alarmada com o sucesso dos óleos de mamãe que fizeram uma proposta para comprar por absurdos três milhões de dólares. Meus pais nem levaram a proposta em consideração. A cura era sua vocação. Não havia quantia que os tentasse. Papai contou que reconsagravam a maior parte dos lucros a Deus, na forma de suprimentos, comida, combustível e, talvez, um verdadeiro abrigo antibombas. Reprimi o riso. Pelo visto, papai estava a caminho de se tornar o lunático mais bem provido dos Estados Montanhosos. Richard apareceu na escada da frente. Estava terminando a graduação em química na Idaho State. Veio para o Natal, trazendo a esposa, Kami, e o filho de um mês, Donavan. Tinha conhecido Kami um ano atrás, pouco antes do casamento. Fiquei espantada por ela ser tão normal. Assim como Stefanie, esposa de Tyler, Kami era inconvencional. Era mórmon, mas era o que papai chamaria de “emproada”. Agradeceu à mamãe pelos conselhos sobre ervas, mas ficou insensível à expectativa de que renunciasse a médicos. Donavan nasceu num hospital. Imaginei como Richard navegava pelas águas turbulentas entre sua esposa normal e seus pais anormais. Observei-o atentamente aquela noite e me pareceu que ele tentava viver nos dois mundos como um leal seguidor dos dois credos. Quando papai condenou médicos, dizendo que eram empregadinhos de Satanás, Richard se virou para Kami e deu uma risadinha, como se papai estivesse brincando. Mas
papai levantou as sobrancelhas e a expressão de Richard mudou para uma séria contemplação, concordando. Ele parecia estar num estado de transição constante, entrando e saindo de dimensões, incerto sobre ser o filho de meu pai ou o marido da esposa.
Mamãe estava sobrecarregada com as encomendas para o fim de ano. Então passei os dias em Buck’s Peak como em criança, na cozinha, fazendo homeopatias. Despejava a água destilada, adicionava gotas da fórmula básica, depois passava o vidrinho pelo anel formado pelo meu polegar e indicador, contando até cinquenta ou até cem. Em seguida pegava o vidrinho seguinte. Papai entrou para beber água. Sorriu ao me ver. – Quem diria que tivemos que mandar você para Cambridge para voltar para a cozinha, onde é o seu lugar? – ele disse. À tarde, Shawn e eu selávamos os cavalos e enfrentávamos os caminhos da montanha, com os cavalos quase pulando para escalar a neve acumulada que lhes chegava até a barriga. A montanha estava linda, nítida, o ar cheirava a couro e pinheiro. Shawn falava sobre os cavalos, os treinamentos, os potros que esperava para a primavera, e eu lembrava que seus melhores momentos eram quando ele ficava com seus cavalos. Fazia uma semana que eu estava em casa quando a montanha foi tomada por um frio intenso. A temperatura despencou para zero e, depois, caiu ainda mais. Guardamos os cavalos, pois se andassem muito o suor viraria gelo nas costas deles. Os cochos congelaram. Quebrávamos o gelo, mas a água tornava a congelar rapidamente, e então trazíamos um balde de água para cada cavalo.
Naquela noite todos ficaram dentro de casa. Mamãe misturava óleos na cozinha. Papai estava no anexo, que eu chamava, brincando, de capela, deitado no sofá carmesim, com a Bíblia sobre a barriga, enquanto Kami e Richard tocavam hinos ao piano. Sentei-me na namoradeira com meu laptop, perto de papai, ouvindo a música. Mal tinha começado a escrever uma mensagem para Drew quando alguém bateu à porta dos fundos. A porta se abriu de repente e Emily irrompeu. Seus braços magros abraçavam o corpo, ela tremia, respirando com dificuldade. Sem casaco, sem sapatos, só vestia um jeans velho que eu tinha deixado lá e uma camiseta minha usada. Mamãe a levou ao sofá, embrulhoua no cobertor mais próximo. Emily berrava, e nem mamãe conseguia fazer com que ela dissesse o que tinha acontecido. Todo mundo estava bem? Onde estava Peter? Ele era frágil, metade do tamanho que deveria ter, respirava com um tubo de oxigênio porque seus pulmões nunca se desenvolveram totalmente. Os pulmõezinhos dele haviam falhado, a respiração tinha cessado? A história veio aos saltos, entre soluços erráticos e dentes batendo. Pelo que entendi, Emily tinha ido à Stokes à tarde e voltado com os biscoitos errados para Peter. Shawn explodiu. “Como é que ele vai crescer se você não compra nem a comida certa!”, ele gritou, arremessando-a pela porta do trailer afora, num banco de neve. Ela bateu à porta, implorando para entrar, depois desceu a colina correndo para a casa. Enquanto contava isso, olhei para seus pés descalços. Estavam tão vermelhos que pareciam queimados. Meus pais se sentaram com Emily no sofá, um de cada lado, dando tapinhas nos seus ombros, pegando suas mãos. Richard andava pra lá e pra cá atrás do sofá. Parecia
frustrado, ansioso, como se quisesse explodir, entrar em ação, e estivesse só esperando. Kami continuava sentada ao piano, confusa, vendo o grupo encolhido no sofá. Ela não tinha entendido Emily. Não compreendia por que Richard ficava andando para lá e para cá, por que parava a cada minuto para olhar para papai como se esperasse uma palavra ou um gesto, algum sinal do que deveria ser feito. Vendo Kami, senti meu peito apertar. Me incomodou o fato de ela estar testemunhando aquilo. Me imaginei no lugar de Emily, o que era fácil para mim – eu na verdade não conseguia evitar. Num instante eu estava num estacionamento, rindo alto como num cacarejo, tentando convencer o mundo de que meu pulso não estava sendo quebrado. Sem pensar, atravessei a sala, peguei meu irmão pelo braço e o levei ao piano. Emily continuava soluçando, e usei os soluços dela para abafar meus sussurros. Falei com Kami que aquilo que víamos era muito íntimo, que Emily ficaria envergonhada no dia seguinte. Por Emily, seria melhor irmos para nossos quartos e deixar a situação nas mãos de papai. Kami se levantou. Resolveu confiar em mim. Richard hesitou, lançou um longo olhar a papai e, depois, saiu da sala atrás dela. Fui seguindo com eles pelo corredor, depois voltei. Sentei à mesa da cozinha e fiquei olhando o relógio. Passaram-se cinco minutos, dez. “Venha para cá, Shawn”, sussurrei. “Venha agora.” Eu estava convencida de que, se Shawn aparecesse nos próximos minutos, seria para garantir que Emily tinha chegado a casa, que não havia escorregado no gelo e quebrado uma perna, não estava congelando lá fora. Mas ele não apareceu.
Vinte minutos depois, quando Emily finalmente parou de tremer, papai pegou o telefone. – Vem buscar sua mulher! – ele berrou. Mamãe acalentava Emily em seu ombro. Papai voltou ao sofá, dando tapinhas no braço de Emily. Vendo os três juntinhos no sofá, tive a impressão de que tudo aquilo havia acontecido antes, e que o papel de cada um havia sido ensaiado. Até o meu. Muitos anos se passaram até eu entender o que acontecera aquela noite, e qual tinha sido meu papel naquilo. Eu havia aberto a boca quando deveria ter ficado em silêncio, e a fechado quando deveria ter falado. Precisava era ter havido uma revolução, uma reversão dos papéis frágeis que eu desempenhava desde a infância. O que era necessário – o que Emily precisava – era uma mulher emancipada do fingimento, uma mulher que pudesse mostrar que era um homem. Expressar uma opinião. Agir, desprezando a deferência. Um pai. As portas francesas que meu pai havia instalado rangeram ao se abrir. Shawn adentrou, com botas grossas e um pesado casaco de inverno. Peter apareceu entre as dobras de lã espessa onde Shawn o protegia do frio e esticou os braços para Emily. Ela se agarrou a ele. Papai ficou de pé. Fez um gesto para Shawn se sentar ao lado de Emily. Levantei e fui para meu quarto. Só parei para dar uma última olhada em meu pai, que tomava fôlego para dar um longo sermão. – Foi muito severo – mamãe me falou vinte minutos depois, quando chegou à minha porta perguntando se eu podia emprestar um par de sapatos e um casaco para Emily. Entreguei a ela e fiquei olhando da cozinha enquanto Emily sumia enfiada sob o braço do meu irmão.
Capítulo 31
Tragédia e farsa
Na véspera de retornar à Inglaterra, dirigi 12 quilômetros ao longo da cordilheira, depois peguei uma estradinha de terra e parei em frente a uma casa azul-claro. Estacionei atrás de um trailer quase tão grande quanto a casa. Bati à porta. Minha irmã atendeu. Parada na entrada, vestindo um pijama de flanela, tinha um bebê encaixado no quadril e duas meninas pequenas agarradas na perna. O filho de 6 anos estava atrás dela. Audrey deu um passo para o lado, me deixando passar, mas seus movimentos eram duros, e ela evitava olhar diretamente para mim. Desde seu casamento, tínhamos passado pouco tempo juntas. Entrei e parei abruptamente diante de um buraco de quase um metro no linóleo, que mergulhava no porão. Contornei o buraco e entrei na cozinha cheia de odores dos óleos de mamãe – bétula, eucalipto, ravensara. A conversa foi lenta, vacilante. Audrey não perguntou nada sobre a Inglaterra ou Cambridge. Ela não tinha um quadro de referências sobre minha vida, e então falamos sobre a dela, que o sistema escolar era corrupto, e ela ensinava às crianças em casa. Assim como eu, Audrey
nunca fora à escola. Aos 17 anos, fez um esforço passageiro para concluir o ensino médio via supletivo, e chegou a apelar para nossa prima Missy, que veio de Salt Lake City para ajudá-la. Missy estudou com Audrey durante todo o verão. No fim, declarou que o nível de Audrey oscilava entre o quarto e quinto ano, e o ensino médio estava fora de questão. Mordi o lábio e olhei para a filha dela, que veio me mostrar um desenho, imaginando que educação ela poderia esperar receber de uma mãe que não tinha nenhuma. Fizemos café da manhã para as crianças e fomos brincar na neve com elas. Cozinhamos, assistimos a séries policiais e fizemos pulseiras de contas. Foi como entrar num espelho e viver um dia do que teria sido minha vida se tivesse ficado na montanha. Mas não fiquei. Minha vida divergira da vida de minha irmã e era como se não houvesse um terreno comum a nós duas. As horas se passavam, a tarde já era avançada, e ela continuava distante, continuava a evitar meu olhar. Eu tinha trazido um aparelhinho de chá de louça para as meninas, e, quando elas começaram a brigar pelo bule, recolhi todas as peças. A mais velha me lembrou que já tinha 5 anos, e era muito crescida para tirarem um brinquedo dela. – Se você se comporta como criança, vou te tratar como criança – falei. Não sei por que disse aquilo. Acho que Shawn estava em minha mente. Me arrependi no instante em que as palavras saíram de meus lábios e me odiei por ter falado aquilo. Virei para entregar o aparelho a minha irmã, e ela que administrasse como achasse melhor, mas quando vi sua expressão quase deixei cair tudo. Sua boca estava aberta num círculo perfeito. – Shawn dizia isso – ela falou, fixando os olhos nos meus.
Aquele momento permaneceu comigo. Lembrei dele no dia seguinte, quando embarquei no avião em Salt Lake City, e ainda estava em meu pensamento quando aterrissei em Londres. Não conseguia me livrar do choque. Nunca me ocorrera que minha irmã podia ter vivido minha vida antes de mim.
Naquele
semestre me entreguei à universidade como resina para um escultor. Acreditava que podia ser refeita, ter a mente remodelada. Me forcei a fazer amizade com os demais estudantes, apresentando-me desajeitadamente repetidas vezes, até formar um pequeno círculo de amigos. Dispus-me a derrubar as barreiras que me separavam deles. Pela primeira vez tomei um gole de vinho tinto, e meus novos amigos riram da minha careta. Me desfiz das blusas de gola alta e passei a usar roupas mais na moda, justas, várias sem mangas, com decotes menos restritivos. Em fotos desse período, me impressiona a simetria: eu estava igual a todo mundo. Em abril, comecei a fazer bonito. Escrevi um ensaio sobre o conceito de autossoberania, de John Stuart Mill, e meu supervisor, dr. David Runciman, disse que se minha dissertação tivesse a mesma qualidade eu seria aceita para o doutorado em Cambridge. Fiquei estupefata. Eu, que havia me embrenhado naquele lugar grandioso como impostora, agora poderia entrar pela porta da frente. Comecei a trabalhar na dissertação, mais uma vez tomando Mill como tópico. Certa tarde, quase no fim do período, eu estava almoçando na cafeteria da biblioteca e reconheci um grupo de estudantes do meu programa. Estavam sentados juntos a uma pequena mesa. Perguntei se podia me sentar
também. Um italiano alto, chamado Nic, assentiu. No decorrer da conversa entendi que Nic tinha convidado os outros para irem visitá-lo em Roma nas férias de primavera. – Você pode vir também – ele disse. Entregamos o trabalho final daquele período e embarcamos no avião. Em nossa primeira tarde em Roma, subimos uma das sete colinas e vimos a metrópole. Domos bizantinos se projetavam na cidade como balões. Era quase noite. As ruas estavam banhadas de âmbar. Não era a cor de uma cidade moderna, de aço, vidro e concreto. Era a cor do pôr do sol. Nic perguntou o que eu achava da terra dele, e só consegui dizer que não parecia real. No dia seguinte, no café da manhã, cada um falava sobre sua família. O pai de alguém era diplomata, outro era professor em Oxford. Perguntaram sobre meus pais. Falei que meu pai era dono de um ferro-velho. Nic nos levou ao conservatório onde ele tinha estudado violino. Era no coração de Roma, ricamente mobiliado, com uma enorme escadaria e salões ressonantes. Tentei imaginar como seria estudar num lugar daquele, andar sobre os pisos de mármore e, dia após dia, saber associar o aprendizado à beleza. Mas a imaginação falhou. Só conseguia imaginar a escola como eu a conhecia agora, uma espécie de museu, uma relíquia da vida de outra pessoa. Passamos dois dias conhecendo Roma, uma cidade que é ao mesmo tempo um organismo vivo e um fóssil. Estruturas desbotadas pela antiguidade eram como ossos secos enlaçados por fios pulsantes e pela vibração do trânsito, as artérias da vida moderna. Visitamos o Panteão, o Fórum Romano, a Capela Sistina. Meu instinto era adorar, venerar. Era como me sentia com relação à cidade inteira, que deveria estar numa vitrine, adorada a distância, jamais
tocada, nunca alterada. Meus companheiros passavam pela cidade de maneira diferente, cônscios, mas não dominados por seu significado. Não se calavam na Fonte de Trevi, não eram silenciados pelo Coliseu. Enquanto passávamos de uma relíquia a outra, discutiam filosofia, Hobbes e Descartes, São Tomás de Aquino e Maquiavel. Havia uma espécie de simbiose no relacionamento deles com aqueles locais grandiosos. Eles davam vida à arquitetura antiga, fazendo dela o pano de fundo de seu discurso, recusando-se à adoração em seu altar, como se fosse uma coisa morta. Na terceira noite caiu uma tempestade. Fiquei na sacada de Nic apreciando os rastros dos relâmpagos atravessando o céu, os estrondos de trovões à caça deles. Era como estar em Buck’s Peak, sentir todo aquele poder na terra e no céu. O dia amanheceu sem nuvens. Fizemos um piquenique com vinhos e doces no jardim da Villa Borghese. O sol estava quente e os doces, divinos. Não me lembrava de ter me sentido mais presente. Alguém falou em Hobbes e, sem pensar, citei uma frase de Mill. Pareceu natural trazer sua voz do passado para um momento já tão saturado de passado, ainda que a voz dele estivesse misturada à minha. Houve uma pausa enquanto todos queriam ver quem tinha falado, alguém perguntou de que texto era a frase, e a conversa prosseguiu. Pelo resto da semana vivi em Roma como eles viviam, um lugar de histórias, mas também de vida, de comida, de trânsito, de conflito e de trovões. A cidade deixou de ser um museu. Ficou tão vívida quanto Buck’s Peak. A Piazza del Popolo, as Termas de Caracalla, o Castel Sant’Angelo ficaram tão reais para mim quanto a Princesa, o vagão vermelho, a Cisalha. O mundo que representavam, de filosofia, ciência, literatura – uma civilização inteira –, tomou uma vida diferente daquela que eu conhecia. Na Galleria
Nazionale d’Arte Antica, vi Judite e Holofernes, de Caravaggio, e nem uma vez só pensei em galinhas. Não sei o que causou a transformação, não sei por que de repente eu podia me envolver com os grandes pensadores do passado sem venerá-los a ponto de emudecer. Mas havia algo naquela cidade, com seu mármore branco e asfalto negro, incrustada de história, incandescente de luzes de trânsito, que mostrara que eu podia admirar o passado sem que ele me silenciasse. Eu ainda respirava a antiguidade das velhas pedras quando retornei a Cambridge. Subi correndo as escadas, ansiosa para ver meu e-mail, sabendo que haveria uma mensagem de Drew. Quando abri o laptop, vi que, além de Drew, alguém mais tinha escrito: minha irmã.
Abri
a mensagem de Audrey. Era composta dum único parágrafo longo, com pouca pontuação e muitos erros de ortografia. No início, eu me concentrei nessas irregularidades gramaticais, tentando ignorar o texto. Mas as palavras não se deixavam calar. Elas gritavam da tela para mim. Audrey disse que deveria ter impedido Shawn muitos anos atrás, antes que ele fizesse comigo o que fez com ela. Disse que, quando era menina, queria contar à mamãe, pedir ajuda, mas achava que mamãe não iria acreditar nela. Tinha razão. Antes de se casar, tinha pesadelos e flashbacks, e contou à mamãe, que falou que aquelas lembranças eram falsas, impossíveis. “Eu deveria ter ajudado você”, Audrey escreveu. “Mas quando minha própria mãe não acreditou em mim deixei de acreditar em mim mesma.”[9]
Era um erro que ela queria corrigir: “Acredito que Deus irá me responsabilizar se eu não impedir Shawn de maltratar outra pessoa.” Ela iria confrontar Shawn e nossos pais e me pedia para lhe dar apoio. “Vou fazer isso com ou sem você. Mas sem você, provavelmente, vou perder.” Fiquei um longo tempo parada no escuro. E magoada por ela ter escrito para mim. Achei que ela estava me arrancando de um mundo, de uma vida em que eu era feliz, e me arrastando de volta para outro. Digitei uma resposta. Disse que tinha razão, claro que deveríamos impedir Shawn, mas pedi que não fizesse nada até que eu voltasse a Idaho. Não sei por que pedi a ela que esperasse, que benefício o tempo traria. Não sei o que pensei que aconteceria quando falássemos com nossos pais, mas entendi instintivamente o que estava em jogo. Já que nunca tínhamos pedido, era possível acreditar que ajudassem. Contar a eles era arriscar o impensável: era arriscar saber que eles já sabiam. Audrey não esperou nem um dia. Na manhã seguinte, ela mostrou meu e-mail para mamãe. Não posso imaginar os detalhes da conversa, mas sei que para Audrey deve ter sido um tremendo alívio mostrar minhas palavras diante de nossa mãe e, finalmente, poder dizer: “Eu não sou louca. Aconteceu com Tara também.” Mamãe passou o dia inteiro ponderando. E decidiu que precisava ouvir minhas palavras diretamente. Era fim de tarde em Idaho, quase meia-noite na Inglaterra, quando minha mãe, sem saber dar um telefonema internacional, me contactou via internet. As palavras eram pequenas, confinadas a uma janelinha de texto no canto da minha tela, mas pareciam engolir meu quarto. Disse que tinha lido minha carta. Me preparei para a raiva dela.
“É doloroso encarar a realidade”, ela escreveu. “Perceber que havia alguma coisa feia, e eu me recusei a enxergar.” Precisei ler essas linhas várias vezes até compreender, até entender que ela não estava com raiva, não me culpava nem tentava me convencer de que eu tinha apenas imaginado. Ela acreditava em mim. Não se culpe, eu disse a ela. Sua cabeça nunca mais foi a mesma depois do acidente. “Talvez. Mas às vezes penso que a gente escolhe a doença porque nos beneficia de algum modo.” Perguntei por que ela não impedia Shawn de me bater. “Shawn sempre dizia que você é quem provocava as brigas, e acho que eu queria acreditar porque era mais fácil. Porque você era forte e racional, e todo mundo podia ver que Shawn não era.” Não fazia sentido. Se eu era racional, por que mamãe acreditava em Shawn quando dizia a ela que eu provocava as brigas? Que eu precisava ser refreada, disciplinada. “Sou mãe. A mãe protege. E Shawn já tinha sofrido muito.” Eu queria dizer que ela era minha mãe também, mas não disse. Acho que papai não vai acreditar em nada disso, digitei. “Vai, sim. Mas é difícil para ele. Lembra a ele os danos que a bipolaridade dele causou a nossa família.” Eu nunca tinha ouvido mamãe admitir que papai podia ser doente mental. Anos antes, quando contei o que tinha aprendido nas aulas de psicologia sobre transtorno bipolar e esquizofrenia, ela deu de ombros e nem ligou. Ouvi-la dizer isso agora era uma libertação. A doença me dava algo mais para atacar além de meu pai; por isso, quando mamãe perguntou por que eu não havia recorrido a ela antes, por que não tinha pedido ajuda, respondi com franqueza.
Porque você era muito maltratada pelo papai. Você não tinha nenhum poder em casa. Papai decidia tudo e não ia nos ajudar. “Estou mais forte agora. Parei de fugir de medo.” Ao ler isso, imaginei mamãe uma mulher jovem, brilhante e enérgica, mas também ansiosa e obediente. Então a imagem mudou, seu corpo se alongando, magro, os cabelos lisos, longos e prateados. Emily está sendo maltratada, escrevi. “Está. Como eu fui.” Ela é você, escrevi. “Ela sou eu. Mas hoje eu sei das coisas. Podemos reescrever a história.” Perguntei sobre uma lembrança. Foi semanas antes de eu ir para a BYU, depois que Shawn teve uma noite particularmente ruim. Ele levou mamãe às lágrimas, depois se aboletou no sofá e ligou a TV. Encontrei mamãe chorando à mesa da cozinha, e ela me pediu que não fosse para a BYU. Falou: – Você é a única forte o bastante para lidar com ele. Eu não consigo, seu pai não consegue. Tem que ser você. Digitei devagar, relutantemente. Você lembra que me disse para não ir para a faculdade, que eu era a única capaz de lidar com Shawn? “Sim, eu me lembro.” Houve uma pausa, depois mais palavras apareceram, palavras que eu não sabia que precisava ouvir, mas quando li percebi que tinha passado a vida inteira procurando por elas. “Você é minha filha. Eu devia ter te protegido.” No momento em que li essas linhas vivi uma vida inteira, uma vida que não era a que eu tinha vivido. Me tornei outra pessoa, alguém que se lembrava de uma infância diferente.
Naquela hora não compreendi a mágica daquelas palavras, e ainda não compreendo agora. Só sei que, quando minha mãe falou que não tinha sido para mim a mãe que desejava ter sido, ela se tornou essa mãe pela primeira vez. Eu te amo, escrevi, e fechei o laptop.
Mamãe e eu falamos apenas uma vez sobre essa conversa, por telefone, uma semana depois. – Já foi resolvido – ela disse. – Contei a seu pai o que você e sua irmã disseram. Shawn vai ter tratamento. Tirei o assunto da cabeça. Minha mãe tinha assumido o caso. Ela estava forte. Havia construído um negócio, com toda aquela gente trabalhando para ela, que superou muito o trabalho de papai e todos os negócios na cidade inteira. Ela, a mulher dócil, possuía um poder que nós nem sonhávamos ter. E papai. Ele tinha mudado. Estava mais brando, mais propenso a rir. O futuro podia ser diferente do passado. Até o passado podia ser diferente do passado, porque minhas lembranças podiam mudar. Não me lembrava mais de mamãe na cozinha ouvindo Shawn me prender no chão, apertando meu pescoço. Não me lembrava mais dela olhando para o outro lado. Minha vida em Cambridge se transformou – ou melhor, eu fui transformada em alguém que acreditava fazer parte de Cambridge. A vergonha que eu sempre senti de minha família sumiu da noite para o dia. Pela primeira vez na vida falei abertamente de onde eu tinha vindo. Admiti para meus amigos que eu nunca havia ido à escola. Falei de Buck’s Peak, do ferro-velho, de celeiros, currais. E até do abrigo subterrâneo cheio de suprimentos no campo de trigo e da gasolina enterrada perto do velho celeiro.
Contei que eu tinha sido pobre, que fora ignorante, e ao falar tudo isso não senti nem um pingo de vergonha. Só então entendi de onde viera a vergonha. Não era por não ter estudado num conservatório de mármore, nem porque meu pai não era diplomata. Não era porque meu pai era meio louco, nem porque minha mãe lhe obedecia. Era por ter um pai que havia me jogado para as garras afiadas da Cisalha, em vez de me levar para longe delas. Era por aqueles momentos no chão, por saber que mamãe estava ali ao lado fechando olhos e ouvidos para mim, e decidindo, naquele momento, não ser minha mãe. Criei uma nova história para mim. Passei a ser convidada para todos os jantares, contando minhas histórias de caçadas e cavalos, de recolher sucata e combater incêndios na montanha. De minha mãe, brilhante parteira e empreendedora, de meu pai excêntrico, sucateiro e devoto. Achei que finalmente estava sendo honesta a respeito da vida que eu tinha antes. Não era a verdade, exatamente, mas era autêntica num sentido mais amplo. A verdade do que seria no futuro, agora que tudo tinha mudado para melhor. E que mamãe havia encontrado sua força. O passado era um fantasma, insubstancial, desimportante. Somente o futuro tinha peso. 9 As aspas usadas nesta página indicam que a linguagem do e-mail foi parafraseada, não citada literalmente. O significado foi preservado.
Capítulo 32
Mulher imbatível na casa grande
Quando
voltei a Buck’s Peak era outono, e vovó-lá-debaixo estava morrendo. Passou nove anos lutando contra um câncer na medula. Eu tinha acabado de saber que obtivera a vaga para o doutorado em Cambridge quando mamãe me escreveu. “Vovó foi internada de novo. Venha depressa. Acho que será a última vez.” Ao chegar a Salt Lake City, vovó oscilava entre consciência e inconsciência. Drew me buscou no aeroporto. Àquela altura já éramos mais que amigos. Disse que me levaria ao hospital da cidade, em Idaho. Eu não voltara lá desde que tinha levado Shawn anos antes e, andando pelo corredor branco, asséptico, era difícil não pensar nele. Chegamos ao quarto de vovó. Vovô estava sentado ao lado do leito, segurando a mão sardenta dela. Ela estava de olhos abertos e olhou para mim. – É a minha pequena Tara, veio lá da Inglaterra – ela disse, e seus olhos se fecharam. Vovô apertou a mão dela, mas ela havia adormecido. Uma enfermeira nos disse que vovó, provavelmente, iria dormir muitas horas. Drew me levaria a Buck’s Peak. Concordei, e somente quando avistei a montanha imaginei se não havia sido um
erro. Drew tinha ouvido minhas histórias, mas ainda assim era arriscado trazê-lo aqui. Este lugar não era uma história, e eu duvidava de que alguém tivesse mesmo o papel que eu contava às pessoas. A casa estava um caos. Havia mulheres por toda parte, algumas recebendo pedidos por telefone, outras misturando óleos e macerando ervas. Havia mais um anexo no lado sul da casa, onde mulheres mais novas enchiam frascos e embalavam os pedidos para despachar. Deixei Drew na sala e fui ao banheiro, que era o único lugar da casa igual ao que me lembrava. Ao sair, esbarrei com uma velha magrinha de cabelos crespos e grandes óculos quadrados. – Esse banheiro é só para a gerência – ela disse. – As embaladoras só podem usar o banheiro do anexo. – Eu não trabalho aqui – falei. Ela me encarou. Claro que eu trabalhava ali. Todo mundo trabalhava ali. – Esse banheiro é para a gerência – repetiu, empertigando-se toda. – Você não pode sair do anexo. E virou as costas antes que eu pudesse responder. Eu ainda não tinha visto nem meu pai nem minha mãe. Voltei à sala, onde Drew continuava sentado no sofá, ouvindo uma mulher explicar que aspirina podia causar infertilidade. Agarrei a mão dele e o arrastei, abrindo caminho entre aquelas estranhas. – Este lugar é real? – ele perguntou. Encontrei mamãe num quarto sem janelas no porão. Tive a impressão de que ela estava se escondendo ali. Apresentei Drew e ela sorriu calorosamente. – Onde está papai? – perguntei. Suspeitei que ele estivesse doente, na cama, devido à tendência a problemas pulmonares desde que a explosão havia queimado seus pulmões.
– Tenho certeza de que está na batalha – ela disse, revirando os olhos para o teto, que tremia com os passos lá de cima. Mamãe subiu conosco. No momento em que chegou lá em cima foi assediada por várias empregadas com perguntas de clientes. Todas queriam saber a opinião dela sobre queimaduras, tremores do coração, bebês abaixo do peso. Mamãe as dispensou com um gesto e seguiu em frente. Dava a impressão, enquanto ela se apressava na própria casa, de uma celebridade num restaurante lotado tentando não ser reconhecida. A escrivaninha de meu pai era do tamanho de um carro, estacionada no meio do caos. Ele estava ao telefone, equilibrando-o entre o rosto e a orelha para não escorregar de suas mãos cerosas. – Os médicos não conseguem curar a diabetes dele – falava, muito alto. – Mas o Senhor consegue! Olhei de esguelha para Drew, que estava sorrindo. Papai desligou e se virou para nós. Cumprimentou Drew com um sorriso largo. Irradiava energia, alimentando a balbúrdia geral da casa. Drew disse estar impressionado com o negócio, e papai cresceu um palmo. – Fomos abençoados por fazer o trabalho do Senhor – respondeu. O telefone tocou de novo. Havia pelo menos três empregadas encarregadas de atender, mas papai pulou para o aparelho, como se estivesse à espera de uma ligação importante. Eu nunca o vira tão cheio de vida. – O poder de Deus na Terra! – ele gritou ao telefone. – É isso que os óleos são: a farmácia de Deus! O barulho na casa desorientava, então levei Drew à montanha. Caminhamos pelos campos de trigo-selvagem e de lá seguimos para a franja de pinheiros na base da
montanha. As cores do outono eram acalentadoras, e ficamos olhando para o vale tranquilo. Era fim de tarde quando retornamos a casa, e Drew foi para Salt Lake City. Entrei na capela pela porta francesa e fiquei surpresa com o silêncio. Estava vazia, todos os telefones desconectados, todas as mesas de trabalho abandonadas. Mamãe estava sentada no meio do salão. – Ligaram do hospital – ela disse. – Vovó se foi.
Papai perdeu o apetite pelo negócio. Passou a se levantar da cama cada vez mais tarde e somente para insultar e acusar. Gritava com Shawn sobre o ferro-velho e passava sermões em mamãe sobre a administração das empregadas. Respondeu mal a Audrey quando ela tentou fazê-lo almoçar e berrou comigo por estar digitando muito alto. Era como se ele quisesse brigar e se punir pela morte da mãe. Ou talvez a punição fosse pela vida dela, pelo conflito que havia entre eles e só terminou quando ela morreu. Lentamente, a casa se encheu de novo. Os telefones foram religados e as mulheres se materializaram para atender. A escrivaninha de papai permaneceu vazia. Ele passava os dias na cama, olhando para o teto de estuque. Eu lhe levava o jantar, como fazia quando era criança, e me perguntava, como faço agora, se ele sabia que eu estava lá. Mamãe se movia pela casa com a vitalidade de dez pessoas, misturando tinturas e óleos essenciais, dando ordens às empregadas enquanto tomava providências para o funeral e cozinhava para todos os primos e tias que apareciam sem avisar, para conversar sobre vovó. A todo momento, eu a encontrava de avental, fazendo um assado com um telefone em cada mão, num um cliente e noutro
um tio ou amigo que ligava para dar condolências. Em meio a tudo isso, papai continuava na cama. Papai falou no funeral. Seu discurso foi um sermão de vinte minutos sobre as promessas de Deus a Abraão. Mencionou vovó duas vezes. Para estranhos, deve ter parecido que ele nem fora afetado pela perda da mãe, mas nós, que o conhecíamos melhor, víamos sua devastação. Quando chegamos em casa após o funeral, papai se enfureceu porque o almoço não estava pronto. Mamãe correu a servir o cozido que deixara em fogo baixo, mas após a refeição papai ficou igualmente frustrado por causa dos pratos, que mamãe lavou depressa, e depois pelos netos, que brincavam fazendo barulho enquanto mamãe vinha correndo para fazê-los calar. Naquela noite, quando a casa ficou vazia e quieta, fiquei na sala ouvindo meus pais brigarem na cozinha. – O mínimo que você podia fazer era escrever esses cartões agradecendo os pêsames – ela disse. – Afinal, era a sua mãe. – Isso é trabalho da mulher. Eu nunca ouvi falar de um homem escrevendo cartões. Ele falou justamente a coisa errada. Por dez anos, mamãe vinha sendo o principal ganha-pão da família, e continuava cozinhando, limpando a casa, lavando a roupa, e jamais a havia visto expressar nada parecido com ressentimento. Até aquele dia. – Então você deveria fazer o trabalho de marido – ela disse, levantando a voz. Logo os dois estavam gritando. Papai tentava dominá-la, subjugá-la com um show de raiva, como sempre fizera, mas isso a deixava cada vez mais obstinada. Por fim, ela pôs as cartas na mesa, dizendo:
– Pode escrever ou não. Mas, se você não escrever, ninguém vai. E saiu lá para baixo. Papai a seguiu, e durante uma hora os gritos deles subiam, atravessando o chão. Eu nunca tinha ouvido meus pais gritarem daquele jeito. Minha mãe, pelo menos, não. Nunca a havia visto se recusar a ceder. Na manhã seguinte, achei papai na cozinha jogando farinha numa substância grudenta que supus ser massa de panqueca. Ao me ver, largou a farinha e se sentou à mesa. – Você é mulher, né? – ele disse. – Bem, isso aqui é a cozinha. Nós nos encaramos, e pensei na distância que tinha surgido entre nós. Como aquelas palavras soavam tão naturais aos ouvidos dele e irritavam os meus. Não era normal mamãe deixar papai fazer o próprio café da manhã. Achei que ela podia estar doente e desci para ver. Chegando ao térreo, ouvi altos soluços vindo do banheiro, mal abafados pelo ruído do secador de cabelos. Do lado de fora da porta, fiquei escutando por mais de um minuto, paralisada. Será que ela queria que eu saísse dali, fingindo que não ouvira? Esperei que ela tomasse fôlego, mas os soluços eram cada vez mais desesperados. Bati à porta. “Sou eu.” A porta se abriu, só uma fresta, depois um pouco mais e vi minha mãe com a pele brilhando depois do banho, enrolada numa toalha pequena demais para ela. Eu nunca tinha visto minha mãe assim, e instintivamente fechei os olhos. O mundo escureceu. Ouvi um baque, plástico se quebrando, e abri os olhos. Mamãe tinha deixado cair o secador no chão e ele quicava no concreto, redobrando o ruído. Olhei para ela, que me puxou e me abraçou. A umidade de seu corpo penetrou em minha roupa, e senti gotas do cabelo dela caírem em meu ombro.
Capítulo 33
Feitiço da física
Não
fiquei muito tempo em Buck’s Peak, talvez uma semana. No dia em que deixei a montanha, Audrey me pediu para não ir embora. Não tenho lembrança da conversa, mas me recordo de ter anotado no diário. Escrevi na primeira noite de volta a Cambridge, sentada numa ponte de pedra, de frente para a King’s College Chapel. Lembro-me do rio, que era calmo, e do lento flutuar das folhas de outono em seu espelho d’água. Recordo-me do raspar da caneta no papel, contando em detalhes, em oito páginas inteiras, exatamente o que minha irmã tinha me dito. Mas a lembrança do que ela falou se foi, como se eu tivesse escrito para poder esquecer. Audrey me pediu para ficar. Disse que Shawn era muito forte, persuasivo demais, para ela enfrentar sozinha. Falei que ela não estava sozinha, tinha mamãe. Audrey disse que eu não entendia. Afinal, ninguém havia acreditado em nós. Se pedisse ajuda a papai, ele certamente chamaria a nós duas de mentirosas. Falei que nossos pais tinham mudado e deveríamos confiar neles. Então embarquei num avião que me levou para oito mil quilômetros de distância.
Se me senti culpada por estar documentando os medos de minha irmã a uma distância tão segura, cercada de grandiosas bibliotecas e capelas antigas, dei apenas uma indicação disso, na última linha que escrevi naquela noite: Cambridge está menos linda nesta noite.
Drew veio comigo para Cambridge, pois fora admitido num programa de estudos avançados sobre o Oriente Médio. Contei a ele minha conversa com Audrey. Ele foi o primeiro namorado em quem confiei para falar sobre minha família – confiei mesmo, falei a verdade e não apenas anedotas divertidas. Claro que tudo isso está no passado, eu disse. Agora minha família está diferente. Mas é bom você saber. Assim pode tomar conta de mim. Caso eu faça alguma coisa maluca. O primeiro período passou numa enfiada de jantares e festas até tarde, pontuado por ainda mais noites até tarde na biblioteca. Para obter o doutorado eu precisava fazer um trabalho original de pesquisa acadêmica. Em outras palavras, depois de passar cinco anos lendo história, agora eu precisava escrever. Mas escrever o quê? Lendo minha dissertação de mestrado, fiquei surpresa ao descobrir ecos de teologia mórmon nos grandes filósofos do século XIX. Comentei isso com David Runciman, meu supervisor. – É esse seu projeto de pesquisa – ele disse. – Você pode fazer o que ninguém ainda fez. Pode analisar o mormonismo não só como um movimento religioso, mas também intelectual. Comecei a reler as cartas de Joseph Smith e Brigham Young. Quando criança, eu havia lido essas cartas como um ato de adoração. Agora lia com um olhar diferente, não
crítico, nem de um discípulo. Examinei a poligamia, não como uma doutrina, mas como uma política social. Comparei-a com os próprios objetivos e com outros movimentos e teorias do mesmo período. Foi um ato radical. Meus amigos em Cambridge haviam se tornado uma espécie de família, e eu tinha com eles uma sensação de pertencimento que, durante muitos anos, estivera ausente em Buck’s Peak. Às vezes me censurava por esse sentimento. Nenhuma irmã natural deveria amar mais a um estranho do que a seu irmão, eu pensava, e que tipo de filha prefere um professor a seu pai? Mas apesar de desejar que fosse diferente, eu não queria ir para casa. Preferia a família que eu tinha escolhido à que me fora dada, e assim, quanto mais feliz me sentia em Cambridge, mais a felicidade era infectada pelo sentimento de ter traído Buck’s Peak. Esse sentimento tornou-se uma parte física, algo cujo gosto eu sentia na língua e o cheiro em meu hálito. Comprei uma passagem para ir a Idaho no Natal. Na véspera do voo houve um banquete na faculdade. Um amigo meu havia formado um coro de câmara para entoar canções natalinas durante o jantar. Tinham passado semanas ensaiando, mas no dia do banquete a soprano adoeceu com bronquite. O telefone tocou no fim da tarde. Era meu amigo. – Por favor, diga que conhece alguém que saiba cantar – ele disse. Eu não cantava havia anos, e nunca sem meu pai assistindo, mas poucas horas depois eu estava no balcão do coro, perto do teto, acima da enorme árvore de Natal que dominava o salão. Adorei aquele momento, sentindo o prazer da leveza da música novamente flutuando ao sair do meu peito, e imaginando se papai, caso estivesse aqui, iria
enfrentar a universidade com todo seu socialismo para me ouvir cantar. Acho que iria.
Buck’s
Peak era o mesmo de sempre. A Princesa estava enterrada na neve, mas dava para ver bem os contornos de suas pernas. Mamãe estava na cozinha quando cheguei, mexendo um ensopado com uma das mãos e segurando o telefone com a outra, explicando as propriedades da agripalma. A escrivaninha de papai continuava vazia. Mamãe disse que ele estava de cama, no porão. Tinha pegado alguma coisa de pulmão. Uma figura robusta entrou devagar pela porta dos fundos. Levei muitos segundos até reconhecer meu irmão. A barba de Luke estava tão espessa que ele parecia um de seus bodes. Seu olho esquerdo, branco e parado. Havia levado um tiro de arma de paintball alguns meses antes. Ele atravessou a cozinha, me deu um tapinha nas costas e fiquei olhando para seu olho remanescente, procurando alguma coisa familiar. Mas só quando vi a cicatriz saltada em seu braço, o V em curva de cinco centímetros de largura onde a Cisalha tinha mordido a carne, é que tive certeza de que era meu irmão.[10] Ele me contou que estava morando com a esposa e um bando de filhos numa casa-trailer atrás do celeiro, ganhando a vida trabalhando com equipamentos de extração de petróleo em Dakota do Norte. Dois dias se passaram. Papai subia todas as noites e se acomodava no sofá da capela, onde ficava tossindo, vendo TV ou lendo o Velho Testamento. Passei os dias estudando ou ajudando mamãe. Na terceira noite, eu estava lendo à mesa da cozinha quando Shawn e Benjamin entraram pela porta dos fundos. Benjamin vinha dizendo a Shawn que tinha dado um soco
num sujeito por causa de uma leve batida de para-choques na cidade. Contou que antes de descer do caminhão para confrontar o outro motorista havia enfiado o revólver no cinto do jeans. – O cara não sabia no que estava se metendo – Benjamin disse rindo. – Só um idiota leva o revólver para uma besteira dessas – disse Shawn. – Eu não ia usar – Benjamin resmungou. – Então não leve a arma. Assim você sabe que não vai usar. Se você leva, pode usar. É assim que são as coisas. Uma briga pode virar um tiroteio muito rápido. Shawn falava calmamente, refletidamente. Seu cabelo louro estava sujo e comprido, crescendo sem corte, e o rosto se encontrava coberto de toquinhos de barba cor de xisto. Seus olhos brilhavam sob o óleo e a sujeira, flamas de azul em nuvens de cinza. A expressão, assim como suas palavras, parecia a de um homem muito mais velho, um homem cujo sangue quente havia esfriado e que estava em paz. Shawn se virou para mim. Eu o estava evitando, mas de repente me pareceu injusto. Ele tinha mudado, era cruel fingir que eu não via. Perguntou se eu queria dar uma volta de carro, e aceitei. Shawn desejava tomar sorvete, e tomamos milk-shakes. A conversa foi calma, confortável, como era anos antes, nas tardes empoeiradas no curral. Falou sobre a supervisão da equipe sem papai, sobre os pulmões fracos de Peter, as cirurgias, os tubos de oxigênio que ele ainda precisava à noite. Já perto de casa, a pouco mais de um quilômetro do Buck’s Peak, Shawn deu um golpe de direção e o carro deslizou no gelo. Ele acelerou, o carro rodou e pulou para a estrada lateral.
– Aonde estamos indo? – perguntei, mas a estrada só levava a um lugar. A igreja estava escura, o estacionamento deserto. Shawn circulou o pátio e parou perto da entrada principal. Desligou a ignição e os faróis se apagaram. Eu mal vislumbrava a silhueta de seu rosto no escuro. – Você fala muito com Audrey? – ele perguntou. – Não muito. Ele pareceu relaxar, e falou: – Audrey é uma bostinha mentirosa. Olhei para o outro lado, fixando a torre da igreja, visível contra a luz das estrelas. – Eu queria enfiar uma bala na cabeça dela – Shawn disse, e senti seu corpo se virar para mim. – Mas não vou gastar uma bala boa numa puta vagabunda. Era crucial não olhar para ele. Enquanto mantive o olhar na torre, quase acreditei que ele não poderia me tocar. Quase. Porque mesmo enquanto me agarrava a essa convicção eu esperava sentir suas mãos em meu pescoço. Eu sabia que iria senti-las, e logo, mas não ousei fazer nada que quebrasse o feitiço da espera. Naquele momento, parte de mim acreditava, como sempre acreditara, que seria eu quem quebraria o feitiço, que causaria a quebra. Quando a quietude fosse abalada e a fúria dele caísse sobre mim, eu já sabia que algo que eu tinha feito teria sido o catalisador, a causa. Há uma esperança nessa superstição, há uma ilusão de controle. Fiquei imóvel, sem pensamento nem movimento. Barulho de ignição, o motor voltou à vida. O ar morno entrou pelos respiros do painel. – Está a fim de um filme? – Shawn perguntou. Sua voz era casual. Olhei o mundo se revolvendo lá fora quando o carro
girou e deu uma guinada de volta para a rodovia. – Um filme cairia bem – ele disse. Não disse nada, sem querer falar nem me mover, não fosse estragar o feitiço da física que eu ainda acreditava que tinha me salvado. Shawn parecia não notar meu silêncio. Dirigiu o último quilômetro até Buck’s Peak falando animadamente, quase brincalhão, sobre assistir a O homem que sabia de menos ou não. 10 Lembro-me dessa cicatriz com Luke trabalhando na Cisalha; contudo, pode ter sido de algum acidente no telhado.
Capítulo 34
A substância das coisas
Eu
não me sentia particularmente corajosa ao me aproximar de papai naquela noite na capela. Era uma missão de reconhecimento. Eu ia lá para transmitir informação, dizer que Shawn tinha ameaçado Audrey, porque papai saberia o que fazer. Ou talvez estivesse calma porque na verdade eu não estava ali. Talvez eu estivesse do outro lado do oceano, em outro continente, lendo Hume sob um arco de pedra. Talvez apressada no King’s College com um exemplar do Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens debaixo do braço. – Pai, preciso lhe contar uma coisa. Falei que Shawn tinha feito uma piada sobre dar um tiro em Audrey e eu achava que era porque ela o havia confrontado por causa do comportamento dele. Papai me encarou, e a pele onde seus lábios estiveram antigamente se apertou. Gritou chamando mamãe. Ela apareceu, com expressão sombria. Não entendi por que ela não me olhava nos olhos. – O que você está dizendo exatamente? – papai disse.
A partir daí foi um interrogatório. Cada vez que eu sugeria que Shawn era violento ou manipulador de alguma forma, papai gritava: – Cadê a prova? Você tem provas? – Tenho diários. – Vá pegar, vou ler seus diários. – Não estão comigo. Era mentira; estavam debaixo da minha cama. – O que diabos eu posso pensar se você não tem provas? Papai continuava gritando. Mamãe sentou na beira do sofá, a boca aberta, repuxada. Parecia agoniada. – Eu não preciso provar – falei baixo. – Você viu. Vocês dois viram. Papai disse que eu só seria feliz se visse Shawn apodrecendo na cadeia, que eu tinha vindo de Cambridge só para armar confusão. Eu não queria Shawn na cadeia, mas era preciso algum tipo de intervenção. Me voltei para mamãe, esperando que juntasse sua voz à minha, mas ela ficou calada. Seus olhos estavam fixos no chão, como se papai e eu não estivéssemos ali. A certa altura entendi que ela não iria falar, só ficar sentada ali sem dizer nada, e eu estava sozinha. Tentei acalmar papai, mas minha voz tremeu, falhou. E então eu estava chorando, soluços vinham de algum lugar, uma parte de mim que eu não sentia havia anos, que tinha esquecido que existia. Achei que ia vomitar. Corri para o banheiro. Tremia da cabeça aos pés. Precisava estrangular rapidamente aqueles soluços ou papai nunca me levaria a sério. Então parei de chorar, usando o velho método: olhando meu rosto no espelho e me repreendendo a cada lágrima. Era um processo tão conhecido que abalou a ilusão que eu tinha construído tão
cuidadosamente no ano passado. O passado falso, o futuro falso, ambos se foram. Encarei o reflexo. O espelho era hipnótico, com sua tripla face de painéis emoldurados de carvalho falso. Era o mesmo espelho em que me olhava quando criança, quando mocinha, e depois jovem, meio mulher, meio menina. Atrás de mim estava o mesmo vaso sanitário em que Shawn enfiara minha cabeça, mantendo-a lá até eu confessar que era uma puta. Muitas vezes me tranquei naquele banheiro depois que Shawn me soltava. Movia os painéis até mostrarem meu rosto três vezes, e olhava para cada um pensando no que Shawn tinha falado e no que ele me fizera falar, até que tudo começava a ser a verdade, e não algo que eu disse só para parar a dor. E aqui estava eu parada e o espelho. Era o mesmo rosto repetido nos mesmos três painéis. Só que não era. Esse rosto era mais velho e pairava acima de um macio suéter de cashmere. Mas o dr. Kerry tinha razão. Não era a roupa que tornava esse rosto, essa mulher, diferente. Era alguma coisa por trás dos olhos, algo na postura do maxilar, uma esperança ou convicção de que a vida não é inalterável. Não tenho uma palavra para definir o que vi, mas acho que era algo como fé. Recuperei um frágil senso de calma e saí do banheiro carregando essa calma delicadamente, como se estivesse equilibrando um prato de porcelana na cabeça. Atravessei o hall andando devagar, a passos curtos e regulares. – Vou dormir – eu disse quando cheguei à capela. – Amanhã falamos sobre isso. Papai estava sentado à escrivaninha, com um telefone na mão esquerda. – Vamos falar sobre isso agora. Contei a Shawn o que você disse. Ele está vindo para cá.
Pensei em fugir. Daria tempo de pegar meu carro antes de Shawn chegar na casa? Onde estavam as chaves? Preciso do laptop, pensei, a pesquisa. Deixe aí, a menina no espelho disse. Papai me mandou sentar, obedeci. Não sei quanto tempo fiquei esperando, paralisada pela indecisão, mas ainda pensando se daria tempo de fugir, quando a porta francesa se abriu e Shawn entrou. De repente a enorme sala ficou pequena. Olhei para minhas mãos. Não consegui levantar os olhos. Ouvi passos. Shawn havia atravessado a sala e se sentado ao meu lado no sofá. Esperou que eu olhasse para ele, e vendo que não olhei, pegou minha mão. Gentilmente, como se desfolhasse as pétalas de uma rosa, ele abriu meus dedos e enfiou algo em minha mão. Senti o frio da lâmina antes de olhar, e percebi o sangue antes de ver o fio vermelho manchando a palma da mão. A faca era pequena, 12 ou 15 centímetros, e muito fina. A lâmina brilhava em carmim. Juntei o polegar e o indicador, levei ao nariz e cheirei. Metálico. Era sangue, sem dúvida. Não meu, ele só tinha me dado a faca, mas então de quem? – Se você for esperta, Nais Mova – Shawn disse –, vai usar isso em você mesma. Porque será melhor do que o que eu vou fazer com você, se você recusar. – Isso não é necessário – mamãe disse. Boquiaberta, olhei para mamãe e depois para Shawn. Devo ter parecido uma idiota, mas não conseguia entender bem o que estava acontecendo, para poder reagir. Meio que pensei em voltar ao banheiro, passar através do espelho e mandar sair a outra, a de 16 anos. Ela daria conta disso, pensei. Não teria o medo que eu tinha. Não estaria ferida como eu estava. Ela era feita de pedra, não de carne tenra.
Eu ainda não entendia que o fato de ser tenra – de ter vivido alguns anos de uma vida que permitia alguma ternura – é que iria, enfim, me salvar. Olhei para a lâmina. Papai começou um sermão, fazendo pausas para mamãe ratificar suas observações. Ouvi vozes, entre elas a minha voz, cantando em harmonia num salão antigo. Escutei risos, ouvi o despejar do vinho no copo, o tilintar de facas com manteiga tocando na louça. Escutei muito pouco do sermão de meu pai, mas me lembro exatamente, como se estivesse acontecendo agora, de ser transportada sobre um oceano, apenas três dias atrás, de volta à noite em que cantei com meus amigos no coro de câmara. “Devo ter adormecido”, pensei. “Muito vinho. Muito peru de Natal.” Tendo decidido que estava sonhando, fiz o que se faz nos sonhos: tentei entender e usar as regras dessa insólita realidade. Argumentei com as estranhas sombras que personificavam minha família e, quando a argumentação falhou, menti. Os impostores tinham sido a realidade. Agora era a minha vez. Disse a Shawn que eu não havia falado nada com papai. Disse coisas como “Não sei de onde papai tirou essa ideia” e “Papai não deve ter ouvido bem o que eu disse”, na esperança de que, uma vez rejeitada, a faculdade de percepção deles iria simplesmente se dissipar. Uma hora depois, nós quatro ainda sentados nos sofás, finalmente aceitei a persistência física deles. Eles estavam lá, e eu também. O sangue em minha mão tinha secado. A faca estava caída no tapete, esquecida por todos, a não ser por mim. Tentei não ficar olhando para ela. De quem era o sangue? Olhei meu irmão. Ele não tinha se cortado. Papai havia começado um novo sermão, e dessa vez eu estava presente para ouvir. Disse que meninas devem
aprender a ter um comportamento apropriado perto de homens, a fim de não serem convidativas. Ele observara hábitos indecentes nas filhas de minha irmã, cuja mais velha tinha 6 anos. Shawn estava calmo. Havia se esgotado ao longo da ladainha de papai. Mais que isso, sentia-se protegido, justificado, e quando o sermão acabou, ele me disse: – Não sei o que você falou com papai hoje, mas basta olhar para você para saber que eu a magoei. Desculpe. Nos abraçamos. Rimos como sempre fazíamos depois de uma briga. Sorri para ele como sempre fazia, como ela teria sorrido. Mas ela não estava lá, e o sorriso era falso.
Fui
para meu quarto, tranquei-o com o ferrolho, silenciosamente, e liguei para Drew. Eu estava quase ininteligível de tanto pânico, mas ele acabou entendendo. Falou que eu tinha que sair de lá imediatamente, ele me encontraria no meio do caminho. Não posso, eu disse. Agora tudo está calmo. Se eu tentar fugir no meio da noite, nem sei o que pode acontecer. Deitei na cama, mas não para dormir. Esperei até as seis da manhã, e encontrei mamãe na cozinha. Eu estava com o carro de Drew e disse à mamãe que tinha havido um imprevisto e Drew precisava do carro em Salt Lake. Eu estaria de volta em um ou dois dias. Pouco depois eu estava descendo o morro. Já avistando a rodovia, vi algo e parei. Era o trailer em que Shawn morava com Emily e Peter. A pouca distância da porta do trailer a neve estava manchada de sangue. Algo tinha morrido ali. Mais tarde eu soube por mamãe que foi Diego, um pastor-alemão que Shawn tinha comprado uns anos antes. Era um cachorro de estimação, muito amado por Peter.
Depois que papai telefonou, Shawn havia saído e esfaqueado o cão até à morte enquanto seu filho pequeno, ali pertinho, ouvia os ganidos. Mamãe disse que a execução nada tivera a ver comigo, que ele o tinha matado porque Diego estava comendo as galinhas de Luke. Foi uma coincidência, ela disse. Quis crer, mas não acreditei. Diego vinha matando as galinhas de Luke havia mais de um ano. Além disso, Diego era raça pura. Shawn pagou quinhentos dólares por ele. Podia tê-lo vendido. Mas a verdadeira razão para não acreditar foi a faca. Ao longo dos anos, vi meu pai e meus irmãos sacrificarem dezenas de cachorros, vira-latas na maioria, que viviam invadindo o galinheiro. Nunca vi ninguém matar um cachorro a facadas. Dávamos um tiro na cabeça ou no coração, e a morte era rápida. Shawn escolheu uma faca cuja lâmina era pouco maior que o polegar dele. Era apropriada para uma carnificina, para sentir o sangue escorrendo pela mão quando o coração parasse de bater. Não era uma faca de fazendeiro, nem mesmo de açougueiro. E sim de fúria.
Não sei o que aconteceu nos dias que se seguiram. Ainda hoje, quando revejo os componentes do confronto – a ameaça, a negação, o sermão, as desculpas –, é difícil concatená-los. Semanas depois, quando refleti sobre tudo aquilo, parecia que eu tinha cometido mil erros, enfiado mil facas no coração da minha própria família. Só mais tarde me ocorreu que o dano causado naquela noite talvez não tivesse sido causado somente por mim. E mais de um ano se passou até eu entender o que sempre esteve aparente: que minha mãe não havia enfrentado meu pai, e que meu
pai não havia enfrentado Shawn. Papai nunca prometera ajudar a mim e a Audrey. Mamãe tinha mentido. Agora, quando penso nas palavras de mamãe, lembrando que apareciam como mágica na tela do computador, um detalhe se destaca: minha mãe tinha descrito papai como bipolar. Era exatamente o transtorno de que eu suspeitava. A palavra era minha, não dela. Então penso que, talvez, minha mãe, que sempre refletiu com tanta perfeição a vontade de meu pai, naquela ocasião podia estar meramente refletindo a minha. Não, digo a mim mesma. Eram palavras dela. Mas, dela ou não, essas palavras, que tanto tinham me confortado e servido para me curar, eram vazias. Não creio que fossem desonestas, mas não havia sinceridade para lhes conferir substância, e elas foram varridas por outras correntes, mais fortes.
Capítulo 35
A oeste do sol
Fugi
da montanha com metade da bagagem e não recuperei nada do que deixei para trás. Fui para Salt Lake e passei o resto do fim de ano com Drew. Tentei esquecer aquela noite. Pela primeira vez em 15 anos, fechei meu diário e o guardei. Escrever num diário sempre inclui reflexão, e eu não queria refletir sobre nada. Depois do Ano-novo voltei a Cambridge, mas evitei meus amigos. Eu tinha visto a terra tremer, sentido o choque preliminar, e aguardava o abalo sísmico que transformaria a paisagem. Eu sabia como iria começar. Shawn pensaria sobre o que papai tinha dito a ele por telefone e, cedo ou tarde, entenderia que minha negação, minha afirmação de que papai havia entendido mal, era mentira. Ao compreender a verdade, ele ficaria se desprezando por uma hora, talvez. Depois iria transferir o ódio para mim. Foi no começo de março que aconteceu. Shawn me enviou um e-mail. Não continha saudações nem qualquer mensagem dele. Era só um capítulo da Bíblia, de Mateus, com um único versículo em negrito: “Ah, geração de víboras, como podeis, sendo o mal, falar boas coisas?” Meu sangue gelou.
Shawn ligou uma hora depois. Seu tom era casual, e falamos vinte minutos sobre Peter, como seus pulmões estavam se desenvolvendo. Depois ele disse: – Eu preciso tomar uma decisão e quero seu conselho. – Claro. – Não consigo decidir. – Ele fez uma pausa e achei que tinha caído a ligação. – Se eu mesmo mato você ou se contrato um assassino. – Houve um silêncio preenchido por estática. – Pode ser mais barato contratar um assassino, levando em conta o preço da passagem. Fingi que não entendi, mas isso só o tornou mais agressivo. Começou a vociferar insultos, ameaçador. Tentei acalmá-lo, mas não adiantava. Até que enfim estávamos vendo um ao outro. Desliguei na cara dele, mas ele ligou de novo, e de novo, e de novo, repetindo a mesma coisa, que eu ficasse atenta, que um assassino viria me pegar. Telefonei para meus pais. – Ele não falou a sério – mamãe disse. – De qualquer forma, ele nem tem dinheiro para isso. – Não é essa a questão – falei. Papai queria provas. – Você não gravou a ligação? Como vou acreditar que ele falou a sério? – Parecia sério quando me ameaçou com a faca ensanguentada. – Ah, aquilo não foi a sério. – Não é essa a questão – tornei a falar. Os telefonemas pararam, mas não porque meus pais fizeram alguma coisa. Pararam quando Shawn me cortou da vida dele. Escreveu dizendo para ficar longe de sua esposa e filho e dele também. O e-mail era longo, umas mil palavras de acusação e amargor, mas no fim o tom era pesaroso. Disse que amava os irmãos, que eram os
melhores homens que conhecia. “Amei você mais do que a todos”, ele escreveu, “mas você tinha uma faca nas minhas costas o tempo todo.” Havia anos que eu não tinha um relacionamento com meu irmão, mas a perda dessa convivência, ainda que prevista meses antes, me chocou. Meus pais disseram que ele tinha justificativa para cortar relações. Papai falou que eu era histérica, que havia feito acusações impensadas quando era óbvio que minha memória não era confiável. Mamãe disse que minha fúria era uma verdadeira ameaça e que Shawn tinha razão em proteger a família dele. – Sua raiva naquela noite – ela disse ao telefone, se referindo à noite em que Shawn matou Diego – era duas vezes mais perigosa do que Shawn jamais foi. A realidade se tornou fluida. O chão se abriu sob meus pés, me arrastando para baixo, num torvelinho, como areia escorrendo rápida por um buraco no fundo do universo. Quando nos falamos de novo, mamãe disse que a faca nunca tinha sido uma ameaça. – Shawn estava tentando deixar você mais confortável. Ele sabia que você ficaria assustada se ele estivesse com a faca, então a deu para você. Uma semana depois, ela disse que não teve faca nenhuma. – Falando com você – ela disse –, a sua realidade é tão distorcida. É como falar com alguém que nem estava lá. Concordei. Foi exatamente isso.
Recebi
uma bolsa para estudar em Paris naquele verão. Drew foi comigo. Nosso apartamento era no 6º arrondissement, perto do Jardim de Luxemburgo. Minha vida
lá era totalmente nova e tão perto de um clichê quanto eu podia imaginar. Eu era atraída para aqueles lugares onde se encontrava a maioria dos turistas e podia me meter no meio deles. Era uma forma agitada de esquecer, e passei o verão em busca disso, de me perder nos bandos de viajantes, podendo me livrar de toda personalidade e caráter, de toda história. Quanto mais banal o programa, mais me atraía. Estava em Paris havia muitas semanas quando, certa tarde, voltando de uma aula de francês, entrei num café para checar meu e-mail. Havia uma mensagem de minha irmã. Meu pai tinha ido visitá-la. Isso entendi logo, mas precisei ler muitas vezes a mensagem para entender exatamente o que havia acontecido. Nosso pai deu a ela o testemunho de que Shawn fora purgado pela Expiação de Cristo, e agora era um novo homem. Papai advertiu Audrey de que, se ela de alguma forma voltasse a mencionar o passado, iria destruir nossa família inteira. Era a vontade de Deus que Audrey e eu perdoássemos a Shawn. Senão, nosso pecado seria o maior. Pude imaginar facilmente esse encontro, a seriedade de meu pai diante de minha irmã, a reverência e o poder em suas mãos. Audrey disse a papai que aceitara o poder da Expiação havia muito tempo, e perdoado ao irmão. Que eu a tinha provocado, incitado a raiva nela. Que eu a havia traído porque tinha me entregado ao medo, ao reino de Satanás, em vez de caminhar na fé com Deus. Eu era perigosa porque era dominada por esse medo e pelo Pai do Medo, Lúcifer. Assim minha irmã terminou a carta, dizendo que eu não era bem-vinda à casa dela, que nem mesmo lhe telefonasse, a não ser que houvesse alguém mais na linha
para supervisionar, a fim de que ela não sucumbisse à minha influência. Quando li isso, dei uma gargalhada. A situação era perversa, mas não sem ironia. Meses antes, Audrey disse que Shawn precisava ser vigiado quando estivesse com crianças. Agora, depois de nossos esforços, quem precisava ser vigiada era eu.
Quando perdi minha irmã, perdi minha família. Eu sabia que meu pai iria visitar meus irmãos também, com a mesma conversa. Será que iriam acreditar nele? Achei que sim. Afinal, Audrey iria confirmar. Minhas negativas seriam inócuas, as impertinências de uma estranha. Eu havia ido para muito longe, mudado demais, tinha muito pouca semelhança com a menina de joelhos esfolados de que se lembravam como irmã. Havia pouca esperança de suplantar a história que meu pai e minha irmã estavam criando para mim. A narrativa deles atingiu primeiro meus irmãos, depois se espalhou por minhas tias, tios, primos e o vale inteiro. Eu tinha perdido todos os meus parentes, e para quê? Foi nesse estado de espírito que recebi outra carta. Tinha sido aceita para uma bolsa de estudos em Harvard. Acho que nunca recebi uma notícia com mais indiferença. Deveria estar embriagada de gratidão, porque eu, a menina ignorante que se arrastara para fora de um monte de sucata, agora tinha permissão para estudar ali, mas não conseguia invocar esse fervor. Havia começado a ter ideia de quanto a educação iria me custar, e tive um certo ressentimento.
Depois
que li a carta de Audrey, o passado mudou. Começou com minhas lembranças sobre ela. Haviam se transformado. Quando recordava qualquer parte de nossa infância juntas, momentos de ternura ou humor, da menina que eu e ela fôramos, minha lembrança mudava imediatamente, manchava, apodrecia. O passado se tornou tão medonho quanto o presente. A mudança se repetiu com cada membro da família. Minhas lembranças deles ficaram agourentas, acusadoras. A menina entre eles, que tinha sido eu, deixou de ser criança e virou outra coisa, algo ameaçador e cruel, alguma coisa que os consumia. A criança-monstro me perseguiu por um mês até que encontrei a lógica para expulsá-la: que eu também era louca. Se eu fosse louca, tudo poderia vir a fazer sentido. Se eu fosse sã, nada faria sentido. Essa lógica parecia ser maldita. Era também um alívio. Eu não era do mal; era um caso clínico. Passei a ceder sempre ao julgamento dos outros. Se Drew se recordava de alguma coisa diferente do que eu lembrava, eu cedia imediatamente. Passei a confiar em Drew para me relatar os fatos de nossa vida. Tinha prazer em duvidar de mim mesma, se havia visto um amigo na semana passada ou na anterior, se nossa crêperie favorita era ao lado da biblioteca ou do museu. Questionar essas trivialidades e minha capacidade de apreendê-las me permitia duvidar de que tivesse mesmo acontecido qualquer coisa de que me lembrasse. Meus diários eram um problema. Eu sabia que minhas recordações não eram reles lembranças, sabia que as tinha registrado, que existiam preto no branco. Isso significava que não só minha memória estava enganada. A ilusão era
mais profunda, no âmago da minha mente, dizendo que eu tinha inventado no momento mesmo da ocorrência e registrado a ficção. No mês seguinte, vivi como uma demente. Vendo o sol brilhando, eu suspeitava que era chuva. Sentia um desejo incessante de pedir às pessoas para confirmar se estavam vendo o que eu via. Queria perguntar: esse livro é azul? Aquele homem é alto? Às vezes esse ceticismo tomava a forma de uma certeza inflexível. Em certos dias, quanto mais eu duvidava de minha própria sanidade, mais violentamente eu defendia minhas lembranças, minha “verdade” como a única possível. Shawn era violento, perigoso, e meu pai o protegia. Eu não suportava escutar outra opinião sobre o assunto. Nesses momentos, eu procurava febrilmente um motivo para pensar que não estava louca. Evidências. Ansiava por elas como se fosse para sobreviver. Escrevi para Erin, a moça que Shawn namorou antes e depois de Sadie, e a quem eu não via desde os 16 anos. Contei a ela o que eu lembrava e perguntei, diretamente, se eu estava insana. Ela respondeu imediatamente que não. Para aumentar minha confiança em mim, ela compartilhou as recordações dela, de Shawn gritando que ela era uma puta. Minha cabeça deu um nó diante da palavra. Eu não havia dito a ela que aquela era a minha palavra. Erin me contou outra história. Uma vez que ela contradisse Shawn – só um pouco, ela se justificou, como se fosse o caráter dela que estivesse em julgamento –, ele a arrancou fora de casa e bateu com a cabeça dela numa parede de tijolos com tanta força que ela achou que ele fosse matá-la. As mãos dele se fecharam em torno da garganta dela. “Eu tive sorte”, ela escreveu. “Eu tinha
gritado antes que ele começasse a me estrangular, meu avô escutou e chegou a tempo. Mas eu sei o que vi nos olhos dele.” A carta dela foi como um corrimão fincado na realidade, que eu podia agarrar quando minha mente começasse a rodar. Isto é, até me ocorrer que Erin poderia ser tão louca quanto eu. Ela estava sequelada, obviamente, eu disse a mim mesma. Como confiar no relato dela depois do que tinha sofrido? Não podia dar crédito a essa mulher porque eu, logo eu, sabia muito bem como a dor psicológica era prejudicial. Então continuei procurando testemunho de outra fonte. Quatro anos depois, por puro acaso, encontrei. Viajando a Utah para fazer pesquisa, conheci um jovem que estremeceu ao ouvir meu sobrenome. – Westover – ele disse, fechando a cara. – Algum parentesco com Shawn? – Meu irmão. – Bem, a última vez que vi seu irmão – ele falou com ênfase na palavra, como se cuspisse nela –, ele estava com as duas mãos apertando o pescoço de minha prima e batendo a cabeça dela numa parede de tijolos. Teria matado, se não fosse por meu avô. E lá estava. Uma testemunha. Um relato imparcial. Mas, quando o ouvi, já não precisava. A febre da dúvida de mim mesma já tinha passado havia muito tempo. Não quer dizer que eu confiava total e absolutamente em minha memória, mas acreditava tanto quanto na de qualquer pessoa, e mais que muita gente. Mas isso foi anos depois.
Capítulo 36
Quatro braços longos girando
Foi em uma ensolarada tarde de sábado em setembro que arrastei minha mala pelo Harvard Yard. A arquitetura colonial parecia estrangeira, porém mais discreta, menos imponente que os pináculos de Cambridge. A biblioteca central, chamada Widener, era a maior que eu já vira, e por algum tempo esqueci o ano anterior e fiquei apreciando, maravilhada. Meu quarto ficava no dormitório da graduação, perto da escola de direito. Pequeno, parecendo uma caverna, escuro, úmido, frígido, com paredes cinzentas e piso de frios ladrilhos cor de chumbo. Eu passava o mínimo de tempo possível ali dentro. A universidade oferecia um novo começo, e eu queria aproveitar. Me inscrevi em todos os cursos que consegui espremer no meu horário, desde idealismo alemão e história do secularismo até ética e direito. Entrei num grupo de estudos semanal para praticar o francês, e em outro para aprender tricô. A faculdade oferecia um curso gratuito de desenho a carvão. Nunca tinha desenhado na vida, mas me inscrevi assim mesmo. Dei início às leituras – Hume, Rousseau, Smith, Godwin, Wollstonecraft e Mill. Entrei no mundo em que eles viveram,
nos problemas que tentaram resolver. Fiquei obcecada com as ideias deles sobre a família, de como a pessoa iria pesar suas obrigações para com os parentes em oposição a suas obrigações para com a sociedade como um todo. Então comecei a escrever, entremeando os fios encontrados no Uma investigação sobre os princípios da moral, de Hume, com filamentos do A sujeição das mulheres, de Mill. Enquanto escrevia fui vendo que o trabalho estava bom e, quando terminei, reservei. Foi o primeiro capítulo do meu doutorado. Na volta da aula de desenho no sábado de manhã, encontrei um e-mail de minha mãe. “Estamos indo a Harvard”, dizia. Li essa frase pelo menos três vezes; só podia ser brincadeira. Meu pai não viajava. Nunca soube que tivesse ido a qualquer lugar, a não ser ao Arizona para visitar a mãe. Era absurda a ideia de que ele iria pegar um avião e atravessar o país para ver uma filha que ele acreditava estar possuída pelo diabo. Depois entendi. Ele estava vindo me salvar. Mamãe disse que haviam reservado as passagens e ficariam no meu quarto. – Querem um hotel? – perguntei. Eles não queriam.
Alguns dias depois abri um antigo programa de bate-papo que havia anos eu não frequentava. Havia uma musiquinha alegre e um nome passou de cinza a verde. Dizia Charles está on-line. Não sei quem começou a conversar nem quem sugeriu conversarmos por telefone. Falamos durante uma hora, e foi como se o tempo não tivesse passado. Perguntou onde eu estava estudando, e quando respondi, falou: – Harvard! Caramba! – Quem diria, né? – falei.
– Eu – ele disse. E era verdade. Ele sempre me vira assim, muito antes de ter motivo. Perguntei o que ele tinha feito após se formar na faculdade e houve um silêncio tenso. – As coisas não saíram conforme o planejado – ele disse. Ele não tinha se formado. Saiu no segundo ano, quando seu filho nasceu, porque a esposa estava doente e tinha um monte de contas de médicos. Foi trabalhar em poços de petróleo no Wyoming. – Era só por alguns meses – ele disse. – Já faz um ano. Contei a ele sobre Shawn, que eu o tinha perdido e estava perdendo o resto da família. Ele ouviu em silêncio, depois deu um longo suspiro e falou: – Você nunca pensou que talvez fosse melhor deixá-los pra lá? Nunca, nem uma vez. – Não é permanente – falei. – Posso dar um jeito nisso. – Engraçado como você pode mudar tanto, mas continuar parecendo que tem 17 anos.
Meus
pais chegaram quando as folhas começavam a mudar, quando o campus estava mais lindo, os vermelhos e amarelos do outono se misturando com a cor de vinho dos tijolos coloniais. Com sua fala caipira, camisa de brim e o eterno boné de membro da NRA, papai sempre estaria deslocado em Harvard, mas as cicatrizes intensificavam o efeito. Eu tinha visto meu pai várias vezes desde a explosão, mas só quando ele chegou a Harvard e o vi em contraste com minha vida ali foi que percebi o quanto ele estava desfigurado. Essa percepção me atingiu por meio do olhar dos outros, de pessoas cuja face se modificava
quando ele passava e se viravam para olhar de novo. Então eu olhava para ele também, notando a pele do queixo esticada como plástico, os lábios sem a forma natural, as bochechas chupadas para dentro num ângulo quase esquelético. A mão direita, que ele sempre levantava apontando para alguma coisa, era nodosa e retorcida, e quando eu olhava para ela contra as colunas e os campanários antediluvianos de Harvard, me parecia a garra de uma criatura mítica. Papai pouco se interessou pela universidade, e o levei à cidade. Ensinei a pegar o metrô, a enfiar o cartão na fenda e passar na roleta. Ele ria alto, como se fosse uma tecnologia fabulosa. Um sem-teto passou pelo nosso vagão do metrô pedindo um dólar. Papai lhe deu uma nota novinha de cinquenta. – Se fizer isso em Boston, vai ficar sem dinheiro nenhum – falei. – Duvido – papai falou com uma piscadela. – O negócio está indo muito bem. Temos mais do que conseguimos gastar! Como sua saúde era fraca, papai ficou com a cama. Comprei um colchão inflável para mamãe. Eu dormi no chão de ladrilhos. Ambos roncavam alto, e passei a noite inteira acordada. Quando finalmente o sol nasceu, continuei deitada no chão, de olhos fechados, respirando devagar, profundamente, enquanto meus pais saqueavam meu frigobar, cochichando a meu respeito. – O Senhor me ordenou – disse papai. – Ela ainda pode ser levada ao Senhor. Enquanto eles tramavam minha reconversão, eu planejava deixá-los continuar. Eu estava pronta a ceder, ainda que precisasse de um exorcismo. Um milagre seria útil, se eu conseguisse representar um renascimento
convincente. Podia me dissociar de tudo o que disse e fiz no ano passado. Podia me retratar, culpar Lúcifer e receber uma página em branco. Imaginei quão estimada eu seria como um vaso lavado e limpo. Como seria amada. Só precisava trocar minhas lembranças pelas deles e teria minha família. Meu pai queria ir ao Bosque Sagrado de Palmyra, em Nova York, a floresta onde, segundo Joseph Smith, Deus apareceu a ele e lhe ordenou fundar a verdadeira Igreja. Alugamos um carro e seis horas depois chegamos a Palmyra. Junto ao arvoredo, fora da estrada, havia um templo cintilante encimado por uma imagem dourada do anjo Morôni. Papai estacionou e me pediu para caminhar até o templo. – Toque no templo – ele disse. – O poder do templo vai limpar você. Examinei o rosto dele. Tinha uma expressão tensa, severa, desesperada. Com todo o seu ser, ele queria que eu tocasse no templo para ser salva. Meu pai e eu olhamos para o templo. Ele via Deus; eu via granito. Olhamos um para o outro. Ele via uma mulher condenada; eu via um homem desequilibrado, literalmente desfigurado por sua crença. No entanto, triunfante. Lembreime das palavras de Sancho Pança: “Um cavaleiro de aventuras vem a ser um sujeito que em duas palavras se vê desancado, e imperador.” Hoje, quando reflito sobre esse momento, a imagem é misturada, se reconstitui na de um cavaleiro zeloso montando um corcel, avançando numa batalha imaginária, atacando sombras, investindo contra o ar. Tem o queixo firme, as costas retas. Seus olhos ardem de convicção, emitindo faíscas que queimam onde caem. Minha mãe me dirige um olhar pálido, não acreditando, mas quando ele
olha para ela os dois se complementam, e ambos estão se lançando contra moinhos de vento. Atravessei o terreno e coloquei a mão na pedra do templo. Fechei os olhos, tentando acreditar que esse simples ato pudesse fazer o milagre pelo qual meus pais oravam. Que eu só precisava tocar aquela relíquia e, pelo poder do Todo-Poderoso, tudo estaria no lugar. Mas não senti nada, só a pedra fria. Voltei para o carro. – Vamos embora – eu disse. Quando a vida mesma parece louca, como saber onde reside a loucura? Nos dias que se seguiram, eu escrevia essa frase em todo lugar – sem pensar, compulsivamente. Hoje a encontro em livros que eu estava lendo, em anotações de leituras, nas margens do meu diário. Eu a recitava como um mantra. Tinha vontade de crer naquilo – acreditar que não havia diferença entre o que eu sabia ser verdade e o que eu sabia ser falso. Vontade de me convencer de que havia alguma dignidade no que eu planejava fazer, renunciando a minhas percepções de certo e errado, de realidade, da própria sanidade, para merecer o amor de meus pais. Por eles, eu acreditava que podia envergar uma armadura e investir contra gigantes, ainda que eu visse apenas moinhos de vento. Entramos no Bosque Sagrado. Fui andando na frente, até um banco sob um dossel de árvores. Era um bosque lindo, pleno de história. Foi o motivo pelo qual nossos ancestrais tinham vindo para a América. Um graveto estalou, meus pais apareceram e se sentaram junto a mim, um de cada lado. Meu pai falou durante duas horas. Deu testemunho de que tinha observado anjos e demônios. Havia visto
manifestações físicas do mal, e fora visitado por Nosso Senhor Jesus Cristo, como os antigos profetas, como Joseph Smith naquele mesmo bosque. Sua fé não era mais uma fé, ele disse, mas um conhecimento perfeito. – Você foi possuída por Lúcifer – ele sussurrou, com a mão em meu ombro. – Eu senti no momento em que entrei no seu quarto. Pensei em meu quarto, nas paredes turvas e nos ladrilhos frios, mas também nos girassóis que Drew tinha enviado e no panô pendurado na parede, que um amigo do Zimbábue tinha trazido da cidade dele. Mamãe não dizia nada. Olhava para o chão de terra, os olhos embaçados, os lábios apertados. Procurei dentro de mim, buscando lá no fundo, catando as palavras que ele precisava ouvir. Mas não estavam em mim. Ainda não. Antes de voltarmos a Harvard, convenci meus pais a passar pelas Cataratas do Niágara. O ambiente no carro era pesado e até me arrependi de ter sugerido o passeio, mas no momento em que papai viu as cataratas ficou transformado, extasiado. Eu tinha uma câmera. Papai sempre detestou câmeras, mas quando viu a minha seus olhos brilharam. “Tara! Tara!”, ele gritou, correndo à nossa frente. “Tire uma foto desse ângulo. Não é bonito!” Foi como se ele entendesse que estávamos formando uma lembrança, algo belo de que poderíamos precisar depois. Ou talvez eu esteja projetando, porque era como me sentia. Algumas fotos de hoje podem me ajudar a esquecer o bosque, escrevi no diário. Uma foto minha com papai, felizes, juntos. Prova de que é possível.
Voltando
a Harvard, me ofereci para pagar um hotel. Os dois recusaram. Passamos uma semana tropeçando uns nos
outros no meu quarto. Toda manhã meu pai subia penosamente um lance de escadas para o chuveiro coletivo, enrolado apenas numa pequena toalha branca. Eu teria ficado humilhada na BYU, mas em Harvard nem ligava. Eu havia transcendido o constrangimento. Que me importava quem o via, o que ele dizia para os outros ou se os outros ficavam chocados? Só me interessava a opinião dele; era ele que eu estava perdendo. Por fim, chegou a última noite deles, e eu ainda não havia renascido. Mamãe e eu fomos para a cozinha coletiva, fizemos um ensopado de carne com batatas e trouxemos em bandejas para o quarto. Meu pai observou seu prato em silêncio, como se estivesse sozinho. Mamãe fez alguns comentários sobre a comida, riu nervosamente e se calou. Quando terminamos, papai disse que tinha um presente para mim. – Foi por isso que eu vim – falou. – Para lhe dar a bênção do sacerdócio. No mormonismo, o sacerdócio é o poder de Deus para agir na Terra, para orientar, aconselhar, curar os doentes e espantar os demônios. É dado aos homens. Esse era o momento: se eu aceitasse a bênção, papai me tornaria limpa. Ele imporia as mãos sobre minha cabeça para expulsar a coisa do mal que me fizera falar o que falei, que me tornara indesejada em minha própria família. Eu só precisava me entregar, e em cinco minutos aquilo teria acabado. Ouvi minha voz dizendo não. Papai ficou boquiaberto, incrédulo, e começou a dar testemunho, não sobre Deus, mas sobre mamãe. As ervas, ele disse, eram um chamado divino do Senhor. Tudo o que acontecera com nossa família, todos os ferimentos, toda
quase morte, foi porque éramos escolhidos, éramos especiais. Deus havia orquestrado tudo aquilo para podermos denunciar o Sistema Médico e dar testemunho de Seu poder. – Lembra quando Luke queimou a perna? – papai perguntou, como se eu pudesse esquecer. – Era o plano do Senhor. Era um currículo. Para sua mãe. Para que ela estivesse preparada para o que iria acontecer comigo. A explosão, a queimadura. Foi a mais alta honra espiritual tornar-se um atestado vivo do poder de Deus. Papai tomou minhas mãos entre seus dedos estropiados, dizendo que aquela deformação fora pré-ordenada. Que era uma terna misericórdia, que tinha levado almas a Deus. Mamãe acrescentou seu testemunho em sussurros reverentes. Disse que podia interromper um AVC apenas ajustando um chacra, podia impedir um infarto usando apenas energia, podia curar um câncer se a pessoa tivesse fé. Ela mesma teve um câncer de seio, mamãe disse, e havia curado. Meu coração deu um pulo. – Você tem câncer? Tem certeza? Fez exames? – Não precisei de exames – respondeu. – Fiz o teste muscular. Era câncer. Eu curei. – Podíamos ter curado sua avó também – papai disse. – Mas ela se afastou de Cristo. Não tinha fé, por isso morreu. Deus não cura os descrentes. Mamãe concordava, mas não levantava os olhos. – O pecado de sua avó era grave – papai disse. – Mas seus pecados são ainda mais graves porque a verdade lhe foi concedida e você recusou. Houve um silêncio, exceto pelo ruído fraco do trânsito na Oxford Street.
Os olhos de papai estavam fixos em mim. Era o olhar de um vidente, de um oráculo sagrado cujo poder e autoridade eram extraídos do próprio universo. Eu queria enfrentar aquele olhar de cabeça erguida, provar que era capaz de suportar seu peso, mas em poucos segundos algo em mim se curvou, alguma força interna cedeu, e baixei os olhos para o chão. – Sou chamado por Deus para atestar que a desgraça está à sua espera – ele disse. – E cedo virá, muito cedo, e vai quebrar você, quebrar completamente. Vai derrotar você, lançar você nas profundezas da humilhação. E quando estiver lá, caída e quebrada, você vai pedir misericórdia ao Pai Divino. A voz de papai, que tinha se elevado a um tom febril, agora desceu para um murmúrio: – E Ele não vai ouvir você. Encontrei seu olhar. Papai ardia de convicção. Eu quase sentia a quentura saindo dele. Inclinou-se até seu rosto quase tocar o meu e disse: – Mas eu vou. Instalou-se um silêncio, imperturbado, opressivo. – Vou oferecer, pela última vez, lhe dar a bênção – falou. A bênção era a misericórdia. Ele me oferecia os mesmos termos de rendição que tinha dado à minha irmã. Imaginei o alívio que deve ter sido para ela entender que podia trocar a realidade dela – que compartilhava comigo – pela dele. Quanta gratidão ela deve ter sentido por pagar um preço tão módico. Não podia julgá-la por essa escolha, mas naquele momento tive certeza de que eu não poderia escolher aquilo para mim. Tudo aquilo pelo que eu havia trabalhado, todos os meus anos de estudo tinham sido para obter um só privilégio, o de ver e vivenciar mais verdades do que aquelas que me foram dadas por meu pai, e usar
essas verdades para moldar minha própria mentalidade. Eu aprendera a crer que a capacidade de avaliar muitas ideias, muitas histórias, muitos pontos de vista estava no centro do que significa criar a si próprio. Se me rendesse agora, eu perderia mais que uma discussão. Eu perderia a custódia de minha própria mente. Esse era o preço que me pediam para pagar, agora eu entendia. O que meu pai queria expulsar de mim não era um demônio: era eu. Papai tirou do bolso uma ampola de óleo consagrado e pôs em minha mão. Examinei a ampola. Aquele óleo era só o que precisava para executar o ritual, o óleo e a autoridade sagrada pousada nas mãos desfiguradas de papai. Imaginei minha rendição e eu fechando os olhos, abjurando minhas blasfêmias. E também descrevendo minha mudança, a divina transformação, as palavras de gratidão que eu iria gritar. As palavras estavam prontas, bem formadas, à espera de sair dos meus lábios. Mas quando abri a boca desapareceram. – Eu amo você. Mas não posso. Sinto muito, papai. Meu pai se levantou abruptamente. Tornou a falar que havia uma presença do mal em meu quarto e ele não poderia ficar ali outra noite. O voo deles era na manhã seguinte, mas papai disse que era melhor dormir num banco de praça do que com o demônio. Minha mãe rodou pelo quarto, metendo camisas e meias na mala. Em cinco minutos, tinham ido embora.
Capítulo 37
Apostando na redenção
Alguém estava gritando, um berro continuado, tão alto que me acordou. Estava escuro. Havia luzes de rua, asfalto, ronco distante de carros. Eu me encontrava de pé no meio da Oxford Street, a meio quateirão do meu quarto. Tinha os pés descalços e vestia uma camiseta regata e calça de pijama de flanela. Eu sentia que as pessoas me olhavam, mas eram duas da madrugada e a rua estava vazia. Não sei como, voltei para meu prédio, sentei na cama e tentei reconstituir o que tinha acontecido. Eu me lembrava de ter ido dormir. Me lembrava do sonho. O que eu não me lembrava era de sair correndo da cama, descer às carreiras e chegar à rua, gritando, mas era o que eu tinha feito. O sonho foi sobre minha casa. Papai havia construído um labirinto no Buck’s Peak e me prendido lá dentro. As paredes tinham três metros de altura, feitas de suprimentos do abrigo subterrâneo dele: sacos de grãos, caixas de munição, barris de mel. Eu estava procurando alguma coisa, algo precioso que eu jamais poderia substituir. Precisava sair do labirinto para recuperar essa coisa, mas não achava a saída e papai estava me perseguindo, fechando as saídas com sacos de grãos empilhados, formando barricadas.
Parei de frequentar o grupo de francês, depois as aulas de desenho. Em vez de ler na biblioteca ou assistir às aulas, eu ficava vendo TV no meu quarto, percorrendo todos os seriados populares dos últimos vinte anos. Quando um episódio terminava, eu começava a ver outro sem pensar, assim como uma respiração se segue a outra. Via TV dezoito a vinte horas por dia. Quando dormia, sonhava com minha casa e, pelo menos uma vez por semana, acordava de pé na rua no meio da noite, imaginando se tinha sido meu grito que ouvi logo antes de acordar. Não estudava. Tentava ler, mas as frases não significavam nada. Eu precisava que não significassem nada. Não aguentava concatenar frases em cadeias de pensamento, nem alinhavar essas cadeias em sequências de ideias. Ideias se assemelhavam demais à reflexão, e minhas reflexões sempre eram sobre a expressão no rosto distendido de meu pai no momento antes de fugir de mim. O problema de ter um colapso mental é que, por mais que seja óbvio, não é evidente para quem está tendo. “Eu estou ótima”, a gente pensa. “E daí se vi TV por 24 horas seguidas ontem. Não estou deprimida. Estou só com preguiça.” Por que é melhor pensar que está com preguiça do que pensar que está sofrendo, não sei. Mas era melhor. Mais que melhor, era vital. Em dezembro meus trabalhos estavam tão atrasados que, parando uma noite para ver um novo episódio de Breaking Bad, me dei conta de que poderia não ser aprovada no doutorado. Fiquei uns dez minutos rindo como louca dessa ironia. Depois de sacrificar minha família em favor da minha formação, eu poderia perder isso também. Passadas mais umas semanas, caí em mim uma noite e decidi que tinha cometido um erro. Que, quando meu pai
me ofereceu a bênção, eu deveria ter aceitado. Mas não era tarde demais. Eu ainda podia corrigir o erro, consertar as coisas. Comprei uma passagem para Idaho, para o Natal. Dois dias antes do voo, acordei banhada em suor. Sonhei que estava num hospital, entre lençóis brancos imaculados. Papai estava ao pé da maca, falando a um policial que eu tinha me esfaqueado. Mamãe repetia o que ele falava, olhos em pânico. Fiquei surpresa ao ouvir a voz de Drew, gritando que eu precisava ser levada a outro hospital. “Ele vai encontrá-la aqui”, repetia. Escrevi para Drew, que estava morando no Oriente Médio. Contei que ia para Buck’s Peak. Ele respondeu com um tom urgente e áspero, como se tentasse dissipar o nevoeiro em que eu estava vivendo. “Minha querida Tara. Se Shawn esfaquear você, você não vai ser levada para um hospital. Eles vão colocá-la no porão e tratar a ferida com um pouco de lavanda.” Ele me implorou para não ir, dizendo mil coisas que eu já sabia e não ligava, e quando viu que não adiantava, falou: “Você me contou sua história para que eu pudesse impedir você de fazer alguma loucura. Pois bem, Tara, é isso aí. Isso é loucura.” “Eu ainda posso dar um jeito nisso”, cantarolei enquanto o avião decolava.
Era uma manhã clara de inverno quando cheguei a Buck’s Peak. Lembro-me do cheiro frio da terra congelada ao me aproximar da casa, sentindo o gelo e o cascalho estalando sob minhas botas. O céu era de um azul chocante. Aspirei o bem-vindo aroma dos pinheiros. Meu olhar desceu para o pé da montanha e fiquei sem fôlego. Enquanto vovó fora viva, tinha conseguido, à força
de rabugice, gritos e ameaças, conter o avanço do ferrovelho de meu pai. Agora o refugo cobria a fazenda e já avançava para a base da montanha. A série de colinas, antes perfeitos lagos de neve, estava pontilhada de caminhões quebrados e fossas sépticas enferrujadas. Mamãe ficou extática ao me ver entrar. Eu não tinha avisado que chegaria, esperando que, se ninguém soubesse, seria possível evitar Shawn. Ela falou rapidamente, nervosa: – Vou fazer uns biscuits and gravy para você! – E escapuliu para a cozinha. – Vou ajudar num minuto – respondi. – Só preciso enviar um e-mail. O computador da casa ficava na parte velha, onde era a sala da frente antes da reforma. Sentei-me para escrever a Drew porque havia prometido, numa espécie de compromisso entre nós, que enquanto eu estivesse na montanha escreveria para ele a cada duas horas. Movi o mouse, a tela acendeu. O navegador já estava aberto; alguém tinha esquecido de fechar. Fui passar para outro navegador, mas parei ao ver meu nome. Estava na mensagem aberta na tela, que mamãe havia mandado pouco antes. Para Erin, a ex-namorada de Shawn. A premissa da mensagem era que Shawn havia renascido, espiritualmente limpo. A Expiação tinha curado nossa família, e tudo havia sido restaurado. Tudo menos eu. “O espírito me sussurrou a verdade sobre minha filha”, mamãe escreveu. “Minha pobre menina se entregou ao medo, e esse medo a tornou desesperada para validar suas percepções errôneas. Não sei se ela é um perigo para nossa família, mas tenho motivos para pensar que sim.”[11] Eu já sabia, antes mesmo de ler a mensagem, que minha mãe compartilhava a visão obscura de meu pai, acreditava
que o demônio havia me possuído e eu era perigosa. Mas alguma coisa ao ver as palavras na página, lendo e ouvindo a voz dela naquelas palavras, a voz de minha mãe, fez meu corpo gelar. Havia mais no e-mail. No último parágrafo, mamãe descreveu o nascimento do segundo filho de Emily, um mês atrás, uma menina. Mamãe tinha feito o parto. A criança nasceu em casa e, segundo mamãe, Emily tinha quase morrido com o sangramento até que a levaram ao hospital. Mamãe terminou a história com o testemunho: Deus havia trabalhado por intermédio das mãos dela naquela noite. O nascimento fora um atestado do poder Dele. Lembrei do drama no nascimento de Peter, que tinha escorregado do corpo de Emily com pouco mais de meio quilo, com uma cor tão cinzenta que pensaram que estava morto, a luta na nevasca para chegarem ao hospital da cidade, onde não havia recursos, nem helicópteros por causa da neve, as duas ambulâncias enviadas para o McKay-Dee em Ogden. Que uma mulher com esse histórico médico, obviamente de alto risco, fosse aconselhada a tentar um segundo parto em casa era uma imprudência, chegando ao ponto do delírio. Se a primeira queda era a vontade de Deus, de quem era a segunda? Eu ainda estava ruminando o nascimento de minha sobrinha quando apareceu a resposta de Erin. “Você tem razão sobre Tara”, dizia. “Ela está perdida, sem fé.” Erin disse à mamãe que eu duvidar de mim mesma – ter escrito a ela, Erin, perguntando se minhas lembranças eram falsas – era evidência de que minha alma estava correndo risco, e não podiam confiar em mim: “Ela está construindo a vida sobre o medo. Vou orar por ela.” Erin terminava a
mensagem elogiando a perícia de minha mãe como parteira: “Você é uma verdadeira heroína.” Fechei o navegador e fiquei olhando o papel de parede na tela. Era o mesmo motivo floral da minha infância. Por quanto tempo eu sonhara em vê-lo? Eu viera reivindicar e salvar aquela vida. Mas não tinha nada a ser salvo, nada no que pegar. Havia apenas areia, lealdades e histórias movediças. Lembrei do sonho, do labirinto. Lembrei das paredes feitas de sacos de grãos e caixas de munição, dos medos e paranoias de meu pai, suas escrituras e profecias. Eu queria sair do labirinto, dos zigue-zagues que desorientavam, dos caminhos sempre mudando de forma, para encontrar a coisa preciosa. Mas agora entendi: a coisa preciosa era mesmo o labirinto. Era tudo o que restava da vida que eu tivera ali: um quebra-cabeça cujas regras eu nunca entenderia, porque não eram regras coisa nenhuma, era uma jaula para me manter presa. Eu podia ficar e procurar o que tinha sido meu lar, ou podia ir embora agora, antes que as paredes mudassem de lugar e fechassem a saída. Mamãe estava pondo a comida no forno quando entrei na cozinha. Olhei em volta, perscrutando mentalmente a casa. “O que eu preciso deste lugar?” De uma única coisa: minhas lembranças. Encontrei-as debaixo da minha cama, em uma caixa, onde as tinha deixado. Levei a caixa para o carro e a deixei no banco de trás. – Vou dar uma volta – falei com mamãe. Tentei manter a voz suave. Abracei-a, olhei longamente para o Buck’s Peak, memorizando cada linha, cada sombra. Mamãe tinha me visto levar os diários para o carro. Deve ter entendido o que significava, deve ter sentido o adeus, porque foi buscar meu pai. Ele me deu um abraço apertado e falou: – Eu te amo, sabe?
– Sei. Isso nunca foi a questão. Foram as últimas palavras que eu disse ao meu pai.
Fui dirigindo para o sul. Não sabia para onde estava indo. Era quase Natal. Tinha resolvido ir para o aeroporto e pegar o primeiro voo para Boston quando Tyler ligou. Havia meses que eu não falava com meu irmão. Depois do que aconteceu com Audrey, não via como confiar em meus irmãos. Tinha certeza de que mamãe havia contado a cada um deles e a cada primo e prima, tia e tio a história que contou a Erin, que eu era perigosa, possuída pelo demônio. Eu estava certa: mamãe tinha avisado a todos eles. Só que cometeu um erro. Depois que saí de Buck’s Peak, ela entrou em pânico. Teve medo de que eu fizesse contato com Tyler, e nesse caso ele poderia ser solidário comigo. Decidiu falar com Tyler antes, negar tudo o que eu fosse dizer a ele, mas calculou mal. Não parou para pensar como essas negações iriam soar, vindo assim do nada. – Claro que Shawn não esfaqueou Diego nem ameaçou Tara com uma faca – mamãe garantiu a Tyler, mas para ele, que não tinha ouvido nenhuma parte dessa história, nem de mim nem de ninguém mais, isso era tudo, menos uma garantia. Logo que se despediu de mamãe, Tyler me ligou querendo saber o que havia acontecido e por que eu não tinha recorrido a ele. Pensei que ele fosse falar que eu havia mentido, mas não falou. Aceitou imediatamente a realidade que eu tinha passado um ano negando. Não entendi por que ele estava confiando em mim, mas ele me contou as histórias dele, e lembrei: Shawn era irmão mais velho dele também.
Nas semanas seguintes, Tyler passou a testar meus pais, mas sem afrontas, com aquele jeito sutil que era típico dele. Sugeriu que talvez não tivessem lidado bem com a situação, talvez eu não estivesse possuída. Talvez eu não fosse do mal. A tentativa de ajuda de Tyler deveria ter me confortado, mas a lembrança de minha irmã estava viva demais e não confiei nele. Eu sabia que, se Tyler confrontasse meus pais – enfrentasse mesmo –, eles o forçariam a escolher entre mim e eles, entre mim e o resto da família. E eu tinha aprendido com Audrey: ele não escolheria a mim.
Minha bolsa em Harvard terminou na primavera. Fui para o Oriente Médio, onde Drew estava completando o programa Fulbright. Foi preciso algum esforço, mas consegui esconder dele que eu estava mal, ou pelo menos achei que escondia. Provavelmente não consegui. Afinal, foi ele que ficou me cercando pelo apartamento, quando acordei no meio da noite gritando, correndo, sem saber onde eu estava, mas com uma necessidade desesperada de escapar. Saímos de Amã e dirigimos para o sul. Estávamos num acampamento de beduínos no deserto da Jordânia no dia em que o fuzileiro da marinha norte-americana matou Osama bin Laden. Drew falava árabe, e quando a notícia chegou passamos horas conversando com nossos guias. – Ele não é muçulmano – diziam a Drew, todos sentados na areia fria vendo as chamas da fogueira se apagando. – Ele não entende o Islã, ou não faria as coisas horríveis que fez. Eu observava Drew conversando com os beduínos, ouvia os sons estranhos e suaves saindo dos lábios dele e me espantei com a implausibilidade de minha presença ali.
Quando as Torres Gêmeas desabaram, dez anos antes, eu nunca tinha ouvido falar em Islã. Agora estava tomando chá com beduínos da Zalábia, agachada numa areia distante, em Wadi Rum, o Vale da Lua, a menos de trinta quilômetros da fronteira da Arábia Saudita. A distância física e mental percorrida na última década quase me tirou o fôlego, e pensei que talvez eu tivesse mudado demais. Todos os meus estudos, leituras, pensamentos, viagens teriam me transformado em alguém que já não pertencia a lugar nenhum? Pensei na garota que, sem conhecer nada além do ferro-velho e da montanha, tinha visto na tela dois aviões se chocarem contra estranhos pilares brancos. Sua sala de aula era um monte de sucata. Seus livros, chapas de metal velho. No entanto, tinha algo precioso que eu, apesar de todas as minhas oportunidades, ou talvez por causa delas, não possuía.
Voltei para a Inglaterra, onde continuei a me desintegrar. Na primeira semana em Cambridge, acordei quase todas as noites na rua, para onde tinha corrido gritando, dormindo. Passei a ter dores de cabeça que duravam dias. O dentista disse que eu rangia os dentes. Tive erupções tão graves na pele que por duas vezes pessoas desconhecidas me pararam na rua perguntando se eu estava tendo uma reação alérgica. Não, eu dizia. Sou sempre assim mesmo. Uma noite tive uma discussão com uma amiga sobre alguma coisa trivial, e, antes que eu me desse conta do que estava acontecendo, me vi pressionada contra a parede, abraçando os joelhos junto ao peito para meu coração não pular fora do corpo. Minha amiga correu para me ajudar e eu gritei. Só uma hora depois deixei que ela me tocasse, e
consegui me afastar da parede. “Então é assim um ataque de pânico”, pensei no dia seguinte. Pouco depois mandei uma carta para papai. Não me orgulho dessa carta. É cheia de raiva, uma criança rebelde gritando “eu te odeio” para o pai ou a mãe. É cheia de palavras como “bandido”, “tirano”, páginas e páginas com uma torrente de frustração e agressão. Foi assim que contei a meus pais que estava cortando relações com eles. Entre insultos e acessos de cólera, falei que precisava de um ano para me curar. Depois talvez eu voltasse para tentar dar sentido ao mundo louco deles. Minha mãe implorou para não fazer assim. Meu pai não disse nada. 11 Os trechos em aspas com referência ao e-mail são parafraseados, não citados literalmente. O conteúdo foi preservado.
Capítulo 38
Família
Eu estava indo muito mal no doutorado. Se tivesse contado ao meu supervisor, o dr. Runciman, por que não estava sendo capaz de trabalhar, ele teria me ajudado, pedido um adicional à bolsa e mais tempo ao departamento. Mas eu não contei, não consegui. Ele não tinha ideia de por que eu não lhe entregava um trabalho havia quase um ano. Numa tarde nublada de julho, na sessão de supervisão em sua sala, ele sugeriu que eu desistisse: – O doutorado é excepcionalmente exigente. Tudo bem se você não conseguir. Saí da sala enfurecida comigo mesma. Fui à biblioteca, peguei meia dúzia de livros, carreguei-os para meu quarto e os arrumei na escrivaninha. Mas minha mente ficava nauseada com qualquer pensamento racional, e na manhã seguinte os livros tinham se mudado para minha cama, servindo de apoio ao meu laptop, onde eu assistia atentamente a Buffy, a caça-vampiros.
Naquele outono, Tyler confrontou meu pai. Falou primeiro com mamãe, pelo telefone. Ligou para mim em seguida, relatando a conversa. Disse que mamãe “estava do nosso lado”, que ela achava que a situação com Shawn era inaceitável e tinha convencido papai a fazer alguma coisa. – Papai está cuidando disso – Tyler disse. – Vai ficar tudo bem. Você pode vir para casa. Dois dias depois meu telefone tocou de novo, e dei pausa em Buffy para atender. Era Tyler. A coisa toda tinha explodido na cara dele. Ficou ansioso depois da conversa com mamãe e ligou para papai a fim de ver o que exatamente estava sendo feito a respeito de Shawn. Papai ficou bravo, agressivo. Gritou que se Tyler tornasse a falar nisso seria renegado, e desligou. Detesto imaginar essa conversa. A gagueira de Tyler sempre piorava quando ele falava com papai. Imagino meu irmão curvado sobre o telefone, tentando se concentrar, destravar as palavras emboladas na garganta, enquanto seu pai vomitava um arsenal de impropérios. Tyler ainda estava ruminando as ameaças de papai quando seu telefone tocou. Achou que era papai se desculpando, mas era Shawn. Papai tinha contado tudo a ele. – Posso botar você para fora dessa família em dois minutos – disse Shawn. – Você sabe que eu posso. Pergunte à Tara. Ouvi Tyler contando essa história enquanto continuei olhando para a imagem congelada de Sarah Michelle Gellar. Tyler falou por muito tempo, passando rapidamente pelos eventos e se demorando no terreno árido da racionalização e da autorrecriminação. Papai deve ter entendido mal, Tyler disse. Houve um engano, uma falha de comunicação. Talvez
tivesse sido culpa dele, Tyler, talvez não houvesse dito a coisa certa no momento certo. Era isso aí. Ele tinha feito aquilo e iria consertar. Enquanto ouvia, tive a estranha sensação de uma distância que beirava o desinteresse, como se meu futuro com Tyler, esse irmão que eu conhecia e amara a vida inteira, fosse um filme já visto e eu sabia como terminava. Eu conhecia bem esse drama porque já o tinha vivido com minha irmã. Foi nesse momento que perdi Audrey. Foi o instante em que o custo daquilo tudo ficou claro, os impostos descontados, o aluguel devido. Foi o momento em que ela viu que era muito mais fácil pular fora, que era mau negócio trocar uma família inteira por uma irmã só. Então eu soube, antes que acontecesse, que Tyler seguiria o mesmo caminho. Eu podia ouvi-lo torcendo as mãos através do eco do telefone. Ele estava decidindo o que fazer, mas eu sabia algo que Tyler não sabia: que a decisão já estava tomada, e o que ele estava fazendo agora era apenas a trabalheira de justificá-la. Em outubro recebi a carta. Veio na forma de PDF anexado a um e-mail de Tyler e Stefanie. A mensagem explicava que a carta havia sido escrita com muita atenção, após muita reflexão, e uma cópia tinha sido enviada a meus pais. Eu já sabia o que isso significava. Tyler estava pronto a me denunciar, a dizer as palavras de meu pai, que eu estava possuída, era perigosa. A carta era uma espécie de voucher, um passe para admitilo de volta à família. Não consegui abrir o anexo, algum instinto impedia meus dedos. Lembrei de Tyler como ele era quando jovem, o tranquilo irmão mais velho lendo livros e eu debaixo da escrivaninha olhando as meias dele e respirando sua
música. Eu não sabia se iria aguentar ouvir aquelas palavras na voz dele. Cliquei para abrir o anexo. Eu me sentia tão longe de mim que li a carta inteira sem entender: “Nossos pais estão presos por correntes de abusos, manipulação e controle... Eles veem mudanças como um perigo e exilam qualquer um que queira mudança. É uma ideia pervertida de lealdade à família... Alardeiam a fé, mas não é isso que o evangelho ensina. Fique bem, em segurança. Nós te amamos.” Por Stefanie, esposa de Tyler, fiquei sabendo a história da carta, que, nos dias seguintes à ameaça de meu pai renegálo, Tyler ia dormir todas as noites falando para si mesmo, sem parar: “O que eu posso fazer? Ela é minha irmã.” Ao saber disso, tomei a única decisão boa após meses: me inscrevi no serviço de terapia da universidade. Fui atendida por uma vivaz senhora de meia-idade, de cabelinhos cacheados e olhos espertos, que raramente falava nas sessões, preferindo me deixar falar, o que eu fiz, semana após semana, mês após mês. A princípio, a terapia não fez nada – não posso citar uma única sessão que “ajudou” –, mas o poder cumulativo foi inegável. Não entendi nada então, e não compreendo agora, mas alguma coisa me sustentou ao manter aquele tempo certo uma vez por semana, ao admitir que eu precisava de alguma coisa que não podia prover por mim mesma. Tyler enviou a carta para meus pais e, uma vez que se comprometeu, nunca oscilou. Naquele inverno passei horas ao telefone com ele e Stefanie, que se tornou uma irmã para mim. Estavam à disposição sempre que eu precisava falar, e na ocasião eu necessitava falar muito. Tyler pagou o preço pela carta, embora seja difícil estipular esse preço. Ele não foi renegado, ou pelo menos não renegado para sempre. Mais tarde, ele conseguiu uma
trégua com meu pai, mas o relacionamento deles talvez nunca mais seja o mesmo. Tenho pedido perdão a Tyler incontáveis vezes pelo que lhe custei, mas as palavras são mal colocadas e tropeço nelas. Qual é o arranjo perfeito das palavras? Como articular desculpas por enfraquecer os laços de alguém com o pai, com a família? Talvez não haja palavras para isso. Como agradecer a um irmão que se recusou a perder você, que pegou sua mão e a ajudou a levantar justamente quando você tinha decidido parar de espernear e afundar? Não há palavras para isso também.
O
inverno foi longo naquele ano, com a monotonia quebrada apenas pelas sessões de terapia a cada semana e a estranha sensação de perda, quase de privação, quando terminava um seriado de TV e eu tinha que procurar outro. Então veio a primavera, o verão, e por fim, quando o verão virou outono, descobri que podia ler com concentração. Podia manter na cabeça pensamentos além da raiva e autoacusação. Voltei ao capítulo que tinha escrito quase dois anos antes, em Harvard. Li novamente Hume, Rousseau, Smith, Godwin, Wollstonecraft e Mill. Pensei novamente na família. Ali tinha um quebra-cabeça, uma coisa não resolvida. O que uma pessoa deve fazer, eu me perguntava, quando suas obrigações para com a família conflitam com outras – com amigos, com a sociedade, consigo mesma? Dei início à pesquisa. Afunilei a questão, tornando-a acadêmica, específica. No fim, elegi quatro movimentos intelectuais do século XIX, analisando como haviam lidado com a questão de obrigações para com a família. Um desses movimentos foi o mormonismo do século XIX. Ao fim
de um ano inteiro de trabalho, eu tinha um esboço da minha tese: “Família, Moralidade e Ciência Social no Pensamento Cooperativo Anglo-Americano, 1813-1890.” O capítulo sobre mormonismo era meu favorito. Quando criança, na escola dominical, eu tinha aprendido que toda a história fora uma preparação para o mormonismo, que todo evento desde a morte de Cristo havia sido moldado por Deus para o momento em que Joseph Smith se ajoelhou no Bosque Sagrado e Deus restaurou a única igreja verdadeira. Guerras, migrações, desastres naturais foram meros prelúdios para a história mórmon. Por outro lado, as histórias seculares tendiam a desconsiderar movimentos espirituais como o mormonismo. Minha dissertação deu à história um feitio diferente, que não era nem mórmon nem antimórmon, nem espiritual nem profano. Não tratou o mormonismo como o objetivo da história humana, mas também não desdenhou a contribuição que ele teve ao se envolver com as questões da época. Tratou a ideologia mórmon como um capítulo na grande história da humanidade. Em minha narrativa, a história não coloca os mórmons fora da família humana, mas os liga a ela. Mandei o esboço para o dr. Runciman, e dias depois nos reunimos na sala dele. Sentado à minha frente, com um olhar perplexo, ele disse que estava bom. – Algumas partes estão muito boas – ele disse, já sorrindo. – Ficarei surpreso se não merecer um doutorado. Na volta para casa, carregando o volumoso manuscrito, lembrei de uma aula do dr. Kerry, em que ele começou escrevendo no quadro “Quem escreve a história?”. Lembrei como a pergunta tinha me parecido estranha. Minha ideia era de que um historiador não era humano. Era alguém como meu pai, mais profeta que homem, cujas visões do
passado, assim como as do futuro, não podiam ser questionadas, nem mesmo retocadas. Agora, passando pelo King’s College, à sombra da enorme capela, meu antigo retraimento ficava até engraçado. “Quem escreve a história?”, pensei. “Sou eu.”
No dia do meu aniversário de 27 anos, o dia de aniversário que eu tinha escolhido, entreguei minha tese de doutorado. A defesa foi em dezembro, numa sala pequena, mobiliada com simplicidade. Passei. Voltei a Londres, onde Drew tinha um emprego, e alugamos um apartamento. Em janeiro, quase dez anos depois do dia em que entrei pela primeira vez numa sala de aula, na BYU, recebi a confirmação da Universidade de Cambridge. Eu era a dra. Westover. Eu tinha construído uma nova vida, e era uma vida feliz, mas havia uma sensação de perda que ia além da família. Tinha perdido Buck’s Peak, não por ter ido embora, mas por ter ido embora em silêncio. Havia recuado, atravessado um oceano e permitido a meu pai contar minha história por mim, me definir para todo mundo que eu conhecia. Tinha cedido terreno demais. Não só a montanha, mas toda a província de nossa história em comum. Era hora de voltar para casa.
Capítulo 39
Olha o búfalo
Era primavera quando cheguei ao vale. Segui pela rodovia até o limite da cidade e estacionei no mirante sobre o Bear River. Dali eu via até o outro lado do reservatório, um patchwork de campos expectantes se alongando até o Buck’s Peak. A montanha estava encrespada de pinheiros luminosos contra os marrons e cinzentos do xisto e do calcário. A Princesa brilhava como sempre, de frente para mim e com o vale entre nós, irradiando permanência. Ela vinha me perseguindo. Do outro lado do oceano, ela me chamava, como se eu fosse uma vaca rebelde extraviada do rebanho. A princípio sua voz era gentil, persuasiva, mas como eu não respondia lá de longe passou a ser de fúria. Eu havia traído a Princesa. Imaginava sua face contorcida de raiva, sua postura pesada e ameaçadora. Durante anos, ela viveu assim em minha mente, uma deidade de desdém. Mas olhando para ela agora, vigilante de seus campos e pastos, vi que tinha entendido mal. Ela não estava zangada comigo por ter partido, porque partir era parte de seu ciclo. Sua função não era manter o búfalo no curral, não era pegálo e confiná-lo à força. Era comemorar o retorno.
Voltei quinhentos metros e estacionei ao lado da cerquinha branca de vovó-da-cidade. Para mim ainda era a cerquinha dela, embora ela não morasse mais lá. Tinha sido levada para uma clínica de idosos perto da Main Street. Eu não encontrava meus avós havia três anos, desde que meus pais disseram a toda a família que eu estava possuída. Meus avós amavam a filha. Eu tinha certeza de que acreditaram no que ela disse sobre mim. Assim, eu os tinha abandonado. Era tarde demais para recuperar vovó, que estava com Alzheimer e não me reconheceria. Então fui ver meu avô para saber se ainda haveria lugar para mim na vida dele. Nós nos sentamos na sala. O tapete era o mesmo branco vivo da minha infância. A visita foi curta e polida. Falamos sobre vovó, de quem ele havia cuidado por muito tempo, mesmo depois que ela não o reconhecia mais. Falei sobre a Inglaterra. Vovô mencionou mamãe, e quando falou nela tinha aquele mesmo ar deslumbrado que eu vira nos seguidores dela. Não o culpei. Pelo que eu soube, meus pais agora eram gente poderosa no vale. Mamãe estava anunciando seus produtos como uma alternativa espiritual para o Obamacare e os vendia tão logo os fazia com as próprias mãos, mesmo tendo dúzias de empregados. Deus tinha que estar por trás daquele sucesso estrondoso, vovô disse. Meus pais devem ter sido chamados pelo Senhor para fazer o que fizeram, para serem grande curadores, para levarem almas para Deus. Sorri e me levantei para ir embora. Ele era o mesmo senhor gentil de que eu me lembrava, mas fiquei impressionada com a distância entre nós. Abracei vovô na saída, dando-lhe um longo olhar. Ele estava com 87 anos. Eu duvidava que, nos
anos que lhe restavam, eu fosse capaz de provar que não era o que meu pai dizia, não era uma perversa.
Tyler
e Stefanie moravam 160 quilômetros ao norte do Buck’s Peak, em Idaho Falls. Era lá que eu planejava ir em seguida, mas antes de sair do vale escrevi a minha mãe. Foi uma mensagem curta. Falei que estava ali perto e queria que ela fosse me encontrar na cidade. Eu disse que não estava preparada para ver papai, mas havia anos desde que vira o rosto dela. Ela viria? Esperei a resposta no estacionamento da Stokes. Não aguardei muito. “Dói ver que você acha aceitável pedir isso. Uma esposa não vai aonde o marido não é bem-vindo. Não tomarei parte nesse flagrante desrespeito.”[12] A mensagem era extensa e a leitura me deixou cansada como se tivesse corrido uma longa distância. O conteúdo era uma lição sobre lealdade, que famílias perdoam, e se eu não pudesse perdoar a minha, iria me arrepender pelo resto da vida. “O passado”, ela escreveu, “fosse qual fosse, tinha que ser enterrado 15 metros abaixo do solo e deixado para apodrecer na terra.” Mamãe disse que eu seria bem-vinda, que ela rezava pelo dia em que eu entrasse correndo pela porta dos fundos, gritando “Cheguei em casa!”. Eu queria corresponder à prece dela – eu estava a pouco mais de 15 quilômetros da montanha –, mas sabia qual era o pacto implícito quando entrasse por aquela porta. Eu poderia ter o amor de minha mãe, mas havia condições, as mesmas condições que eles tinham me oferecido três anos antes: que eu trocasse minha realidade pela deles, que
pegasse meu entendimento e o enterrasse, deixando apodrecer na terra. A mensagem de mamãe tinha o valor de um ultimato: eu podia vê-la e a meu pai, ou nunca mais a veria. Ela voltou atrás.
O estacionamento foi se enchendo enquanto eu lia. Deixei as palavras dela se assentarem, liguei o carro e entrei na Main Street. Na interseção virei para oeste, rumo à montanha. Antes de deixar o vale, eu queria ver minha casa. Ao longo dos anos, ouvi muitos rumores sobre meus pais, que eram milionários, que estavam construindo uma fortaleza na montanha, que tinham escondido comida para durar décadas. O mais interessante eram, de longe, as histórias sobre papai contratando e despedindo empregados. O vale nunca se recuperou da recessão e as pessoas precisavam de emprego. Meus pais eram dos maiores empregadores do condado, mas, pelo que eu sabia, o estado mental de papai tornava difícil manter empregados por muito tempo. Quando tinha um surto de paranoia, ele tendia a demitir as pessoas por bobagens. Meses antes tinha demitido Diane Hardy, a ex-mulher de Rob, aquele mesmo Rob que foi nos buscar depois do segundo acidente. Diane e Rob foram amigos de meus pais durante vinte anos. Até papai demitir Diane. Foi talvez em outro surto de paranoia que papai demitiu Angie, irmã de mamãe. Angie tinha falado firme com mamãe, acreditando que a irmã nunca trataria a família daquele jeito. Quando eu era criança, era o negócio de mamãe; agora era dela e de papai. Mas nesse teste de
quem era o dono da verdade, papai ganhou. Angie foi demitida. É difícil juntar as peças do que aconteceu depois, mas pelo que eu soube mais tarde Angie se inscreveu para receber o seguro-desemprego, e quando o Departamento do Trabalho telefonou a meus pais para confirmar que ela estava demitida, papai perdeu o pouco juízo que lhe restava. Disse que não era o Departamento do Trabalho ao telefone, e sim o Departamento de Segurança Interna, fingindo ser o Departamento do Trabalho. Angie tinha posto o nome dele na lista de terroristas em observação. Agora o governo estava atrás dele, do dinheiro, das armas e da gasolina. Era Ruby Ridge de novo. Saí da rodovia, parei no cascalho, desci do carro e olhei para o Buck’s Peak. Ficou imediatamente claro que pelo menos alguma coisa do que falavam era verdade. Para começar, que meus pais estavam ganhando enormes somas de dinheiro. A casa estava imensa. A casa onde cresci tinha cinco quartos; agora havia se expandido em todas as direções e parecia ter pelo menos quarenta. Era só uma questão de tempo, pensei, até papai começar a usar o dinheiro para se preparar para o Fim dos Dias. Imaginei o telhado cheio de painéis solares, dispostos como cartas de baralho. “Temos que ser autossuficientes”, papai diria, arrastando os painéis pela casa titânica. No ano seguinte, papai gastaria centenas de milhares de dólares comprando equipamentos para trazer água da montanha. Não queria ficar dependente do governo e sabia que devia haver água em Buck’s Peak, só faltava encontrar. Cortes do tamanho de campos de futebol surgiriam na base da montanha, deixando uma desolação de raízes quebradas e árvores reviradas onde antes havia uma floresta. Ele provavelmente estava entoando “Tem que ser
autossuficiente” no dia em que subiu na retroescavadeira e rasgou o cetim dos campos de trigo.
Vovó-da-cidade morreu no Dia das Mães. Eu estava fazendo pesquisa no Colorado quando recebi a notícia. Fui imediatamente para Idaho, mas na viagem percebi que não tinha onde ficar. Foi então que me lembrei de minha tia Angie e que meu pai falava com todo mundo que ela colocara o nome dele na lista de terroristas em observação. Mamãe havia se afastado dela. Eu tinha esperança de recuperá-la. Angie morava ao lado de meu avô. Mais uma vez, estacionei junto à cerquinha branca. Bati à porta. Angie me cumprimentou com polidez, como vovô tinha feito. Claro que ela havia ouvido minha mãe e meu pai falarem muito sobre mim nos últimos cinco anos. – Vou propor um acordo – eu disse. – Eu esqueço tudo que meu pai falou de você, e você esquece tudo que ele falou de mim. Ela riu, fechando os olhos e jogando a cabeça para trás, de tal modo que quase me partiu o coração, de tanto que parecia minha mãe. Fiquei com Angie até o funeral. Nos dias anteriores à cerimônia, irmãos e irmãs de minha mãe começaram a chegar à casa da infância deles. Eram meus tios e tias, mas alguns deles eu não via desde criança. Meu tio Daryl, que eu mal conhecia, sugeriu que todos fossem passar uma tarde num restaurante de que gostavam, em Lava Hot Springs. Minha mãe se recusou a ir. Não iria sem meu pai, e ele não queria saber de Angie. Numa bela tarde de maio, nos empilhamos em uma grande van para uma hora de viagem. Eu me sentia
desconfortável, ciente de estar tomando o lugar de minha mãe, indo com os irmãos e o pai dela numa excursão em lembrança da mãe dela, uma avó que nem conheci muito bem. Logo entendi que eu não a ter conhecido foi ótimo para os filhos, que desataram a contar recordações, adorando responder às minhas perguntas sobre ela. A cada história minha avó entrava num foco mais nítido, mas a mulher tomando forma na memória coletiva deles não era nada parecida com aquela de quem eu me lembrava. Foi então que entendi a crueldade com que a julguei, como minha percepção havia sido distorcida, porque eu a via por meio das lentes rudes de meu pai. Na viagem de volta minha tia Debbie me convidou para visitá-la em Utah. Meu tio Daryl lhe fez eco: – Nós vamos adorar que você vá ao Arizona. No espaço de um dia eu havia recuperado uma família – não a minha, a dela. O funeral foi no dia seguinte. Fiquei num canto, vendo meus irmãos chegarem aos pouquinhos. Lá estavam Tyler e Stefanie. Haviam decidido dar aulas em casa aos sete filhos, e, pelo que vi, as crianças estavam sendo educadas num alto padrão. Luke chegou em seguida, com uma filharada tão numerosa que perdi a conta. Ao me ver, cruzou o recinto e conversamos bastante, nenhum dos dois mencionando que não nos víamos havia meia década, nenhum dos dois aludindo ao porquê. Eu quis perguntar: “Você acredita no que papai fala sobre mim? Acredita que sou perigosa?” Mas não perguntei. Luke trabalhava para meus pais e, não tendo uma educação formal, precisava do emprego para sustentar sua família. Forçá-lo a tomar partido só traria sofrimento. Richard, que estava terminando o doutorado em química, tinha vindo do Oregon com Kami e os filhos. Do fundo da
capela, ele sorriu para mim. Poucos meses antes, ele havia escrito dizendo que lamentava ter acreditado em papai, gostaria de ter me ajudado quando precisei, e que de agora em diante eu podia contar com seu apoio. Éramos uma família, ele disse. Audrey e Benjamin escolheram um banco no fundo. Audrey chegou cedo, quando a capela ainda estava vazia. Tinha agarrado meu braço, cochichando que minha recusa a ver nosso pai era um pecado grave. – Ele é um grande homem – ela disse. – Você vai se arrepender pelo resto da vida por não ter a humildade de seguir o conselho dele. Foram as primeiras palavras que minha irmã me falou em anos, e eu não tinha como responder àquilo. Shawn chegou minutos antes da cerimônia, com Emily, Peter e uma menininha que eu nunca tinha visto. Era a primeira vez que eu estava no mesmo lugar que ele desde a noite em que matara Diego. Foi tenso, mas não precisava. Ele não olhou para mim nem uma vez. Meu irmão mais velho, Tony, se sentou junto com meus pais, seus cinco filhos espalhados pelo banco. Tony tinha concluído o supletivo, havia montado uma empresa de transportes bem-sucedida em Las Vegas, mas que não sobrevivera à recessão. Agora trabalhava para meus pais, assim como Shawn, Luke e suas esposas, além de Audrey e Benjamin. Pensando nisso, vi que todos os meus irmãos, exceto Richard e Tyler, eram financeiramente dependentes de meus pais. Minha família se partira ao meio – os três que deixaram a montanha e os quatro que ficaram. Os três com doutorado e os quatro sem diploma do ensino médio. Havia um abismo, cada vez maior.
Passou-se um ano até eu voltar a Idaho. Antes de o meu voo sair de Londres, escrevi a minha mãe, como sempre fiz e sempre farei, perguntando se ela queria me ver. Mais uma vez, a resposta foi rápida. Não, e nunca iria, a não ser que eu me encontrasse com meu pai. Estar comigo sem ele, ela disse, seria desrespeitar seu marido. Por um momento me pareceu sem sentido essa peregrinação anual a um lar que continuava a me rejeitar, e pensei se deveria mesmo ir. Então recebi uma mensagem de tia Angie. Dizia que vovô tinha cancelado seus compromissos para o dia seguinte, recusando-se até a ir ao templo, aonde ele ia toda quarta-feira, para estar em casa caso eu aparecesse lá. Angie acrescentou: “Vou te ver daqui a 12 horas! Mal posso esperar.” 12 As aspas na descrição do referido diálogo é paráfrase, não citação direta. O significado foi mantido.
Capítulo 40
Educação
Quando
criança, esperei minha mente se desenvolver, minhas experiências se acumularem e minhas escolhas se solidificarem, tomando uma forma de pessoa. Essa pessoa, ou essa forma de pessoa, tinha seu lugar. Ela era da montanha, que me formou. Somente quando fiquei mais velha me questionei se eu não acabaria do mesmo jeito que comecei, se a primeira forma que a pessoa toma é a sua verdadeira forma. Ao escrever as palavras finais desta história, não vejo meus pais há anos, desde o funeral de minha avó. Tenho muito contato com Tyler, Richard e Tony, e por eles, bem como por outros parentes, escuto notícias do drama contínuo na montanha, os ferimentos, a violência, as oscilações de lealdade. Mas agora elas chegam a mim como rumores distantes, o que é muito bom. Não sei se a separação é permanente, se algum dia vou encontrar um caminho de volta, mas isso me trouxe paz. Essa paz não veio com facilidade. Passei dois anos enumerando as falhas de meu pai, sempre atualizando as contas, como se fazer uma lista de ressentimentos, de cada ato, real ou imaginado, de crueldade ou negligência, fosse
justificar minha decisão de cortá-lo da minha vida. Uma vez justificada, achei que reprimir a culpa iria me aliviar e eu poderia retomar o fôlego. Mas justificativas não têm poder sobre a culpa. Não há raiva nem fúria dirigida a outros que a vença, porque a culpa nunca é por causa deles. A culpa é o medo da nossa própria desventura. Nada tem a ver com outras pessoas. Larguei a culpa quando aceitei minha decisão em seus termos, sem ficar remoendo eternamente velhas queixas, sem ficar comparando os pecados dele com os meus. Sem pensar mais no meu pai. Aprendi a aceitar minha decisão em benefício próprio, não por causa dele. Porque eu precisava, e não porque ele merecia. Era a única maneira de eu poder amá-lo. Quando meu pai estava em minha vida, lutando comigo pelo controle daquela vida, eu o via com os olhos de um soldado, pela bruma do conflito. Não conseguia perceber suas qualidades. Quando ele crescia para cima de mim, indignado, não era capaz de me lembrar que, quando eu era menina, ele dava gargalhadas de se sacudir inteiro, que faziam brilhar seus óculos. Em sua presença severa, eu nunca conseguia lembrar o jeito terno com que seus lábios tremiam, antes de serem queimados, quando uma recordação arrancava lágrimas de seus olhos. Só consigo me lembrar dessas coisas agora, com um lapso de quilômetros e de anos entre nós. Mas o que houve entre mim e meu pai é mais do que tempo ou distância. É uma mudança de mim mesma. Não sou mais a menina criada pelo meu pai, mas ele é o pai que a criou. Se houve um momento exato em que a brecha entre nós, que vinha rachando e se alargando por duas décadas, se tornou enfim grande demais para ser rejuntada, creio que
esse momento foi naquela noite de inverno em que me olhei no espelho do banheiro, enquanto, sem que eu soubesse, meu pai pegava o telefone com suas mãos aleijadas e ligava para meu irmão. Diego, a faca. O que se seguiu foi muito dramático. Mas o verdadeiro drama já tinha sido esgotado no banheiro. Foi esgotado quando, por motivos que não compreendo, fui incapaz de entrar no espelho e mandar meu eu de 16 anos em meu lugar. Até aquele momento, ela sempre estivera lá. Não importava o quanto eu parecesse ter mudado, o quanto minha educação fosse ilustre, quão alterada fosse minha aparência, eu ainda era ela. No máximo, eu era duas pessoas, uma mente cindida. Ela estava lá dentro e surgia cada vez que eu entrava na casa de meu pai. Naquela noite, eu a chamei e ela não respondeu. Havia me deixado. Ficou no espelho. As decisões que tomei depois daquele momento não foram as que ela teria tomado. Foram decisões de uma pessoa mudada, um novo eu. Essa mudança do eu pode ser chamada de muitas coisas. Transformação. Metamorfose. Falsidade. Traição. Eu chamo de educação.
Agradecimentos
Para com meus irmãos Tyler, Richard e Tony tenho a dívida maior por tornarem este livro possível, primeiro na vivência e depois na escrita. Eles e suas esposas, Stefanie, Kami e Michele, me ensinaram muito do que sei sobre a família. Tyler e Richard foram particularmente generosos com seu tempo e suas lembranças, lendo múltiplos rascunhos, acrescentando detalhes e, de modo geral, me ajudando a fazer o livro o mais acurado possível. Apesar de nossas perspectivas apresentarem diferenças em alguns aspectos, sua disposição para verificar os fatos desta história me permitiu escrevê-la. O professor David Runciman me encorajou a escrever essas memórias e foi um dos primeiros a ler o manuscrito. Sem a confiança dele no texto, eu talvez jamais tivesse essa certeza. Sou grata àqueles que fazem dos livros o trabalho de sua vida e que deram uma porção dessa vida a este livro: a minhas agentes, Anna Stein e Karolina Sutton, a meus maravilhosos editores, Hilary Redmon e Andy Ward, da Random House, e Jocasta Hamilton, da Hutchinson, bem como a muitas pessoas que trabalharam para editar, imprimir e publicar esta história. Destaco Boaty Boatwright da ICM, que foi um defensor incansável. Devo um
agradecimento especial a Ben Phelan, a quem coube a difícil tarefa de checagem dos fatos e que o fez com muito rigor, mas com grande sensibilidade e profissionalismo. Sou especialmente grata àqueles que acreditaram neste projeto antes que ele se tornasse um, quando era apenas um amontoado de papéis impressos em casa. Entre esses primeiros leitores estão a dra. Marion Kant, o dr. Paul Kerry, Annie Wilding, Livia Gainham, Sonya Teich, Dunni Alao e Suraya Sidhi Singh. Minhas tias Debbie e Angie voltaram à minha vida num momento crucial, e seu apoio significa tudo. Por acreditar em mim, sempre, obrigada ao professor Jonathan Steinberg. Por me garantir um refúgio, tanto emocional como prático, onde escrever este livro, eu estou em dívida com meu querido amigo Drew Mecham.
Nota sobre o texto
Algumas notas de rodapé foram incluídas para dar voz a lembranças que diferem das minhas. As notas concernentes a duas histórias – a queimadura de Luke e a queda de Shawn – são significativas e requerem comentários adicionais. Nos dois eventos, as discrepâncias entre relatos são muitas e variadas. A queimadura de Luke. Todos os que se encontravam lá no dia ou viram alguém que não estava lá ou não viram alguém que estava. Papai viu Luke, que viu papai. Luke me viu, mas eu não vi papai, que não me viu. Eu vi Richard, que me viu, mas Richard não viu papai. Nem papai nem Luke viram Richard. O que fazer desse carrossel de contradições? Depois de muito girar e a música parar, a única pessoa que todos concordam que estava realmente presente naquele dia era Luke. A queda de Shawn da prancha é ainda mais desnorteante. Eu não estava lá. Soube da história por outros, mas confiava que era verdadeira porque foi contada da mesma maneira durante anos, por muitas pessoas, e porque Tyler tinha ouvido a mesma história. Quinze anos mais tarde, ele a recordava como eu. Depois escrevi. Então apareceu outra história. “Não ficaram esperando”, dizia. “O helicóptero foi chamado na mesma hora.”
Eu estaria mentindo se dissesse que esses detalhes são irrelevantes, que o “quadro geral” é o mesmo, seja qual for a versão. Esses detalhes são importantes. Ou meu pai mandou Luke descer sozinho da montanha, ou não. Ou meu pai deixou Shawn no sol com um ferimento grave na cabeça, ou não. Um pai diferente, um homem distinto, nascia desses detalhes. Não sei em qual versão da queda de Shawn acreditar. O mais notável é que não sei em qual versão da queimadura de Luke acreditar, e eu estava lá. Posso retornar a esse momento. Luke está no chão. Olho em volta. Não há ninguém, nem sombra de meu pai, nem mesmo a ideia dele passando na periferia de minha memória. Mas na memória de Luke ele está lá, colocando-o cuidadosamente na banheira, ministrando homeopatia para o choque. O que extraio disso é uma correção, não de minha memória, mas do meu entendimento. Todos nós somos mais complicados que os papéis que nos atribuem as histórias que outras pessoas contam. Principalmente em famílias. Quando um dos meus irmãos leu o meu relato da queda de Shawn, me escreveu: “Não posso imaginar papai ligando para a emergência. Shawn teria morrido antes.” Mas talvez não. Talvez, após ouvir o crânio do filho se quebrando, o desolado baque de osso e cérebro no concreto, nosso pai não fosse o homem que pensávamos ser, e que passamos anos achando que era. Eu sempre soube que meu pai amava os filhos, e intensamente. Sempre acreditei que seu ódio a médicos fosse ainda mais forte. Mas talvez não. Talvez, naquele momento, um instante de verdadeira crise, seu amor tenha sobrepujado tanto seu medo como seu ódio. Talvez a verdadeira tragédia era que ele pudesse viver assim na minha mente e na de meus irmãos, porque sua reação em outros momentos, nos milhares de pequenos
dramas e crises menores, nos levasse a vê-lo nesse papel. Acreditar que se nós caíssemos ele não iria intervir. Morreríamos antes. Todos nós somos mais complicados que o desempenho que nos atribuem nas histórias. Nada revelou mais a verdade para mim do que escrever essas memórias – tentando colocar no papel as pessoas que amo, captar o sentido total delas em poucas palavras, o que é certamente impossível. Isso é o melhor que posso fazer: contar essa outra história em seguida à de que me lembro. De um dia de sol, um fogaréu, o cheiro de carne queimada e um pai ajudando o filho a descer a montanha.
Título original EDUCATED A MEMOIR Copyright © 2018 by Second Sally, Ltd. Todos os direitos reservados. Este livro é uma obra de não ficção. Alguns nomes e detalhes de identificação foram alterados. Proibida a venda em Portugal. Direitos para a língua portuguesa reservados com exclusividade para o Brasil à EDITORA ROCCO LTDA. Av. Presidente Wilson, 231 – 8º andar 20030-021 – Rio de Janeiro – RJ Tel.: (21) 3525-2000 – Fax: (21) 3525-2001 [email protected] www.rocco.com.br Preparação de originais SARAH OLIVEIRA Coordenação digital MARIANA MELLO E SOUZA Revisão de arquivo ePub ANNA EMÍLIA SOARES Edição digital: setembro, 2018.
CIP-Brasil. Catalogação na Publicação. Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ W543m Westover, Tara A menina da montanha [recurso eletrônico]: a trajetória real da americana que pisou numa sala de aula pela primeira vez aos 17 anos até a conquista do doutorado em Cambridge / Tara Westover; tradução Angela Lobo de Andrade - 1. ed. - Rio de Janeiro: Rocco Digital, 2018. recurso digital Tradução de: Educated : a memoir ISBN 978-85-8122-752-8 (recurso eletrônico) 1. Westover, Tara - Família. 2. Mulheres - Estados Unidos - Biografia. 3. Livros eletrônicos. I. Andrade, Angela Lobo de. II. Título.
18-50997
CDD: 920.72 CDU: 929-055.2
O texto deste livro obedece às normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
A Autora
TARA WESTOVER nasceu em Idaho, Estados Unidos, em 1986. Graduou-se pela Universidade Brigham Young em 2008, e posteriormente foi premiada com uma bolsa de estudos em Cambridge. Em 2010 foi pesquisadora visitante na Universidade de Harvard e por fim retornou a Cambridge, onde conquistou o doutorado em história em 2014. A menina da montanha é seu primeiro livro.
Três amigas, no ritmo do blues Moore, Edward Kelsey 9788581227436 416 páginas
Compre agora e leia Clarice, Barbara Jean e Odette, amigas desde a infância, estão de volta! Em uma pequena cidade onde todos se conhecem e as fofocas circulam livres, elas, que já enfrentaram os tombos, trancos e barrancos que a vida lhes apresentou, ainda se reúnem no restaurante do Earl para, juntas, enfrentarem seus problemas e encontrarem uma forma de viver plenamente.Quando um amor tardio floresce entre o Sr. Forrest Paine, o proprietário do Clube de Cavalheiros Pink Slipper, e a ultrarreligiosa Beatrice Jordan, famosa por gritar maldições aos clientes na porta do estabelecimento, essa improvável união promete sacudir a pequena comunidade de Plainview, Indiana. A cerimônia de casamento marca, inclusive, o retorno de uma lenda viva à cidadezinha: El Walker, o grande bluesman da guitarra, que faz uma inesquecível apresentação nesse lugar a que ele havia jurado – por bons motivos – nunca mais voltar.Mas Walker não é o único nativo com um obstáculo a superar. Em circunstâncias semelhantes, encontram-se as três amigas de uma vida inteira, conhecidas localmente como as "Supremes", que se reúnem todos os domingos depois da
igreja para comer no restaurante do Earl: Clarice, filha de Beatrice, se depara com a chance há tanto tempo esperada e o temor de ter uma grande carreira como pianista pela frente; Barbara Jean precisa lidar com a perda de uma mãe que a assombrou em vida; e Odette, faz de tudo para se reaproximar do marido em meio à fúria que o domina e que ela não compreende.Três amigas, no ritmo do blues é um livro repleto de humor e personagens inesquecíveis, em um emocionante conto sobre amizade, família, perdão e a vida em comunidade. Compre agora e leia
Cama Whitehouse, David 9788581221281 256 páginas
Compre agora e leia Malcolm Ede era um jovem belo e enigmático, que amedrontava os meninos e atraía as meninas. Em casa, merecia toda a atenção da mãe devotada e do pai, um senhor calado atormentado por uma tragédia. Esse cuidado excessivo devia-se, em parte, ao comportamento excêntrico do garoto, obcecado, entre outras coisas, por andar completamente nu. Seu irmão mais novo, assim como o resto da família, vivia na órbita da personalidade magnética e anormal de Malcolm. Inconformado, Mal, em protesto ao futuro tedioso – e sombrio – que o aguardava, resolve, aos 25 anos, não sair mais de sua cama.Aclamada estreia do jovem jornalista britânico David Whitehouse na ficção, Cama é narrada com emoção e altas dose de humor negro. O romance recupera a tradição literária do absurdo, ao colocar como protagonista o jovem Malcolm, de mais de 600 quilos, cuja presença sufoca a existência do restante da família, acachapada por uma força de atração compatível com seu tamanho. Cama é uma reflexão sobre amor, família, quebra de paradigmas. E mais, como diz Mal sobre
sua atitude: "É sobre fazer nada e fazer algo incrível ao mesmo tempo". Compre agora e leia
O artista da faca Welsh, Irvine 9788581227535 256 páginas
Compre agora e leia Francis Begbie está de volta!Francis "Franco" Begbie finalmente parece ter encontrado a vida perfeita – e agora está irreconhecível, até para si mesmo. Artista de sucesso, com suas pinturas e esculturas selvagens, ele agora atende pelo nome de Jim Francis e vive discretamente com a família, sua ex-terapeuta e agora esposa Melanie e as duas filhas pequenas e sorridentes, em uma cidade praiana na Califórnia. Alguns dizem que ele é esquisito, com suas esculturas desfiguradas de celebridades feitas à faca, enquanto outros o veem como um verdadeiro visionário.Mas Francis tem um passado sombrio, com outra identidade e um conjunto muito diferente de valores. Quando cruza o Atlântico de volta a sua Escócia natal para ir ao funeral do filho assassinado que ele mal conhecia, sua antiga comunidade de Edimburgo espera que ele se vingue do assassino de forma avassaladora e sangrenta. Mas ao confrontar-se com sua vida pregressa – todos aqueles amigos e desafetos que deixou para trás numa cidade claustrofóbica – e, o mais alarmante, com seu antigo eu, Francis parece ter outras ideias mais sutis do mal.Quando
Melanie descobre um fato terrível ocorrido na Califórnia antes de Francis viajar, e que pode indicar que o passado violento e psicopata de seu marido supostamente reformado ainda vive no presente, que a arte e a família não conseguiram sufocar a essência do homem, as coisas começam a sair de controle em pouco tempo.O artista da faca é um romance de suspense eletrizante, brutal, mas curiosamente redentor, e marca o retorno de um dos personagens mais famosos e aterrorizantes da ficção de Welsh, o incendiário sociopata Francis Begbie da gangue de Trainspotting, agora muito mais maduro e perigoso. Compre agora e leia
O que restou Oliva, Alexandra 9788581227306 320 páginas
Compre agora e leia Ela queria uma aventura. Mas nunca imaginou que chegaria tão longe.Tudo começa em um reality show. Doze concorrentes são enviados ao coração de uma floresta, para enfrentar desafios que testarão os limites de sua resistência. Enquanto eles se dispersam pela natureza selvagem, uma catástrofe em larga escala acontece em todo o país, sem que se saiba ao certo o que causou ou o tamanho exato da destruição.Isolados da civilização, os concorrentes permanecem alheios a tudo. E quando a competidora a quem os produtores do programa chamam de Zoo se depara com a devastação, ela imagina apenas que tudo é parte do jogo. Sozinha, desorientada e completamente alienada do que ocorre fora do seu campo de visão, Zoo reflete sobre a vida – e o marido – que deixou para trás, ao mesmo tempo em que reúne todas as suas forças para não ser eliminada de um jogo que, aos seus olhos, adquire contornos cada vez mais macabros.Avançando em território desconhecido, ela deve se valer de todos os seus talentos para sobreviver. Mas à medida que suas reservas físicas e emocionais parecem
chegar ao fim, Zoo começa a se dar conta de que o mundo real, longe das câmeras que ela mal enxerga, pode ter mudado de maneira drástica.Sofisticado e provocador, O que restou é um suspense de toques pós-apocalípticos, que nos faz refletir sobre o papel que a mídia desempenha em nossa percepção do que é real, a rapidez com que julgamos e a facilidade com que nos deixamos manipular. Compre agora e leia
Tudo que você quiser que eu seja Mejia, Mindy 9788581227467 352 páginas
Compre agora e leia Hattie Hoffman tem 17 anos e está diante do painel de partidas do aeroporto de Mineápolis buscando um voo para Nova York. Mas alguma coisa não parece certa, e ela logo se dá conta de que precisa voltar para Pine Valley, a pequena comunidade rural onde nasceu e de onde tentou fugir em busca de um sonho. Poucos dias depois, Hattie é assassinada em um celeiro abandonado. A brutalidade do crime e os segredos da adolescente que começam a vir à tona sacodem os alicerces da pequena cidade.O xerife Del Goodman, amigo de longa data da família de Hattie, segue a pista de um comprometedor relacionamento online entre ela e Peter Lund, um professor de inglês que chegou à escola no ano de sua formatura. Além do principal suspeito, o namorado da jovem também parece genuinamente perturbado com sua morte, mas seria possível que sua paixão tenha se tornado uma obsessão? Ou a natureza impulsiva e ousada de Hattie simplesmente a colocou no lugar errado na hora errada, levando-a a uma morte violenta nas mãos de um estranho?Em um clima tenso e
repleto de reviravoltas, Mindy Mejia reconstrói com maestria o último ano da vida de Hattie, uma adolescente tão cheia de vida quanto imprevisível, sob o ponto de vista de três personagens que, aos poucos, trarão à tona os segredos mais sombrios que uma cidade pequena seria capaz de abrigar.Tudo que você quiser que eu seja é um suspense que desafia o leitor a experimentar os limites entre inocência e culpa, identidade e engano. Compre agora e leia