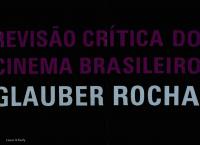Retratos das margens: do terceiro cinema ao cinema periférico 6556373842, 9786556373843
124 67
Portuguese Pages [213] Year 2022
Polecaj historie
Citation preview
Para Cecília e Walter, in memoriam. Para Alfredo, meu amor constante. Para Marina, Thomas, Gabriel e Sarah, meu futuro luminoso.
SUMÁRIO Nota prévia............................................................................................................................. 9 Os Estudos Culturais e o Terceiro Cinema........................................................... 13 A Terra em Transe: o cosmopolitismo às avessas do Cinema Novo........... 29 Rearticulando a tradição: rápido panorama do audiovisual brasileiro nos anos 1990.................................................................................................. 47 Os conceitos de subalternidade e periferia no cinema brasileiro . .... 63 Representações das metrópoles latino-americanas . ................................. 77 Da alegoria continental às jornadas interiores: o road movie latino-americano .............................................................................................................. 93 Entre as hipérboles freaks e as fantasias hegemônicas: representando a subalternidade no audiovisual nordestino ............. 111 Memórias de uma nação partida................................................................................ 129 A sensibilidade do banal no cinema contemporâneo.................................... 141 As cores do desejo. Alteridade, raça e sexo no cinema britânico......... 161 Efeitos de real em cinco cineastas do mundo................................................... 181
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
NOTA PRÉVIA
o
s ensaios deste livro foram reunidos ao longo de muitos anos de pesquisas sobre cinema e audiovisual, a partir de uma moldura teórica que privilegia os contextos, que delineia uma espécie de história cultural, que realça a noção de cinema como uma prática cultural e social. o foco (interdisciplinar e bem abrangente, por mais paradoxal que seja definir um foco de tal modo) de tais pesquisas foi o que poderíamos chamar de cinema periférico, com um olhar particularmente mais atento para o cinema latino-americano (outra generalização necessária) e mais especificamente ainda para o cinema brasileiro (mais outra). Tais pesquisas foram realizadas a partir dos Estudos Culturais, dando continuidade à minha trajetória dentro desse campo (ou, mais acuradamente, dessa convergência de campos), ao trabalho que realizei durante e após meu doutorado na inglaterra. friso a continuidade para explicar os vários elos entre este e meu primeiro livro, Cosmopolitismos periféricos (2002) – sobretudo no que se refere à sua estrutura (ensaios previamente publicados em periódicos especializados, anais de congressos, ou apresentados em eventos variados em versões diferentes das atuais) e questões teóricas, mas também com relação a certas intuições sobre a cultura que permaneceram ao longo de todos esses anos: a noção de descentramento, a interpenetração entre culturas, a complexificação do realismo no cinema e, sobretudo, um entusiasmo profundo com a produção artística e cinematográfica que se faz e se dá nas margens, nas brechas.
9
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
É importante, todavia, assinalar que esses caminhos trilhados na primeira década do século XXI têm um caráter datado, sobretudo no que diz respeito à teoria. Infelizmente algumas dessas intuições se revelaram por demais otimistas. O mundo não nos parece mais tão receptivo aos descentramentos, as margens estão cada vez mais segregadas. As questões conceituais mais urgentes das décadas passadas (o hibridismo, o pós-colonialismo, a alteridade, a contra-hegemonia, entre outras) foram dando lugar a lutas mais urgentes das minorias de raça e gênero, com ênfases talvez menos conciliatórias. E no campo mais específico do cinema, uma divisão mais convencional entre abordagens essencialmente formais e aquelas “conteudistas” – ou seja, ao nosso ver, uma tentativa de recuo a uma situação pré-teorias pós-modernas. No meu caso particular, vejo que, de fato, talvez eu também por um lado tenha me afastado um pouco do debate culturalista, e por outro tenha me aproximado de questões próprias da estética e da cultura visual de uma maneira mais formalista. Voltar a estes textos, porém, me fez justamente pensar o quão necessário ainda é ampliar as possibilidades de conexão entre o campo dos Estudos Culturais e o cinema contemporâneo. Reler esses trabalhos só reconfirmou para mim como a própria configuração do cinema mundial dos anos 2000 e 2010 demandava inequivocadamente a moldura metodológica dos Estudos Culturais. Nesse sentido, essa releitura serviu também para reconhecer que esse material constitui um registro duplo: de uma tendência teórica dos estudos de cinema e audiovisual (a consolidação de um enfoque culturalista para o cinema contemporâneo) e de um momento histórico do cinema mundial (o que de modo apressado e necessariamente redutor poderíamos chamar de realismo contemporâneo). Decidir chamar o livro de Retratos das Margens quiçá para frisar essa natureza de “instantâneo” de uma época, para marcar esse caráter de crônica de um tempo e para pontuar uma certa incompletude. Evidentemente, os artigos aqui reunidos não podem dar conta totalmente dessa passagem sugerida no subtítulo (do terceiro cinema ao cinema periférico), mas se tornam no mínimo ponto de partida de um debate crucial para 10
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
a história recente do cinema mundial (sobretudo os recortes já mencionados). O intuito é que este material possa ser utilizado nos cursos de Cinema e Audiovisual e também como a colaboração na construção de um arquivo e de uma memória sobre os desdobramentos dos Estudos Culturais no Brasil.
11
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
OS ESTUDOS CULTURAIS E O TERCEIRO CINEMA
E
ste ensaio pretende apresentar algumas notas sobre as possibilidades de conexão entre o campo dos Estudos Culturais e o Cinema contemporâneo. A intenção é tanto verificar como a própria configuração do cinema (especialmente aqueles filmes produzidos na periferia mundial ou aquilo que ainda pode ser chamado de Terceiro Cinema) demanda o olhar interdisciplinar que caracteriza a empresa metodológica dos Estudos Culturais, como também encontrar em alguns traços comuns que definem o cinema periférico novos desafios e inquietações para a teoria da cultura contemporânea. Para efetivar essa dupla operação, começaremos por apresentar muito panorâmica e resumidamente o surgimento dos Estudos Culturais e as transformações ocorridas ao longo dos últimos cinquenta anos na área, associando posteriormente essa trajetória à consolidação progressiva do circuito cinematográfico das margens do capitalismo. Percursos iniciais The desire called Cultural Studies is perhaps best approached politically and socially as the project to constitute a “historic bloc”, rather than theoretically a floor plan for a new discipline. Fredric Jameson, on Cultural Studies.
os Estudos Culturais aparecem como um campo de estudos na Grã-bretanha derivado de uma corrente chamada leavisismo, a partir do 13
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
trabalho de F.R Leavis. O leavisismo foi uma tentativa de redisseminar o agora chamado “capital cultural” (Bourdieu) e para isso Leavis propunha usar o sistema educacional para distribuir mais amplamente (para todas as classes) conhecimento e apreciação literários baseados numa “grande tradição”, no cânone da alta cultura. Apesar da influência de Leavis, tanto na prática (através da absorção de suas ideias nas escolas britânicas durante a expansão do sistema educacional nos anos 1950 e 1960), como na teoria, os dois representantes mais destacados desse início dos EC1 vão lidar de maneira diferente com essa ideia de “grande tradição”. Richard Hoggart e Raymond Williams, ambos oriundos das classes trabalhadoras inglesas, tiveram uma relação ambivalente com o leavisismo: por um lado, concordavam que os textos canônicos eram mais ricos que a cultura de massas (combatida pelo leavisismo), por outro, reconheciam que o leavisismo apagava ou não chegava a entrar em contato com as formas culturais compartilhadas pelas classes trabalhadoras. Hoggart, com The uses of Literacy (1957), e Williams, com Culture and Society (1958), vão estabelecer novas formas de analisar a cultura da classe operária. Um terceiro texto forma parte dos fundamentos dos EC, The making of the english working-class (1968), de E. P. Thompson. Nele, o historiador vai argumentar que a identidade da classe operária vai ter sempre um componente político e conflitual, independentemente de valores e interesses culturais particulares. Ao lado dessas obras fundadoras, o surgimento do Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) na Universidade de Birmingham, Inglaterra, vai ser crucial para a institucionalização dos EC. A partir do Centro, uma série de jovens teóricos começa a explorar seriamente as funções políticas da cultura e se interessar de maneira mais sistemática pelas manifestações da cultura de massa. Com uma orientação claramente marxista, alguns conceitos e teóricos se destacam como grandes influências para os primeiros representantes dos EC: o conceito de hegemonia, por exemplo, associado a Gramsci, vai ser central para descrever as relações de dominação nem sempre aparentes na sociedade. Também derivado de uma concepção gramsciana, o termo subalterno sintetiza um 1 Vamos utilizar aqui EC como abreviatura de Estudos Culturais.
14
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
dos principais focos de interesse dos EC, não apenas nos seus primórdios, como também na sua configuração atual. Os trabalhos da escola de Frankfurt sobre a Indústria Cultural também vão ter um papel relevante para a constituição do campo dos EC. Há uma série de afinidades entre a visão macro dos frankfurtianos sobre a sociedade e os EC, embora a teoria crítica alemã negligencie um aspecto essencial para os EC: as formas nas quais a indústria cultural, mesmo a serviço do capital, pode propiciar oportunidades para a criatividade individual e coletiva. Além do marxismo, a semiótica também vai formar a base dos EC, especialmente a partir do final dos anos 1960. Stuart Hall aparece como a figura cardeal de uma abordagem mais estruturalista do campo dos EC, na qual o enfoque vai para o exame atento de práticas significantes e processos discursivos. Evidentemente as duas tendências se entrecruzam permanentemente (esse entrecruzamento sendo, aliás, a característica mais seminal dos EC) e seria impreciso separar tão radicalmente duas trincheiras, uma culturalista (com ênfase nas formas de vida, ou “estruturas de sentimento”, como diria Williams) e outra estruturalista (semiótica). Demonstrando ser uma possibilidade de conexão entre essas duas perspectivas, o marxismo estrutural de Louis Althusser representa outra linha proeminente na lista das influências mais acentuadas para os EC, através da sua teorização sobre a ideologia. Os EC estabelecem um diálogo intenso com a teoria francesa, a ponto de poderem ser definidos justamente como um território de fronteira entre as ideias estruturalistas (e pós-estruturalistas) e os fundamentos marxistas. Além da influência de Althusser, poderíamos mencionar Foucault, Barthes, Lyotard e Derrida como algumas das figuras-chave da teoria francesa a serem apropriadas pelos EC, especialmente a partir dos anos 1980. Essa absorção do estruturalismo, da semiologia e do pós-estruturalismo franceses vai servir para uma reorientação dos EC: Com o tempo, Birmingham vai absorvendo as novas questões trazidas especialmente pelos pensadores franceses como Foucault, de Certeau, Bourdieu etc., passam do estudo das comunidades – articulados como classes ou subculturas – para
15
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
o estudo dos grupos étnicos, de mulheres, raciais e tornam-se a voz do outro na academia, absorvendo assim um contingente expressivo de antropólogos, sem entretanto abrir mão, da criação de novos cruzamentos intelectuais e institucionais que produzam o efeito político de expandir a sociedade civil. (HOLLANDA, 1996)
Essa associação dos EC com a teoria francesa nos leva a uma outra, talvez ainda mais dominante, com os conceitos relacionados ao pós-moderno (muitos deles derivados das teorias francesas). Aliás, a primeira fase de delimitação do conceito de pós-moderno/pós-modernismo coincide com o florescimento do chamado (em termos bem gerais) pós-estruturalismo francês, o que resulta na subsequente e frequente associação da terminologia do último à construção do primeiro. A arte e a cultura pós-modernistas implicam na prática da citação, na recuperação lúdica do passado, na des-hierarquização, no descentramento das formas; e quase todos os filósofos franceses pós-1960 (Foucault, Derrida, Barthes, Guattari, Deleuze, Baudrillard, Lyotard...), vale lembrar que lidando com objetos, perspectivas e graus de complexidade muito diferentes entre si, chegaram a analisar discursos e sociedades sob o filtro de noções como descentramento, fragmentação dos sujeitos e das experiências, esquizofrenia, micropolitização do social, etc. A intersecção entre pós-modernismo e pós-estruturalismo se intensificou com a conhecida e discutida proposição de Jean-François Lyotard (1979), que começa a definir o pós-moderno no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. Lyotard afirma que a pós-modernidade é a época em que já não existem mais metanarrativas, onde os jogos de linguagem, múltiplos e heteromórficos predominam numa sociedade pontilhista, na qual é impossível estabelecer regras gerais. A filosofia francesa desta época, em geral, condenou os esquemas interpretativos absolutos (como o marxista e freudiano, por exemplo) e se baseou em uma crítica dos procedimentos racionais ocidentais, mesmo que não nomeassem diretamente o pós-moderno/pós-modernismo. A consequência mais imediata deste tipo de corte epistemológico e de enfoque foi a inclusão de nomes como os de Foucault, Derrida, Deleuze, etc. 16
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
sob o rótulo de pós-modernos, mesmo quando o rótulo não encaixava perfeitamente. Andreas Huyssen afirma que: “Em si, isso não reduz o poder da teoria. Mas faz com que haja uma espécie de mixagem em que a linguagem pós-estruturalista não está em sincronia com o corpo pós-moderno” (HUYSSEN, 1991, p. 62). Huyssen, como outros críticos dessa “ligação de ocasião”, quase que apenas circunstancial, do pós-estruturalismo com o pós-modernismo, insistiu em considerar esta linha de pensamento crítico uma arqueologia da modernidade: os objetos de análise, os procedimentos mais básicos, as categorias mais fundamentais da teoria pós-estruturalista, todos seriam derivados de um olhar predominantemente voltado para a modernidade e para os modernismos. O pós-estruturalismo seria, então, uma fronteira da modernidade (com tudo o que implica nessa condição de fronteira) e não a encarnação teórica do pós-modernismo; por mais que por ser um modernismo nos seus limites carregasse necessariamente um potencial autodestrutivo e autocrítico, marcado pela transgressão dos limites da linguagem. Não é tão fácil, todavia, dissociar o chamado pós-estruturalismo do pós-modernismo e da pós-modernidade. Especificamente os conceitos e teorias derivados desta linha teórica é que deram sustentação filosófica ao pós-modernismo, e, em vários sentidos, a várias das configurações contemporâneas dos EC. Além dos discursos sobre o pós-moderno, derivados do debate sobre e com a teoria francesa, outras tendências importantes dos EC contemporâneos são a teoria pós-colonial e a teoria crítica que lida diretamente com as questões das minorias e das micropolíticas. A produção cultural da periferia e o debate sobre ela têm consolidado um viés nos EC: a definição de política (teórica e prática) das minorias. As diferenças culturais precipitam um imperativo para o teórico da cultura, que é preparar uma moldura conceitual que revise e recoloque o papel das minorias, dos subalternos, dos periféricos, do que era chamado de Terceiro Mundo na reordenação “global” da cultura. Precisamente no corpus dos Estudos Culturais contemporâneos e das teorias pós-colonialistas é que veremos as análises mais agudas dos processos dessa reordenação.
17
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Os Estudos Culturais e o pós-colonialismo reafirmam, como antes as teorias e políticas terceiro-mundistas, mas de modo muito mais articulado e sistemático, o papel do periférico na História e a própria História periférica. O lugar do periférico na configuração da cultura contemporânea e na crítica, análise e teoria dessa cultura, portanto, está muito diferenciado em contraste com as disciplinas mais tradicionais. É um ponto de observação privilegiado no sentido da multiplicidade desse espaço intermediário. É evidente que muitas outras teorias e estéticas já desenvolveram e problematizaram conceitos como representação, identidade, alteridade, hibridismo, colonização, Ocidente, Oriente. Entretanto, a partir dos Estudos Culturais tais elementos e noções são colocados num marco de referências que, ao invés de simplesmente inverter ou descartar termos e hierarquias, vai questioná-los na sua essência e na sua malha de inter-relações, vai pensar as condições de possibilidade, continuidade e utilidade da sua construção. Os Estudos Culturais trabalham precisamente com essa possibilidade da superação de esquemas binários (cópia/original; modernidade/tradição; centro/periferia), mas não com a sua inversão radical (BHABHA, 240). Para os Estudos Culturais, o debate sobre o pós-moderno serve, apesar da multiplicidade de “encarnações”, propósitos e definições, fundamentalmente para designar e dar corpo à crise de centralidade pela qual passa o Ocidente. Insistimos que tal crise é a pedra de toque da teoria contemporânea, que vai repensar a diferença cultural a partir do descentramento pós-moderno. Os discursos tecidos num entre-lugar, as teorias baseadas nas culturas periféricas, as políticas da diferença apontam para um entrelaçamento entre experiência cultural, a prática da crítica e o terreno da política, para um transbordamento da cultura para fora do campo estético. Indicam que os Estudos Culturais formam um campo fortemente marcado pela utopia: a utopia dos discursos da heterogeneidade, dos sonhos singulares, de um entre-lugar complexo e híbrido. Ou seja, discursos que, num paradoxo sempre intrigante, almejam uma certa harmonia nas diferenças.
18
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Terceiro Mundo e Terceiro Cinema Essa mesma moldura apresentada acima poderia ser facilmente aplicada à história do cinema: movimentos que refletiam as profundas transformações pelas quais o mundo estava passando, e que por sua vez também definiam o espírito da época de modo paradigmático. Das novas ondas aos novos cinemas, passando pelos neorrealismos e cinemas livres, especialmente a partir do final dos anos 1950, o cinema (e o estudo do cinema também pode ser incluído numa percepção mais abrangente do fenômeno) passa a ser fortemente marcado pela política. Destacamos a influência que o conceito de Terceiro Mundo teve para a construção dos imaginários cinematográficos (não apenas os cinematográficos, é evidente). O termo Terceiro Mundo começou a ser utilizado por demógrafos e geógrafos franceses nos anos 1950 como a outra peça no quebra-cabeça do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, em relação a um Primeiro Mundo capitalista e ocidental e um Segundo Mundo socialista. Nesta época, talvez com o valor de eufemismo, ele substitui a ideia mais difusa, menos organizada e mais traumática de “países pobres”. A partir das lutas de independência das colônias europeias na África e na Ásia, o termo adquire um certo prestígio. A unidade pretendida por ele traz, pois, em seu bojo, uma dimensão revolucionária. A dimensão de relevar as diferenças em prol de um ideal libertário legitimaria então a noção de Terceiro Mundo. Na conferência de Bandung, em 1955, o termo teve a sua primeira expressão política oficial, quando se reuniram todas as nações “não alinhadas” – ou seja, nem ao Primeiro Mundo, nem ao Segundo (HARLOW,1987). A concepção libertária de Terceiro Mundo foi favorecida por paradigmas apresentados nos séculos e, principalmente, nas décadas anteriores: pelo existencialismo, pelas leituras que o Terceiro Mundo fez de Sartre, pelo próprio declínio do humanismo (JAMESON, 1984). Um modelo estabelecido por Frantz Fanon, em Les damnés de la terre, de 1961, obra precursora, em certa medida, da unidade, do “chamamento” ao Terceiro Mundo. Um chamamento de luta, de violência, de uma relativa 19
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
rejeição dos cânones “ocidentais”: uma tentativa de livrar-se de certas concepções de cultura, sociedade, história, política... O impacto da visão de Fanon é notável por sua disseminação em todo(s) o(s) mundo(s) (especialmente no “Terceiro”, obviamente). A sua influência deve-se tanto à sua teorização sobre descolonização e violência, à sua apreensão do espírito da época e à denúncia anti-imperialista que ele inspira, como à sua capacidade de pensar essa descolonização como construção violenta sim, mas com fins utópicos. Uma provável unidade terceiro mundista possibilitaria a atuação destacada do Terceiro Mundo no “mundo”, na ordem internacional. A voz coletiva desse legado de pobreza e exploração se fez ouvir mais forte durante os anos 1960 e com as revoluções vencedoras e também as fracassadas que assustam e maravilham este “mundo”. Desde o pós-guerra, a Nouvelle Vague francesa revolucionando esteticamente o cinema e o neorrealismo italiano e o Free Cinema Britânico mostrando uma Europa quase terceiro-mundista, os estudantes em Maio de 1968, o movimento norte-americano contra a Guerra do Vietnã, os hippies americanos “instituindo” uma contracultura. O “mundo” viu Cuba, as guerrilhas, Che, a Revolução Cultural chinesa: a cultura mundial acabou sendo influenciada e influenciando os movimentos políticos simultaneamente.
Fig. 1: Roma, cidade aberta (Roberto Rossellini, 1946); Fig. 2: Um gosto de mel (Tony Richardson, 1961); Fig. 3: A chinesa (Jean-Luc Godard, 1967).
Ou seja, o conceito de Terceiro-Mundo serve a partir dos anos 1960 – para além das delimitações eufemísticas e conservadoras da geografia contemporânea – para estabelecer uma unidade de cunho libertário e idealista. Os processos de descolonização, de conscienti20
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
zação social e de luta política desencadeados no globo ao longo deste período não se esgotam em si mesmos: eles fazem parte da grande crise da modernidade que implica também numa reorganização (ou desorganização) cultural em todos os cantos do globo. Uma das mais diretas e evidentes influências da consciência terceiro-mundista (e todas as suas implicações) foi a própria constituição da ideia de Terceiro Cinema. De acordo com a ideia de transformação da sociedade pela conscientização trazida à tona pelos ideais terceiro-mundistas, os principais temas dos filmes do Terceiro Cinema vão ser a pobreza, a opressão social, a violência urbana das metrópoles inchadas e miseráveis, a recuperação da história dos povos colonizados e oprimidos e a constituição das nações. Os praticantes do Terceiro Cinema recusam adotar um modelo único de estratégias formais ou transformar-se em um “estilo”, embora isto não tenha significado que eles estivessem alheios ao cinema mundial e à ideia de um modelo, se aberto, ao menos em linhas gerais unificador. Ou seja, além de buscar os temas nas esferas marginalizadas da sociedade, estes cineastas demonstram laços estilísticos estreitos com o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa. Tais influências vão ser sentidas em dois níveis principais: o neorrealismo italiano serve como proposta similar de abordagem formal que pode ser aproveitada por sua simplicidade, baixo custo e linguagem direta; e a Nouvelle Vague enquanto afirmação do “cinema de autor”, o que possibilita a consolidação das linguagens individuais dos principais expoentes do movimento. A partir desses elementos, emerge um conjunto de procedimentos mais ou menos comuns à maioria dos diretores engajados na denúncia social.
21
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Fig. 4: O sangue do condor (Jorge Sanjinés, 1969); Fig. 5: A hora dos fornos (Fernando Solanas, 1968); Fig. 6: Terra em transe (Glauber Rocha, 1967).
Por um lado, técnicas abertas e simples (em contraste com sofisticação tecnológica do modelo de estúdios hollywoodianos), por outro, a veiculação de ideias complexas e revolucionárias, como a liberação terceiro-mundista, as teorias do subdesenvolvimento, etc. O Terceiro Cinema pode ser visto, assim, como um statement sobre o cosmopolitismo de duas vias: primeiro, como interpretação latino-americana das últimas tendências estéticas europeias (cosmopolitismo “à moda antiga”) como o neorrealismo e a Nouvelle Vague. Segundo, como negação desse cosmopolitismo tradicional em que existe um Centro metropolitano definindo o que os povos subalternos devem fazer. No Terceiro Cinema, os destituídos são colocados no Centro. A atitude é de rebeldia e não apenas a rebeldia estética, mas a rebeldia política e de ação social. É irrefutável que o Terceiro Cinema, que teve na América Latina seus primeiros e talvez mais eminentes cineastas e teóricos (Fernando Solanas e Octavio Getino na Argentina; Glauber Rocha no Brasil, Jorge Sanjinés na Bolívia) (DISSANAYAKE e GUNERATNE, 2003, p. 3), teve seu período áureo exatamente na mesma época em que o chamamento terceiro-mundista ecoava com mais força, ou seja, durante os anos 1960, ápice da contracultura e momento crucial de formação, prática e teorização de uma “estética geopolítica” (JAMESON, 1995). E assim como as utopias terceiro-mundistas foram definhando ao longo da década de 1980, também a noção de Terceiro Cinema foi gradualmente perdendo lugar (tanto nas salas de exibição, como na própria pesquisa na área de cinema e audiovisual).
22
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Os anos 1980 foram quase definitivos para o “Terceiro-Mundismo” (para o conceito de Terceiro Mundo, para a estética terceiro-mundista, para a prática revolucionária terceiro-mundista que restou dela). Primeiro porque foi a partir desta década que se questionou teoricamente com mais ênfase a validade do termo, justamente a partir dos Estudos Culturais e do pós-colonialismo. Também nos 1980, começamos a assistir ao ocaso do Segundo Mundo (culminando na sua “dissolução” como Segundo Mundo, simbolizada pela queda do Muro de Berlim, em 1989). O não alinhamento às grandes potências se esgotou como estratégia de resistência e oposição ideológica. Por isto também, a estética terceiro-mundista radical pereceu e outras “terceiras margens” foram buscadas, já que não parecia funcionar mais a apologia do oprimido. Talvez tenha acontecido a desilusão final do Terceiro Mundo como categoria unificada e indivisível: The term Third World, post-colonial critics insist, was quite vague in encompassing within one uniform category vastly heterogeneous historical circumstances and in locking in fixed positions, structurally if not geographically, societies and populations that shifted with changing global relationships. (DIRLIK, p. 332)
Convergências contemporâneas nas margens Se os anos 1980 representaram uma espécie de vácuo para o Terceiro Cinema (e para a estética terceiro-mundista) como um todo, a segunda metade dos 1990 significou a reemergência de muitas das questões ligadas ao imaginário político-social das décadas de 1960 e 1970. Entretanto o que podemos chamar de “reinsurgência da periferia” ou “reencenação da subalternidade” se deu de maneira muito distinta do discurso engajado precedente. Poderíamos dizer que, de maneira muito geral, os anos 1980 foram um período no qual não parecia fazer parte do dominante cultural dos principais países “terceiro-mundistas” produtores de cinema (em especial a América Latina) a representação de aspectos políticos, e a tematização das identidades nacionais e das realidades mais desoladoras foram quase 23
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
que totalmente abandonadas, e quando ainda se insistia numa temática mais próxima àquela do Terceiro Cinema original, o resultado refletia uma espécie de esvaziamento. Contudo, a retomada representada pelos anos 1990 representa menos uma drástica mudança e mais um gradual amadurecimento dos preceitos culturais (e até teóricos) anteriores. As próprias tendências acadêmicas mundiais rumo a uma valorização do ex-cêntrico, do periférico, do marginal (BHABHA, 1998) tiveram um efeito revigorante sobre os cinemas nacionais. Até mesmo os renovados paradigmas filosóficos e sociológicos trazidos à tona pelos Estudos Culturais e teorias pós-coloniais, embora de forma muito lateral e específica, contribuíram não apenas para o redespertar do interesse no agora chamado World Cinema, mas para revitalizar os instrumentos de leitura e recepção dos filmes. O cinema periférico tem emergido nos últimos anos como uma espécie de moda cultural dos grandes centros. Está quase que automaticamente preservado o “direito de exibição” por essas “denominações de origem”. Esse lugar de destaque – conquistado sobretudo a partir do final da década de 1990 e início dos 2000 com filmes como O Balão Branco (Irã, 1995); Central do Brasil (Brasil, 1998), Amores Brutos (México, 1999), Nove Rainhas (Argentina, 1999), Amor à flor da Pele (Hong Kong, 2000) – não é definido por uma unidade estética ou temática (embora possamos agrupar algumas recorrências, evidentemente, ao longo das duas últimas décadas), mas sim pela vaguíssima possibilidade de redelineamento da noção de Terceiro Cinema através do termo World Cinema e do conceito de multiculturalismo.
Fig. 7: A Viagem (Fernando Solanas, 1993); Fig.8: Gosto de cereja (Abbas Kiarostami, 1997); Fig.9: Felizes Juntos (Wong Kar Wai, 1997).
Entretanto, podemos apontar (de modo talvez excessivamente panorâmico e superficial) algumas características do antes chamado 24
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Terceiro Cinema a partir dos anos 1990: 1. Há uma busca explícita pela inserção no mercado de cultura mundial. Tal inserção está, de certo modo, garantida pelo espírito do tempo, um momento bem propício no qual a cultura periférica não apenas passa a ser percebida pela cultura central, como passa a ser consumida na metrópole; o ponto em que a diferença cultural passa a ser encarada quase como estratégia de marketing. 2. É evidente também a forte inclinação para o passado, numa tentativa explícita de rearticulação da tradição ou de reelaboração nostálgica do discurso de identidade nacional. Podemos ver nesse retorno ao passado tanto os sintomas do que parece ser um dos traços mais marcantes do contemporâneo (a nostalgia), como também pode ser a emergência de um diálogo mais enfático da tradição com a modernidade, um diálogo que vai pressupor uma desconstrução da própria ideia do nacional a partir de um cosmopolitismo ex-cêntrico. Esse cinema apresenta, num direto contraponto com a cultura yuppie, consumista e frívola de um primeiro pós-modernismo dos anos 1980, uma tentativa de rearticulação com a tradição, e afirma constantemente as narrativas da nação, mas frequentemente procurando subverter noções fechadas sobre identidade. O passado, a tradição, a História passam a ser material fundamental dessa produção cinematográfica. 3. Tais opções sugerem um segundo pós-modernismo cinematográfico ligado ao Terceiro Cinema, em oposição ao preexistente nos anos 1980. Um pós-modernismo marcado pelos princípios de “recuperação”, de “reciclagem”, de “retomada” da tradição, da história e de certo autoexotismo em oposição ao gosto pelo estrangeiro, pelo cosmopolitismo tradicional, pelo discurso internacionalista do pós-modernismo da década anterior. Nesse sentido, vão sendo definidas “modernidades periféricas”. 4. O cinema contemporâneo se volta para a documentação do pequeno, do marginal, do periférico, mesmo que para isso se utilize de técnicas e formas de expressão (às vezes até equipe de produção) de origem central, metropolitana, hegemônica. 5. Ou seja, a “diferença”, a história e a identidade periféricas tal como representadas pelo cinema contemporâneo tornam-se peças constitutivas da tentativa de integração ao modelo capitalista global. A insistência numa representação do periférico ou a referência ao discurso de identidade nacional demonstram mais 25
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
do que uma recuperação do idealismo ou do engajamento das estéticas do terceiro cinema (que pode emergir como resíduo ou vestígio), uma adesão a uma estética de mercado (a do world cinema, a da world culture).
Fig. 10: Carlota Joaquina (Carla Camuratti, 1995); Fig. 11 O abraço partido (Daniel Burman, 2004); Fig. 12: Gosto de melancia (Ming Liang-Tsai, 2004).
6. A cidade desenhada pelo “novo” Terceiro Cinema pouco tem a ver com os clichês recorrentes (um exemplo muito interessante está na forma como Buenos Aires é representada no filme Felizes Juntos, do chinês Wong Kar Wai, que mostra um casal gay, originário de Hong Kong, em férias em Buenos Aires. Depois de gastar todo o dinheiro que tinham, passam por uma série de contratempos que os impede de voltar para a Ásia. A ideia aqui foi subverter o olhar, foi mostrar uma tradução asiática da América Latina. Cosmopolitismos periféricos ao pé da letra.). E é precisamente através de imagens urbanas pouco usuais e da opção estética pelo pequeno, pelo detalhe, pelo periférico que os filmes constroem uma representação alternativa, mais plena de nuances e mais complexa do mundo contemporâneo. 7. Remontando, em certa medida, à temática do Terceiro Cinema original (desvalidos, subalternos, excluídos), porém sem deixar de privilegiar os aspectos técnicos do cinema (a maior parte da produção contemporânea periférica tem imagem e som comparáveis às grandes produções do cinema mainstream), o cinema periférico contemporâneo estaria atualizando o discurso do terceiromundismo (ou seja, uma maneira pós-moderna de falar da subalternidade, do periférico) retirando dele o tom politicamente engajado explícito, a “estética da fome” e a técnica propositadamente limitada. É possível contudo enxergar nessas vias tomadas pelo Terceiro Cinema, especialmente para o argumento desenvolvido aqui, não somente a vaga delimitação de uma possível estética contemporânea – e que talvez 26
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
pudesse ser aplicada a outras esferas da cultura –, mas também as evidências da necessidade de um instrumental teórico suficientemente abrangente, flexível e múltiplo para compreendê-lo – e os Estudos Culturais, desde suas encarnações mais tradicionais, desde os estudos de audiência, passando por suas versões pós-modernas e pós-estruturalistas, até a as visões mais correntes do multiculturalismo, seriam, indubitavelmente, a referência indispensável para isso. Por sua vez, o cinema tem sido o cerne de uma significativa parcela das publicações recentes na área de Estudos Culturais (como por exemplo SHIEL e FIZTMAURICE, 2001; BARBER, 2002; VITALI e WILLEMEN, 2006; GRANT e KUHN, 2006; BADLEY, PALMER, e SCHNEIDER, 2006, entre muitos outros). Há, portanto, um notável interesse das teorias da cultura em dar conta dessa produção cinematográfica, reconhecendo nela simultaneamente um corpus relevante de objetos materiais do contemporâneo (passíveis de análise formal) e um campo de representações (e muitas vezes também de práticas) de subversão e resistência subculturais. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BADLEY, Linda, PALMER, R. Barton e SCHNEIDER, Steven Jay (eds.). Traditions in World Cinema. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2006. BARBER, Stephen. Projected Cities. Cinema and Urban Space. Londres: Reaktion Books, 2002. BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. DIRLIK, Arif. The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism, Critical Inquiry 20 (1994), p.328-356. DISSANAYAKE, Wimal e GUNERATNE, Anthony (orgs.). Rethinking Third Cinema. Londres/Nova York: Routledge 2003. DURING, Simon (ed.). The Cultural Studies Reader. Londres/Nova York: Routledge, 1993. GRANT, Catherine e KUHN, Annette (eds.). Screening World Cinema. Londres/ Nova York: Routledge, 2006. HARLOW, Barbara. Resistance Literature. Londres/Nova York: Methuen, 1987.
27
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Estudos Culturais na Academia. In: Seminário Trocas Culturais na Era da Globalização, 1996, Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.ufrj.br/pacc/global.html. HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo – História, Teoria, Ficção. Rio de Janeiro: Imago, 1991. HUYSSEN, Andreas. Mapeando o pós-moderno. In: Pós-modernismo e política. Heloisa Buarque de Hollanda (org.). Rio de Janeiro: Rocco, 1991. JAMESON, Fredric. The Geopolitical Aesthetic. Cinema and Space in the World System. Londres/ Bloomington: British Film Institute / Indiana University Press, 1995. ____________. On Cultural Studies, Social Text 34, v. 11, n. 1, 1993, p. 17-52. ____________. Periodizing the 60s. In: The 60s without apology. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. ____________. Pós-modernismo. A lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996. MOREIRAS, Alberto. A exaustão da diferença. A política dos estudos culturais latino-americanos. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001. PRAKASH, Gyan. Postcolonial Criticism and Indian Historiography, Social Text 31-32, 1992, p.6-18. SHOHAT, Ella e STAM, Robert. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Crítica del pensamiento eurocéntrico. Buenos Aires: Paidós, 2002. VITALI, Valentina e WILLEMEN, Paul (orgs.). Theorising National Cinema. Londres: British Film Institute, 2006.
28
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
A TERRA EM TRANSE: O COSMOPOLITISMO ÀS AVESSAS DO CINEMA NOVO
“The unity of the Third World is not yet achieved. it is a work in progress(...). This is what fanon explains to his brothers in Africa, Asia and latin America: we must achieve revolutionary socialism all together everywhere, or else one by one we will be defeated by our former masters.” jean Paul Sartre
C
omo já foi observado no ensaio anterior, a influência de frantz fanon é enorme na consolidação de uma cultura terceiro-mundista, quase como um projeto é para todo o Terceiro Mundo (ou para todos os povos oprimidos, já que fanon analisa o mundo colonial sem distinções entre Primeiro e Segundo): The colonial world is a world cut in two. (...) The zone where the natives live is not complementary to the zone inhabited by the settlers. The two zones are opposed, but not in the service of a higher unity. (...) No conciliation is possible, for the two terms, one is superfluous. (fANoN, p. 29-30)
No curso histórico do conceito de Terceiro Mundo, ora se viu a sua ligação com ideias conservadoras (que no melhor dos casos chegavam a ser reformistas e desenvolvimentistas), ora se detectou movimentos libertários e utopistas revolucionários. Neste primeiro momento (anos 1960 e 1970), a segunda opção é a mais importante e profícua que o Terceiro 29
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Mundo escolhe. Inclusive em relação às alternativas culturais advindas desta “atitude”. Ao contrário dos terceiro-mundistas “complexados e entreguistas”, os terceiro-mundistas “revolucionários” trouxeram à tona os movimentos pelas culturas nacionais e populares, os novos movimentos de cinema nacional (como no Brasil o Cinema Novo e o manifesto da Estética da Fome de Glauber Rocha, visivelmente inspirado por Frantz Fanon), a literatura de resistência, o Boom latino-americano, a música de protesto. Ou seja, o conceito de Terceiro-Mundo serve a partir dos anos 1960 – para além das delimitações eufemísticas e conservadoras da geografia contemporânea – para estabelecer uma unidade de cunho libertário e idealista. Os processos de descolonização, de conscientização social e de luta política desencadeados no globo ao longo deste período não se esgotam em si mesmos: eles fazem parte da grande crise da modernidade que implica também numa reorganização (ou desorganização) cultural em todos os cantos do globo. Uma das mais diretas e evidentes influências da consciência terceiro-mundista (e todas as suas implicações) na produção cultural brasileira foi a fundação e o desenvolvimento do Cinema Novo, um dos principais movimentos artísticos surgidos no Brasil dos anos 1960. Se antes do Cinema Novo, os esforços cinematográficos brasileiros estavam marcados pela descontinuidade dos ciclos regionais ou de autores isolados (como a partir da década de 1920 com o ciclo do Recife, o de Cataguases – Humberto Mauro – e o cineasta Mário Peixoto, realizando um dos mais “festejados” filmes da história do cinema brasileiro, Limite (1930) ou pela tentativa de imitação de Hollywood (com as chanchadas)), a partir de filmes como Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Os Fuzis, o cinema brasileiro renova não só as suas próprias temáticas e técnicas, como também revoluciona a cultura brasileira como um todo, justamente após um longo período de conformismo e estagnação. O que se vê durante os anos 1940 e 1950 em geral, são os princípios vanguardistas do modernismo sendo quase que esquecidos; o romance regionalista repetindo sua fórmula à exaustão – com a importante exceção de Guimarães Rosa; a ideologia 30
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
nacionalista-desenvolvimentista dos anos JK de certa maneira camuflando uma dívida externa gigantesca. Embora os anos JK tenham visto um aumento considerável na produção cinematográfica brasileira e consequentemente um aumento da diversidade de temas e abordagens, com diretores como Nélson Pereira dos Santos realizando Rio Zona Norte em 1957, pode-se dizer que o período inicial do Cinema Novo vai ser inaugurado com Barravento (1962), de Glauber Rocha, já no governo de João Goulart, herdeiro do populismo getulista (e apesar disto considerado “radical” pela direita). O conturbado período da presidência de Goulart, o Jango, trouxe à tona a extrema polarização entre as demandas populares por reformas mais profundas na sociedade e política brasileiras e as forças conservadoras do país. O surgimento do Cinema Novo deve-se a este contexto e à reação da intelectualidade de esquerda, que mantinha altas expectativas de real mudança em relação a este mandato. Jango não conseguiu levar a cabo o seu programa de reforma agrária, nem todos os outros planos relativos a mudanças sociais e políticas. Mas nos três anos da sua gestão, o Cinema Novo teve condições de consolidar-se como um dos movimentos culturais da esquerda terceiro-mundista de maior projeção internacional. Como concebido por cineastas como Glauber Rocha, Nélson Pereira dos Santos, Ruy Guerra e Carlos Diegues, entre outros, o Cinema Novo é o fruto da necessidade da consciência terceiro-mundista, mais do que uma estética fechada. Os jovens cineastas brasileiros dos anos 1960 entoam o lema “com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão” e acreditam que com isso será possível despertar nas grandes massas essa consciência. Em 1962, escrevendo no jornal da União Nacional dos Estudantes (UNE), Carlos Diegues recusa o esteticismo de uma herança modernista e afirma o Cinema Novo como ato político: Cinema Novo has no birthdate. It has no historic manifesto and no week of commemoration. It was created by no one in particular and is not a brainchild of any group. (...) Cinema Novo is not novo merely because of the youth of its practicioners. Nor does novo, in this context, suggest novelty or
31
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
modishness. Cinema Novo is only part of a larger process transforming Brazilian society and reaching, at long last, the cinema. (DIEGUES in JOHNSON e STAM, 1980, p. 65)1
De acordo com a ideia de transformação da sociedade pela conscientização, os principais temas dos filmes dessa primeira fase do Cinema Novo vão ser a pobreza nordestina, a opressão social, a violência urbana das metrópoles inchadas e miseráveis. Barravento contando a história de uma comunidade de pescadores na Bahia marcada pelo misticismo. Vidas Secas, de Nélson Pereira dos Santos, adaptando o clássico romance de Graciliano Ramos sobre os flagelados da seca nordestina. Os Fuzis, de Rui Guerra, narrando as tensões e estabelecendo paralelos entre vítimas da seca e um grupo de soldados enviado para proteger os galpões de um latifundiário. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, denunciando a mistificação tanto dos cultos milenaristas, como da violência dos cangaceiros. Como foi visto acima, o surgimento do Cinema Novo se dá num período de transição, num governo democrático que até estimula e subvenciona a cultura na direção do nacionalismo desenvolvimentista. Os filmes produzidos nessa época são pontilhados pela síntese entre dois sentimentos opostos: tanto pelo otimismo herdado dos anos JK, como pela mais violenta negação dessa ideologia. Ou seja, eles ainda revelam a crença no futuro baseado na conscientização popular. O cinema é visto, neste momento, como um instrumento indispensável de educação para a liberdade, o primeiro passo para a resolução dos problemas sociais. O cinema vai, assim, mostrando ao Brasil e ao mundo uma imagem que desafia a utopia modernista e nacionalista de Brasília e a ideologia desenvolvimentista, mas sem deixar de acreditar numa redenção que viria a partir da consciência política e social (característica, aliás, de outra ideologia hegemônica na época, a do ISEB). Os intelectuais de esquerda colocando-se no papel de promotores dessa consciência. 1 O Cinema Novo não tem data de nascimento. Não tem manifesto histórico e nem semana comemorativa. Não foi criado por ninguém em particular, nem é a cria de um grupo qualquer. (...) O Cinema Novo não é novo somente pela juventude dos seus praticantes. Tampouco novo, nesse contexto, sugere novidade ou modismo. O Cinema Novo é somente parte de um processo maior de transformação da sociedade brasileira e que chega, finalmente, no cinema.
32
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Ou seja, mais do que uma estética, o Cinema Novo se pretende uma proposta política e social não só para o Brasil como para o Terceiro Mundo como um todo. Glauber Rocha, no manifesto “Eztetyka da Fome” (1965), deixa bem claras as pretensões internacionais do projeto: O cinema novo não pode desenvolver-se efetivamente enquanto permanecer marginal ao processo econômico e cultural do continente latino-americano; além do mais, porque o cinema novo é um fenômeno dos povos colonizados e não uma entidade privilegiada do Brasil. (ROCHA, 2004, p. 67)
O manifesto, que deixa entrever a influência de Frantz Fanon e seus damnés de la terre, é apenas mais um indício do direcionamento que se dá à cultura no Brasil (e no Terceiro Mundo em geral) do início dos anos 1960. Se fundamentalmente os adeptos do cinema novo recusam adotar um modelo único de estratégias formais ou transformar-se em um “estilo”, isto não significa que eles estejam alheios ao cinema mundial e à ideia de um modelo, se aberto, ao menos em linhas gerais unificador. The model that was to emerge, of low production costs, location filming and use of non-professional actors received its theoretical justification in the examples of Italian neo-realism and the French New Wave. (KING, 1990, p. 107)2
Ou seja, além de buscar os temas nas esferas marginalizadas da sociedade brasileira, estes jovens cineastas demonstram laços estilísticos estreitos com o neorrealismo italiano e a nouvelle vague francesa. Tais influências vão ser sentidas em dois níveis principais: o neorrealismo italiano serve como proposta similar de abordagem formal que pode ser aproveitada por sua simplicidade, baixo custo de produção, linguagem direta; e a nouvelle vague (especialmente para um cineasta como Glauber Rocha) enquanto afirmação do “cinema de autor”, o que possibilita a consolidação das linguagens individuais dos principais expoentes do 2 O modelo que estava por emergir, de baixos custos de produção, filmagens em locação e o uso de atores não profissionais, recebeu sua justificativa teórica a partir dos exemplos do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa.
33
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
movimento. A partir desses elementos, emerge um conjunto de procedimentos mais ou menos comuns à maioria dos diretores brasileiros engajados na denúncia social. Por um lado, técnicas abertas e simples (em contraste com sofisticação tecnológica do modelo de estúdios hollywoodianos), por outro, a veiculação de ideias complexas e revolucionárias, como a liberação terceiro-mundista, as teorias do subdesenvolvimento etc. O cinema novo pode ser visto, assim, como um statement sobre o cosmopolitismo de duas vias: primeiro, como interpretação latino-americana das últimas tendências estéticas europeias (cosmopolitismo “à moda antiga”) como o neorrealismo e a nouvelle vague. Segundo, como negação desse cosmopolitismo tradicional onde existe um centro metropolitano definindo o que os povos subalternos devem fazer. No cinema novo, os destituídos do terceiro mundo são colocados no centro. Assim, o cosmopolitismo é invertido à maneira de um Oswald de Andrade (esteticamente), com a criação dessa atitude internacionalista pela cultura terceiro mundista. Neste cosmopolitismo brasileiro dos anos 1960 continua sendo importante estar “ligado” em vários lugares ao mesmo tempo, estar em sintonia com o mundo, mas, diferentemente de épocas anteriores, o cinema novo quer estar em sintonia com o mundo dos miseráveis e resgatá-los dessa miséria, sem subserviência e sem reverências à cultura metropolitana do Primeiro Mundo. Ao contrário, a atitude é de rebeldia e não só a rebeldia estética (como os modernistas), mas a rebeldia política e de ação social. A partir de 1964, com o golpe militar, muda a situação tanto das esquerdas, como da sua produção intelectual e cultural. A segunda fase do cinema novo reflete a crise das esquerdas ou as dificuldades trazidas à tona pelo regime militar. As ilusões e esperanças do período imediatamente anterior são substituídas por uma refração dos sujeitos, pela perplexidade diante da nova conjuntura. Os filmes ganham uma dimensão analítica muito mais acentuada e a política é trabalhada de maneira bem mais sutil. Nesta etapa já não vai mais ser necessário ser tão didático e realista em relação aos problemas da miséria nordestina ou uma denúncia tão direta das injustiças sociais. E, pelo menos até 1968, as pressões da censura não vão ser tão fortes a ponto de impedir a predominância de 34
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
uma intelectualidade de esquerda no país. O cinema novo tem espaço, portanto, para evoluir do esquerdismo reformista e do terceiro-mundismo engajado e maniqueísta para uma crítica marxista mais elaborada e para uma estética ainda mais radical. Alguns dos filmes mais importantes deste período são: O Desafio (1966), de Paulo César Saraceni, Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, O Bravo Guerreiro (1968), de Gustavo Dahl, e Fome de Amor (1968), de Nélson Pereira dos Santos. In O Desafio, in Land in Anguish, and in The Brave Warrior, there wanders the same personage – a petit-bourgeois intellectual, tangled up in doubts, a wretch in crisis. He may be a journalist, a poet, a legislator, in any case he’s always perlexed, hesitating, a weak person who would like to transcend his condition.3 (DAHL apud JOHNSON e STAM, p. 35)
A figura mais proeminente, cosmopolita (nesta operação às avessas do internacionalismo terceiro mundista) e polêmica do grupo do cinema novo (grupo heterogêneo, vale lembrar) é, de certo modo, Glauber Rocha. Primeiro porque ele nunca se limitou ao realismo didático da primeira fase do cinema novo, também por ir além do cinema e tentar realizar, através de diversos meios e linguagens, uma teorização e prática para a liberação do terceiro mundo e de superação do subdesenvolvimento. Durante os anos 1960 e 1970, Rocha vê-se envolvido em diversos projetos que vão além de simplesmente dirigir, produzir ou escrever roteiros para filmes. Depois de Barravento, o cineasta começa a escrever sistematicamente sobre cinema e termina, em 1964, Deus e o Diabo na Terra do Sol, um dos filmes mais premiados de sua carreira. Em 1965, é preso, juntamente com outros cineastas e intelectuais, num protesto contra o regime militar brasileiro. Entre 1965 e 1966, além de dirigir um curta-metragem sobre o Maranhão (para o então governador José Sarney, seu amigo), Glauber coproduz filmes de Walter Lima Jr. (Menino de Engenho) e Carlos Diegues (A Grande Cidade). 3
Em O desafio, Terra em Transe e O Bravo Guerreiro, perambula o mesmo personagem – um intelectual pequeno burguês, cheio de dúvidas, afundado numa crise. Ele pode ser um jornalista, um poeta, um deputado, em todo caso, ele estará sempre perplexo, hesitante, uma pessoa fraca que gostaria de transcender sua condição.
35
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Em 1967 é lançado o filme de maior polêmica política até então no Brasil: Terra em Transe. O filme é inicialmente proibido em todo o território nacional por ser subversivo e irreverente com a igreja católica. É liberado logo depois que Rocha aceita a condição imposta pela censura de dar um nome ao personagem do padre no filme. Terra em Transe leva a extremos o que vem a ser considerada a segunda fase do cinema novo. Nesse filme, Glauber usa primordialmente uma linguagem alegórica para elaborar sua teoria da política terceiro mundista. Convulsão, choque de partidos, de tendências políticas, de interesses econômicos, violentas disputas de poder é o que ocorre em Eldorado, país ou ilha tropical. Situei o filme aí porque me interessava o problema geral do transe latino-americano e não somente do brasileiro. Queria abrir o tema “transe”, ou seja, a instabilidade das consciências. (ROCHA, 1997)
O filme é, sobretudo, a alegoria do golpe militar de 1964 e das reações, dúvidas e agonia do intelectual de esquerda que se vê impotente diante deste contexto. Terra em Transe é o auge do cinema político no Brasil e o ápice da estética terceiro-mundista de Glauber Rocha. Aí, Rocha consegue elaborar de maneira mais sofisticada e com a linguagem mais vanguardista o que ele teorizou como projeto tricontinental (usando o termo de Che Guevara): o cinema como força didática e revolucionária, o cinema como guerrilha internacional. Num texto publicado originalmente nos Cahiers du Cinéma, Glauber Rocha explicita seus objetivos, suas aspirações políticas e estéticas para o Cinema Novo e para o cinema do Terceiro Mundo em geral. Há um trecho particularmente relevante em relação ao predomínio da ideologia em relação à técnica, e como o cinema combativo é um projeto internacional: Cinema is an international discourse and national situations do not justify, at any level, denial of expression. In the case of Tricontinental cinema, esthetics have more to do with ideology than with technique, and the technical myths of the zoom, of direct cinema, of the hand-held camera and of the uses of color are nothing more than tools for expression. The operative word
36
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
is ideology, and it knows no geographical boundaries. (...) I insist on a “guerrilla cinema” as the only form of combat: the cinema one improvises outside the conventional production against formal conventions imposed on the general public and on the elite4 (ROCHA in JOHNSON e STAM, p. 80).
Além de representar uma evolução no conjunto da obra de Glauber Rocha e no sentido de sua teorização de um cinema terceiro-mundista e internacionalista, Terra em Transe prefigura esteticamente a chamada terceira fase do cinema novo por uma inclinação alegórica ainda mais explícita que nos filmes anteriores de Rocha (além de servir de inspiração direta para o movimento tropicalista na música). Este é o cenário varrido pela câmara de Glauber, em que os “flashback” se embutem, o tom e a pose shakespearianos se misturam à batucada de morro, o hino fascista e o ruído de tiros disputam espaço com Villa-Lobos, Verdi e “O Guarani”, e o cinismo acanalhado do burguês cruza com o desespero do revolucionário – tudo isso em lugares recorrentes, nos quais a esculhambação dos dirigentes no trato com o povo corre paralela à consciência culpada do intelectual, os excluídos dão a medida áspera da sua presença, e o amor coexiste com a desfaçatez e a traição. (CARONE, 1997)
Terra em Transe transforma a angústia e a revolta do intelectual de classe média brasileiro (representado no filme pelo personagem Paulo Martins) em carnavalização. Além do tratamento alegórico e violento sobre a política brasileira (ou terceiro-mundista em geral), o filme também é uma reflexão sobre as relações entre arte e política, na medida em que delineia e questiona o papel transformador da poesia na sociedade (Paulo Martins, sendo poeta, é utilizado no filme como sinédoque de todos os artistas). 4 O cinema é um discurso internacional e situações nacionais não justificam, em nenhum nível, a negação da expressão. No caso do cinema Tricontinental, a estética tem mais relação com a ideologia do que com a técnica, e os mitos técnicos do zoom, do cinema direto, da câmera na mão e dos usos da cor são nada mais que instrumentos de expressão. A palavra operativa é ideologia, e ela não conhece fronteiras geográficas. (...) Eu insisto num “cinema de guerrilha” como única forma de combate: o cinema que se improvisa fora da produção convencional contra as convenções formais impostas tanto ao público em geral, como à elite.
37
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
A terceira fase do cinema novo vai ampliar a carnavalização do final de Terra em Transe para transformá-la no tropicalismo e revisitar a antropofagia. Isso acontece primordialmente pela conjuntura: em dezembro de 1968, com o AI-5 e a intensificação da censura e da repressão, tudo muda mais uma vez. Outro ponto a ser levado em consideração é o público do cinema novo, que com os filmes da segunda fase ficou cada vez mais reduzido à classe média intelectualizada de esquerda. Fica impossível ser tão direto e didático como na primeira fase por causa da censura, e tão crítico como na segunda. Os cineastas optam pela carnavalização tropicalista e uma retomada estética antropofágica de Oswald de Andrade e os modernistas, que podem ser interpretadas como estratégias para atrair o público e driblar a censura, simultaneamente. O Tropicalismo (não os estudos de “tropicologia” ligados a Gilberto Freyre e desenvolvidos no nordeste, mas a estética inicialmente lançada pela música popular, profundamente influenciada, aliás, pelo cinema novo, e que será comentada em seguida) pode ser definido como a mescla livre do arcaico e do moderno, uma revisão da história da cultura brasileira que procura resgatar origens e a tradição, sem, entretanto, esquecer dos processos contemporâneos de internacionalização da cultura. Estilisticamente, a fase tropicalista/antropofágica do cinema novo refere-se, fundamentalmente, à inclusão de elementos kitsch aliados a uma roupagem moderna, a uma sofisticação tecnológica – inspiração que vem mais propriamente da atitude dos músicos tropicalistas e suas performances repletas de “cafonice”, luzes coloridas, roupas de plástico e guitarras elétricas; mais o primitivismo e a ideia da deglutição e do sincretismo cultural – quando os tropicalistas reclamam para si a herança modernista da antropofagia. Não que o Tropicalismo (e o cinema novo nesta sua fase tropicalista) seja apenas uma repetição de alguns lemas e procedimentos modernistas. Celso Favaretto diz que: O que o tropicalismo retém do primitivismo antropofágico é mais a concepção cultural sincrética, o aspecto de pesquisa de técnicas de expressão, o humor corrosivo, a atitude anárquica
38
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
com relação aos valores burgueses, do que a sua dimensão etnográfica e a tendência em conciliar as culturas em conflito. (FAVARETTO, 1996, p. 49)
Uma cultura urbana e mais diversificada (quando antes predominavam os filmes de temática nordestina ou alusões diretas à política) vai predominar nestes filmes pós-AI5, assim como na segunda fase, embora com uma ênfase mais carnavalesca e alegórica e, naturalmente, menos introspectiva. Os Herdeiros (1969) e Quando o Carnaval Chegar (1971), de Carlos Diegues, são alguns dos filmes “assumidamente” tropicalistas do movimento (embora Os Herdeiros tenha sido filmado em 1967 e concluído em 1968), com referências à chanchada e a Carmem Miranda. Azyllo Muito Louco (1969), de Nelson Pereira dos Santos, inspira-se em “O Alienista”, conto de Machado de Assis, para sutilmente ridicularizar o regime militar. Glauber Rocha não se alinha tanto a essa tentativa mais “comercial” do Cinema Novo e continua o seu projeto de cinema revolucionário com O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1968), onde retoma o personagem Antônio das Mortes de Deus e o Diabo na Terra do Sol para voltar a comentar o milenarismo e a alienação, desta vez com referências à cultura afro-brasileira e com uma alegoria mais complexa que no primeiro filme. Em 1970 Rocha vai mais além na sua convicção internacionalista e realiza Der Leone Have Sept Cabeças, ou O Leão de Sete Cabeças, história sobre o colonialismo africano filmada no Congo e atuada por um elenco internacional; e Cabezas Cortadas, desta vez na Espanha, com um personagem que seria “um encontro apocalíptico de Perón com Franco”. Neste filme, Rocha procura alinhar alegoria e delírio audiovisual com teoria política: Glauber Rocha fala da história da América Latina, de Perón, dos ibéricos, mouros e cristãos, mostrando a Espanha como uma ruína, como um louco que na hora de morrer reestabelece a monarquia. (...) Uma cabeça grega, a cabeça de uma civilização, a greco-romana-cristã, apareceu na lama, cortada. Glauber constrói uma hipérbole. (GERBER, 1980, p. 36).
39
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Entretanto, os filmes que melhor exemplificam essa terceira fase do Cinema Novo, com sua inclinação para a carnavalização, o canibalismo cultural e alegoria kitsch, são Macunaíma e Como Era Gostoso o Meu Francês. Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, recorre diretamente às fontes modernistas e a elementos das chanchadas kitsch dos anos 1940 e 1950 (inclusive na escolha do ator principal, Grande Otelo, um dos mais recorrentes intérpretes das chanchadas) para ser um dos filmes mais populares do cinema novo, juntando as características mais marcantes do tropicalismo com as diretrizes estéticas mais básicas do modernismo brasileiro. É, contudo, Como Era Gostoso o Meu Francês (1971), de Pereira dos Santos, que vai encarnar mais literalmente a antropofagia oswaldiana, com a história do explorador francês ligeiramente inspirada nas aventuras do explorador alemão Hans Staden, que foi cativo dos tupinambás no século XVI. Entretanto, sem a mesma sorte de Staden, o francês acaba sendo canibalizado pelos tupinambás. Como Era Gostoso o Meu Francês também acrescenta uma dimensão importante à discussão sobre o terceiro mundo e o neocolonialismo: o filme é quase totalmente falado numa língua próxima ao tupi com legendas em português: “(...) a splendid inversion of normal commercial cinema, where the dominant metropolitan languages are subtitled for Third World consumption5” (KING, 1990, p. 114). O cinema novo tem objetivos que ultrapassam os propósitos estéticos: politicamente, é como uma série de manifestos e denúncias sobre o terceiro mundo. O cinema novo põe em questão e elabora a própria condição do subdesenvolvimento no Brasil. Ou seja, estamos diante de um conjunto de práticas culturais que, além de cumprirem sua função artística, têm o papel metalinguístico de “explicar” histórica e socialmente o seu próprio país. O cinema novo pretende que seus filmes, mais do que meros artefatos cinematográficos, façam parte da teoria e da práxis política do terceiro mundo. Talvez precisamente por essa natureza polissêmica e autorreferencial o cinema novo não consegue conquistar um público maior. Mas segura5
40
(...) uma esplêndida inversão do cinema comercial normal, no qual as línguas metropolitanas dominantes são subtituladas para o consumo do Terceiro Mundo.
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
mente uma das outras razões é o divórcio entre o que é retratado na tela e a linguagem e a estrutura dos filmes. Os filmes dessa época retratam o povo, comunidades pobres, subúrbios e favelas, mas a forma, as vozes narrativas e os pontos de vista são próprios da classe média intelectualizada, que por sua vez forma o grosso do público desses filmes. Vai-se difundindo, portanto, uma imagem idealizada e mistificada da pobreza e do atraso terceiro-mundistas. Paulo Emílio Salles Gomes, em Cinema: trajetória no subdesenvolvimento, texto que aponta questões da teoria pós-colonial mais de dez anos antes de ela formar-se “oficialmente”, afirma que essa dificuldade deriva do não reconhecimento por parte dos realizadores da sua própria origem colonizadora, criando como consequência a impossibilidade deste cinema ultrapassar seu caráter mítico: Os quadros de realização e, em boa parte, de absorção do cinema novo foram fornecidos pela juventude que tendeu a se dessolidarizar da sua origem ocupante em nome de um destino mais alto para o qual se sentia chamada. A aspiração dessa juventude foi a de ser ao mesmo tempo alavanca de deslocamento e um dos eixos em torno do qual passaria a girar nossa história. Ela sentia-se representante dos interesses do ocupado e encarregada de função mediadora no alcance do equilíbrio social. Na realidade esposou pouco o corpo brasileiro, permaneceu substancialmente ela própria, falando e agindo para si mesma. (...) A homogeneidade social entre os responsáveis pelos filmes e o seu público nunca foi quebrada. (GOMES, 1996, p.102-103)
Por outro lado, sabe-se que mesmo essa visão imprecisa (e, por vezes, demasiado maniqueísta) da sociedade brasileira teve um impacto muito grande na vida política brasileira, especialmente para os realizadores (muitos tiveram que deixar o país por serem considerados “subversivos”). A própria ideia de Brasil mudou depois do cinema novo, principalmente no exterior. Através de um meio que supostamente atinge mais gente que a literatura, por exemplo, pôde-se contar ao mundo (de novo está-se referindo ao círculo restrito de festivais internacionais e ciclos fechados a um público intelectual que chegaram a exibir estes 41
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
filmes) sobre o abismo cada vez maior entre as classes no país e das dificuldades de mudar esta situação com um regime autoritário. Numa análise da estética terceiro-mundista, Roberto Schwarz localiza a importância geral do intelectual terceiro-mundista mais num momento de extrema esperança (anos 1960 e início dos 1970) que como presença perene e duradoura no contexto internacional: Ao público patrício, provinciano pela natureza das coisas, estes artistas deram o espetáculo importante do intelectual que se debate no coração da atualidade mundial. E à intelectualidade do primeiro mundo, paralisada pelo auge capitalista da época e pelas sucessivas revelações sobre a vida soviética, davam o espetáculo grato de uma sociedade em movimento, onde a audácia, a improvisação e sobretudo o próprio intelectual podiam alguma coisa. (SCHWARZ, 1987, p. 108)
O cinema novo não apenas durou pouco (o “movimento” durou mais ou menos dez anos) – por razões que vão desde a falta de subsídios financeiros (ou a abundância deles de forma condicional, através das “diretrizes” da EMBRAFILME) à censura, perseguição política pelo governo militar e posteriormente exílio de grande parte dos cineastas – como também se pode falar numa espécie de fracasso desses filmes não só por sua limitada exibição, mas especialmente enquanto projeto teórico e político. Um fracasso que tem menos a ver com o resultado estético dos filmes em si do que com a própria desilusão mundial com as potencialidades do terceiro mundo unido e livre, e com o discurso utilizado para expressar estas potencialidades. O terceiro-mundismo começa a desarticular-se nos anos 1970 e, como consequência vê-se a derrocada dos movimentos que mais diretamente inspiraram-se nele. O cinema novo brasileiro faz parte da tendência internacional de se transferir para a cultura características do movimento histórico terceiromundista, entre elas o anti-imperialismo, o anticolonialismo, o antistalinismo, a inclinação por “líderes” carismáticos (como Castro, Nehru, Perón, Lumumba, Nasser), uma interpretação alternativa do marxismo e o antirracismo. No panorama dos movimentos culturais brasileiros 42
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
surgidos nos anos 1960, o Cinema Novo é um dos mais ortodoxamente terceiro-mundistas (e dentro desse quadro tanto a primeira fase do movimento em geral, como a obra de Glauber Rocha se sobressaem como as mais conscientes dessa filiação). A estética terceiro-mundista aposta no “atraso” como valor e está muitas vezes na fronteira dos elementos mais retrógrados do nacionalismo. Fazendo parte desta estética que se enraizou a partir da política dos anos 1960, o cinema novo acabou (como tática de ação e linguagem política) tornando-se, como ela, datado. Convém relembrar que o cinema novo (o movimento) não se desarticulou apenas por fazer parte de uma estética diretamente ligada ao terceiro-mundismo ou porque simplesmente “passou de moda”, mas porque aumentava no Brasil dos anos 1970 o terror da censura, da perseguição política, e do patrulhamento ideológico feito pela própria esquerda. Entretanto, os filmes dessa época perduram por suas qualidades intrínsecas e também porque souberam equacionar uma imagem mais definida e real (e não apenas e nem sempre realista) do país e suas contradições através de uma linguagem profundamente vanguardística. Os cineastas que fizeram parte do cinema novo prosseguem suas carreiras a partir da segunda metade dos 1970 já desligados do movimento (embora para alguns, especialmente Glauber Rocha, seja difícil afastar-se do rótulo). O cinema novo é substituído como “o” cinema alternativo pelo movimento udigrudi, o cinema-lixo de Júlio Bressane e Rogério Sganzerla, entre outros, que aparece como, simultaneamente, uma rejeição (principalmente do intelectualismo e das opções estéticas alinhadas ao cinema europeu) e uma radicalização do cinema novo. Sem pretensões tão internacionalistas e sem uma política tão definida para o terceiro mundo, o cinema udigrudi (a suposta pronunciação brasileira de underground) ainda assim faz sua afirmação sobre como deve ser a estética terceiro-mundista: a partir do lixo, das sobras podres (que pode ser tanto lixo cultural, lixo midiático, como lixo tecnológico) do primeiro mundo, o terceiro mundo tem que fazer um cinema necessariamente precário, mal-acabado, violento, iconoclasta e antiburguês.
43
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
O cinema novo, assim, perde sua posição como único discurso cinematográfico alternativo – na verdade, muitos viam o movimento como o cinema mainstream brasileiro – e sua razão de ser como movimento. A direita ou censurava e punia impiedosamente ou cooptava e tolhia. A esquerda efetuava um frustrante patrulhamento ideológico. Em meados dos anos 1970 era prática e teoricamente impossível continuar sendo um “membro” do cinema novo. Contudo, o seu valor histórico vai-se confirmando ao longo do tempo: o cinema novo talvez tenha sido o mais bem realizado prolongamento do discurso e da estética terceiro-mundistas no Brasil (junto com a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, o subsequente Teatro do Oprimido de Augusto Boal e o trabalho dos CPCs – que talvez tenham tido um impacto até maior no cenário internacional). Junte-se a isto o fato de o cinema novo assumir bravamente a herança modernista de reabrir a questão da identidade nacional e do cosmopolitismo da cultura brasileira justamente num dos seus momentos mais críticos: quando se via a cultura brasileira na encruzilhada entre nacionalismos exaltados e redutores e um cosmopolitismo limitado e entreguista. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. CARONE, Modesto. Alegorias do caos, Folha de São Paulo, 23 de fevereiro de 1997. DAHL, Gustavo apud JOHNSON, Randall & STAM, Robert. Introduction. In: JOHNSON, Randall & STAM, Robert (eds.). Brazilian Cinema. Rutherford/ Madison/ Teaneck/ London/ Toronto: Fairleigh Dickinson University Press/ Associated University Presses, p. 11-37, 1980. DIEGUES, Carlos. Cinema Novo. In: JOHNSON, Randall & STAM, Robert (eds.). Brazilian Cinema. Rutherford/ Madison/ Teaneck/ London/ Toronto: Fairleigh Dickinson University Press/ Associated University Presses, p. 64-67, 1980. FANON, Frantz. The Wretched of the Earth. London: Penguin, 1980. (Tradução de FANON, Frantz. Les damnés de la terre. Paris: François Maspéro, 1961.) FAVARETTO, Celso. Tropicália. Alegoria, alegria. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. GERBER, Raquel. Morte do Patriarcado, Filme e Cultura, n. 34, jan./fev./mar, p. 32-41, 1980.
44
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
JOHNSON, Randall & STAM, Robert (eds.). Brazilian Cinema. Rutherford/ Madison/ Teaneck/ London/ Toronto: Fairleigh Dickinson University Press/ Associated University Presses, 1980. KING, John. Magical Reels. A History of Cinema in Latin America. London/New York: Verso, 1990. ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. São Paulo: Cosac Naify, 2004. ____________. The Tricontinental Filmmaker: That is Called the Dawn. In: JOHNSON, Randall & STAM, Robert (eds.). Brazilian Cinema. Rutherford/ Madison/ Teaneck/ London/ Toronto: Fairleigh Dickinson University Press/ Associated University Presses, p. 76-80, 1980. SALLES GOMES, Paulo Emílio. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e Terra, 1996. SARTRE, Jean-Paul. Preface. In: FANON, Frantz. The Wretched of the Earth. London: Penguin, 1980. SCHWARZ, Roberto. Existe uma estética do Terceiro Mundo? In: Que horas são? São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
45
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
REARTICULANDO A TRADIÇÃO: RÁPIDO PANORAMA DO AUDIOVISUAL BRASILEIRO NOS ANOS 1990
“uma nação, por exemplo, a esta altura é pouco definida pelos limites territoriais ou por sua história política. Sobrevive melhor como uma comunidade hermenêutica de consumidores, cujos hábitos tradicionais fazem com que se relacione de modo peculiar com os objetos e a informação circulante nas redes internacionais.” Néstor García Canclini, Consumidores e cidadãos.
N
o brasil, depois de uma década na qual de certa forma não parecia interessar muito demonstrar “ser brasileiro” e a busca da identidade nacional reverberava numa espécie de vazio, os anos 1990 representam menos uma drástica mudança e mais um gradual amadurecimento do cosmopolitismo pós-moderno e uma retomada dos preceitos culturais elaborados pelo modernismo. São muitos os fatores que contribuem para esta retomada. Mesmo influências que poderiam ser consideradas marginais, imperceptíveis. Primeiro, as próprias tendências mundiais (paradoxalmente saídas dos centros metropolitanos) rumo a uma valorização do ex-cêntrico, do periférico, do marginal (bhAbhA, 1998). Todos os novos paradigmas filosóficos e sociológicos trazidos à tona pelas teorias pós-coloniais, embora de maneira muito lateral e específica, abalam hegemonias, ou dizendo melhor, redefinem o próprio conceito de hegemonia. 47
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Segundo, porque esses novos paradigmas (que podemos associar ao termo pós-modernidade) vão, entre outras coisas, demarcando uma política das diferenças que se apresenta não apenas como uma alternativa à vanguarda (conceito em destroços), como também como possibilidade de configuração de uma teoria menos hierarquizada, mais aberta para o estudo da contemporaneidade: os Estudos Culturais e, mais precisamente, os Estudos Culturais periféricos (PRYSTHON, 2001). A cultura brasileira nos anos 1990 vai mostrando uma forte inclinação para o passado, vai se definindo como matéria reciclada não apenas na teoria, mas na sua materialidade cotidiana. Muitas vezes essa rearticulação da tradição pode ser o sinal de uma nostalgia, o sintoma de uma saudade cultural: a afirmação do discurso de identidade nacional. Como também pode ser a explicitação de um diálogo dessa tradição com a modernidade, pode ser a subversão da ideia de identidade nacional tendo em vista um cosmopolitismo ex-cêntrico. O passado, a tradição, a História passam a ser material fundamental de todas as esferas da cultura brasileira – talvez um pouco em oposição aos anos 1980, quando o pós-moderno era predominantemente território da palavra impressa, aqui nos anos 1990 há uma maior penetração desse segundo pós-modernismo em todas as áreas –, especialmente da cultura popular: música popular, cinema, televisão, teatro e mesmo literatura são invadidos por uma vontade de revisitar o que constitui a(s) diferença(s) da cultura brasileira. Todas essas transformações sugerem um outro pós-modernismo, em oposição àquele dos anos 1980. Um pós-modernismo marcado por esses princípios de “recuperação”, de “reciclagem”, de “retomada” da tradição, da história e do já-visto em oposição ao gosto pelo estrangeiro, pelo cosmopolitismo tradicional, pelo importado do pós-modernismo brasileiro da década anterior. Ou seja, recorre-se mais uma vez à herança do cosmopolitismo dialético dos modernistas, às proposições antropofágicas andradianas (Oswald), ao Brasil profundo de Mário de Andrade, que já haviam sido reutilizados um pouco antes pelos tropicalistas dos anos 1960 e 1970.
48
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
A retomada da tradição brasileira como parte de um cosmopolitismo ex-cêntrico (PRYSTHON, 1999) e, mais especificamente, a redefinição da identidade cultural nordestina que emerge do mangue beat (movimento musical que surgiu em Pernambuco no início da década de 1990, no qual ritmos tradicionais e folclóricos nordestinos eram mesclados ao rock e ao hip hop), por exemplo, vão ser encontradas igualmente em outras áreas. O cinema brasileiro, por exemplo, vê ressurgir como uma tendência muito em voga o “cinema do cangaço”, nordestern ou árido movie, no jargão dos anos 1990. Entre os festivais de cinema de Gramado, Brasília, de 1996, e Recife, de 1997, são lançados três filmes sobre cangaceiros: Corisco e Dadá de Rosemberg Cariry, O baile perfumado de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, e O cangaceiro, refilmagem do clássico de Lima Barreto de 1953, por Aníbal Massaini Neto. A revisão do cangaço (grupos de bandidos no sertão nordestino, realizando emboscadas, assassinatos, roubos, desde o final do século XIX até as três ou quatro primeiras décadas deste século) implica necessariamente em uma revisão da imagem do Nordeste. Se Corisco e Dadá e O cangaceiro não alteram muito essa imagem (a seca, a brutalidade, a violência nordestina), O baile perfumado enfoca o grupo de Lampião (o mais conhecido e lendário dos bandidos) sob uma ótica inusitada: a da chegada da modernidade e do cosmopolitismo ao sertão. O filme conta a história do imigrante libanês Benjamin Abrahão, comerciante que filmou o bando de Lampião e da fascinação dos cangaceiros pela modernidade (representada pela câmara de Abraão) e pelo cosmopolitismo (perfume francês, uísque escocês, enfim, os “bailes perfumados”). (...) o filme não é propriamente uma renovação do gênero cangaço, mas uma reflexão sobre a modernização do Nordeste e sobre o papel da imagem (fotográfica, cinematográfica, simbólica) nesse processo. (...) As peripécias de Abrahão são um eixo privilegiado para expor as contradições do Nordeste (rural x urbano, sertão x litoral, tradição x modernidade) num momento de rápida transição (década de 30). (COUTO, 1998)
49
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
O cangaço faz parte de uma tendência maior do cinema brasileiro dos anos 1990, que é a exploração de narrativas históricas. Assim como na literatura um pouco antes, o material historiográfico serve como peça fundamental do discurso cultural pós-moderno brasileiro. Um dos filmes brasileiros de maior bilheteria na década, Carlota Joaquina (1994), da atriz e diretora Carla Camurati, mescla história do Brasil Império com o pastiche do formato de um filme B de ação americano. Para contar a história de Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I, Camurati lança mão de recursos não lineares: os diálogos são em inglês, espanhol, português e “portunhol”; o figurino é deliberadamente caricatural, assim como a interpretação dos atores. A combinação utilizada por Camurati (carnavalização, anarquia, subversão e história) vai ser associada ao Tropicalismo do Cinema Novo dos anos 1970 por Marcelo Coelho (1995) e considerada por cineastas brasileiros veteranos como Arnaldo Jabor como uma das alternativas para emergir da “crise do cinema brasileiro”: Eu acho que é importante a gente falar que essa “crise do cinema brasileiro”, junto com a tal da “internacionalização da linguagem”, pode nos levar a um certo ecumenismo. Um ecumenismo que mascara uma não seletividade. Eu sou uma pessoa limitada, então eu tenho preferências, distinções... Neste sentido, acho que, se a gente tem que fazer alguma coisa importante no cinema brasileiro, temos que fazer uma imagem original de nós mesmos. “Carlota Joaquina” é uma imagem brasileira profundamente original. (apud COUTO & SIMANTOB, 1995)
Outros filmes dessa corrente histórica – ressaltando a convencionalidade da maioria desses filmes em contraposição a Carlota Joaquina – incluem Lamarca (1994) e O que é isso, companheiro? (1997), ambos sobre as guerrilhas na época da ditadura, o último baseado no livro de Fernando Gabeira e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro; A Guerra de Canudos (1997), de Sérgio Rezende, sobre o episódio descrito por Euclides da Cunha; For All (1998), de Luiz Carlos Lacerda e Buza Ferraz, sobre as reviravoltas ocorridas na vida da cidade de Natal (RN) com a construção de uma base militar norte-americana em 1943; Anahy 50
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
de las Misiones (1997), de Sérgio Silva, transferindo para a Revolução Farroupilha (1835-1845) a lenda de uma mulher dos pampas que vendia despojos de soldados mortos na Guerra Cisplatina. O consagrado diretor egresso do Cinema Novo, Nelson Pereira dos Santos, prepara um filme sobre o poeta Castro Alves: Guerra e liberdade – Castro Alves em São Paulo e uma versão televisiva de Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre para serem veiculados entre 1999 e 2000. No “novo” cinema dos anos 1990, a história pode entrar de maneira mais transversal, como n’O Quatrilho (1995) de Fábio Barreto, o filho mais novo de Luís Carlos Barreto, irmão de Bruno Barreto, diretor de Dona Flor e seus dois maridos (1976), com um enredo “inspirado” por acontecimentos reais de duas famílias do Sul do Brasil no fim do século XIX, filme que também teve grande sucesso de bilheteria, maior ainda depois da indicação para Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996. Possivelmente tentando traduzir a inclinação pela minúcia, pelo cotidiano, pelo pequeno, proposta por uma nova História pós-moderna, O Quatrilho não chega exatamente a rearticular a tradição através do diálogo entre passado e presente – esse diálogo, aliás, está quase ausente no filme –, e sim explorar até a saturação uma fórmula de mercado, com sua estética próxima à das novelas da Globo (“estrelas globais”, atuação “natural”, iluminação chapada), com o slogan do “bem feito”. Fábio Barreto continua nessa direção comercial e apostando cada vez mais no mercado internacional com o seu segundo longa, Bella Donna (1998). Baseado no romance Riacho Doce, de José Lins do Rego, Bella Donna utiliza a mescla de atores de novelas da Globo (Eduardo Moscovis) com atores hollywoodianos (Natasha Henstridge, Andrew McCarthy) – mesmo que não muito conhecidos ou “em baixa” – para chamar simultaneamente o público nacional e o internacional. Outro filme a utilizar lateralmente a história seria Louco por cinema (1995), de André Luiz Oliveira, em que o protagonista, interno em um hospício, quer completar o filme que havia interrompido há 20 anos, contactando toda a equipe de filmagem. Marcelo Coelho relaciona Louco por cinema com uma nostalgia das utopias da contracultura, com uma retomada obsessiva do passado na cultura brasileira dos anos 1990: 51
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Aqueles remanescentes da geração das drogas, do sexo livre e do “flower power” se reencontram, começam a lembrar do filme; assistem a um trecho dele, que davam por perdido. (...) Misturam-se, desse modo, no filme, a alegria de reviver, ou relembrar, utopias já fora de moda – as dos anos 70 – e o impulso para esquecê-las, para romper com uma nostalgia paralisante. (...) “Louco por Cinema” representa bem esse clima de “revival”, essas retomadas e oscilações, esse misto de procura e negação do passado, que, sem dúvida, e uma vez mais, estamos vivendo agora. (COELHO, 1995)
Reemergem também as adaptações literárias de época, como Amor e Cia (1998), de Helvécio Ratton, que fazendo uma releitura “brasileira” de Eça de Queirós, transpôs o lugar da ação de Lisboa para as Minas Gerais oitocentistas. Também no território dos filmes de época, a versão cinematográfica do Triste fim de Policarpo Quaresma (1998), pelo cineasta Paulo Thiago, aprofunda ainda mais na rearticulação histórica e traz à tona questionamentos sobre a tradição e a identidade nacionais. Quaresma, um pequeno funcionário público do exército, defende com uma postura nacionalista um tanto quanto bizarra e inadequada, a adoção do idioma tupi-guarani como língua oficial do Brasil. O diretor de Policarpo Quaresma justifica a escolha do romance através do anti-heroísmo do seu protagonista e a suposta tradição de anti-heróis na cultura brasileira: O personagem Policarpo Quaresma é especialmente interessante por ser um anti-herói da nacionalidade. (...) Ele tem algo de Macunaíma e de herói romântico. Os dois personagens, Macunaíma e Policarpo relacionam-se no imaginário brasileiro. São duas espécies de mitos não-heróicos, por desconstruírem a imagem sagrada e tradicional do herói, o que tem muito a ver com o homem brasileiro. (THIAGO apud BARROS, 1998, p. 92-93)
Dentro desse panorama geral do cinema brasileiro, é importante sublinhar a trajetória do cineasta Walter Salles Jr. como emblema da passagem (gradual, certamente) do pós-modernismo brasileiro dos 52
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
anos 1980 para o dos anos 1990, como ilustração da substituição de um cosmopolitismo tradicional pela ideia – mesmo que implícita – de cosmopolitismo periférico. Salles lança A grande arte, seu primeiro longa-metragem, em 1990, com o qual consegue um relativo sucesso, fundamentalmente em escala nacional. Baseado no já citado romance homônimo de Rubem Fonseca, o filme é a epítome de todo o ideário fundamentado nos anos 1980, a saber, a estética pós-moderna e um sotaque estilístico forçosamente internacionalizado. Com os papéis principais divididos entre atores estrangeiros – não muito conhecidos, diga-se de passagem, como por exemplo o norte-americano Peter Coyote, o protagonista e um dos “bandidos”, o francês Tcheky Karyo – e brasileiros, em locações relativamente “exóticas” (parte do filme passa-se na Bolívia), manejando uma linguagem cinematográfica esteticista e ligeiramente yuppie, Salles empreende uma tradução que se, em termos de narrativa, não é estritamente fiel ao livro que a originou, concretiza em imagens o pós-modernismo de Rubem Fonseca: uma versão requentada, pouco original e artificialmente cosmopolita do paradigma pós-moderno norte-americano. O seu segundo longa-metragem de ficção, Terra estrangeira (1995), codirigido por Daniela Thomas, atenua esse yuppismo deslocado: embora a maior parte da narrativa localize-se em Portugal, o filme traz à tona um comentário sobre a identidade brasileira, provocado, forçosamente, por uma situação de exílio. Terra estrangeira segue a trajetória de Paco, um descendente de imigrantes bascos, que após certos eventos de março de 1990 – a morte de sua mãe e o confisco de poupanças pelo presidente Fernando Collor de Mello – deixa o Brasil em busca de melhor sorte (como outros oitocentos mil brasileiros na mesma época). Chega a Portugal e envolve-se com outra brasileira no exílio, Alex. A narrativa não é realmente o mais fundamental no filme, e sim o tom melancólico dado à discussão sobre identidade. Os dois personagens centrais lidam basicamente com uma profunda inquietação existencial, mas, em contraposição à Grande Arte, já estão mais delineadas nessa obra preocupações que transcendem uma classe média aspiracional: o 53
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
racismo, a posição de colonizador de Portugal (que, aliás, é um pouco deturpada no caso das relações com o Brasil, talvez para segurar certas “liberdades” tomadas pelo roteiro), a necessidade do exílio, a imigração. Essas preocupações, contudo, são tratadas com um olhar estetizante, são apresentadas como acessórios para um exercício de estilo, para uma incursão pelo amor às imagens em si. Terra estrangeira foi fotografado em preto e branco para acentuar uma certa nostalgia (evocando ligeiramente em alguns momentos a deriva do filme Limite de Mário Peixoto); a trilha sonora busca o equilíbrio entre essas evocações do passado (com a inclusão da canção dos anos 1970, Vapor Barato, de Jards Macalé, por Gal Costa) e a opção por uma contemporaneidade alternativa (um dos personagens é músico e toca free jazz); mesmo a escolha dos atores é marcada por essa via dupla, o já conhecido e referenciado e o novo, o inédito (o protagonista masculino, Paco, é vivido pelo estreante Fernando Alves Pinto, e Alex é interpretada pela ganhadora do prêmio de melhor atriz em Cannes de 1986 e uma das jovens atrizes mais respeitadas no Brasil, Fernanda Torres). É, porém, com Central do Brasil (1998) que Walter Salles Jr. vai problematizar mais profundamente as questões relativas à identidade, ao Brasil e mesmo aos seus temas recorrentes (exílio, viagens, solidão): Redescobrindo a estética do real, a narrativa sem ornamentos, a fala despojada e o exílio dentro do próprio país, Walter Salles Jr. reencontra nesse filme o vigor que marca seu curta Socorro Nobre, documentário que inspirou Central. Filmes sobre “exilados” imaginários e reais (a presidiária, o artista Krajcberg – de Socorro Nobre –, a Dora que escreve cartas para analfabetos, o menino em busca do pai), que no meio do inferno vislumbram um paraíso frágil e fugaz. (Bentes, 1998, p. 89)
Central do Brasil concentra-se num Brasil mais “real” que o dos outros dois filmes, tanto do ponto de vista estético como do social. Remontando à temática do Cinema Novo (os desvalidos, os subalternos), porém sem deixar de privilegiar os aspectos técnicos do filme 54
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
(imagem e som comparáveis às grandes produções do cinema americano), Salles estaria atualizando o discurso do terceiro-mundismo (ou seja, uma maneira pós-moderna de falar da subalternidade, do periférico) retirando dele o tom politicamente engajado, a “estética da fome” e a técnica propositadamente limitada. Nesse sentido, Central do Brasil revive outra tendência forte do cinema brasileiro, que é a tradição do anti-heroísmo, da pequenez, da marginalidade. Dora, a mulher que explora analfabetos, mas se redime ao ajudar o pequeno Josué; o caminhoneiro solitário; a gente do povo e sua religiosidade; os policiais corruptos; a cidade grande e seus vícios: toda uma galeria de personagens e subtemas que poderiam muito bem estar em desde O pagador de promessas, Vidas secas, Rio 40 graus até Bye Bye Brasil, O homem que virou suco ou Pixote. A distância dos realizadores do Cinema Novo em relação aos temas tratados nos filmes, tal como descrito por Paulo Emilio Salles Gomes,1 repete-se em Central do Brasil: novamente estamos diante de uma obra claramente produzida pela elite sobre a pobreza. A grande diferença (e o que faz com que seja impossível confundir esse filme com uma obra do Cinema Novo) é que ele não está dirigido à intelectualidade de classe média; está dirigido a um amplo mercado que ultrapassa as fronteiras regionais e mesmo nacionais. Convém marcar que a identidade nacional veiculada em Central do Brasil tem uma forte inclinação para o clichê – que indubitavelmente vai ser instrumento para a conquista dos mercados internacionais. Nessa busca de um “Brasil mais brasileiro” (dos analfabetos, do interior nordestino, das romarias, da seca, das viagens de ônibus, dos caminhoneiros, etc.), Salles se apoia numa estrutura ligeiramente maniqueísta e artificial de onde é retirado qualquer conflito de classe. 1’
“Os quadros de realização e, em boa parte, de absorção do Cinema Novo foram fornecidos pela juventude que tendeu a se dessolidarizar da sua origem ocupante em nome de um destino mais alto para o qual se sentia chamada. A aspiração dessa juventude foi a de ser ao mesmo tempo alavanca de deslocamento e um dos eixos em torno do qual passaria a girar nossa história. Ela sentia-se representante dos interesses do ocupado e encarregada de função mediadora no alcance do equilíbrio social. Na realidade esposou pouco o corpo brasileiro, permaneceu substancialmente ela própria, falando e agindo para si mesma. (...) A homogeneidade social entre os responsáveis pelos filmes e o seu público nunca foi quebrada.” (SALES GOMES, 1996, p. 102-103)
55
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Como se as elites e as classes médias não existissem no país, como se por trás do analfabetismo alarmante do país não estivesse uma série de problemas econômicos e políticos derivados também desses conflitos de classes e interesses, Josué e Dora se deparam com vilões muito específicos: como os traficantes de órgãos ou a polícia violenta e corrupta que extermina os pequenos marginais da estação à queima roupa. Apropriadamente, mais de um crítico de cinema viu nessa estratégia, a vontade de dialogar com o público internacional utilizando alguns elementos de fácil “compreensão”, de fácil “identificação” do país. Elementos periféricos à trama podem ser questionados como concessões à percepção que estrangeiros têm do Brasil, ou seja, parecem ter sido trabalhados para o público de fora. Há, por exemplo, uma execução à luz do dia de um ladrão, ou uma alavanca de roteiro que vem na forma de traficantes de orgãos infantis. (MENDONÇA FILHO, 1998)
O mais relevante nessa constatação de um Brasil “pra inglês ver” talvez seja a própria inevitabilidade desse procedimento. Se o artista pensa nas condições de “sobrevivência” nos mercados globalizados, ele vai ter que necessariamente considerar o problema da identidade sob uma ótica mais multifacetada, tocando o clichê, apresentando a versão world culture do seu produto cultural – o que não retira a possibilidade de se trabalhar criticamente os clichês, de se questionar mesmo de dentro a padronização dessa world culture, algo que, desafortunadamente, não acontece em Central do Brasil. Superando os modismos pós-modernos altamente estilizados dos anos 1980, o teatro também vê o retorno de iniciativas mais “originais” no sentido da busca do “nacional”, de montagens mais “brasileiras”, mais próximas da tradição. O dramaturgo Ariano Suassuna, fundador do movimento armorial – movimento cultural abarcando artes plásticas, literatura, teatro e música que explora as raízes ibéricas da cultura popular nordestina e centra-se principalmente no imaginário ligado ao sertanejo – tem suas peças remontadas pelo diretor e artista plástico Romero de Andrade Lima (que encena geralmente obras relacionadas com o folclore 56
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
nordestino) e publica em 1997 a adaptação em estilo literatura de cordel de Romeu e Julieta, também montada por Andrade Lima. A influência do radical Suassuna (veemente crítico de qualquer influência “estrangeira”, de qualquer “mistura” tropicalista ou mangue beat, com um discurso extremamente antimoderno e de certo modo também anticosmopolita) vai ser sentida em outros encenadores e artistas, como o ator, músico e diretor teatral Antônio Nóbrega, fundador do teatro Brincante, em São Paulo. Criando um personagem na linha picaresca desenvolvida por Suassuna, o Tonheta, Nóbrega tenta recuperar o popular no sentido muito próximo à etnografia de Mário de Andrade, como, aliás, fica claro no espetáculo musical Na pancada do ganzá (1996), como é explicitado pelo próprio Nóbrega: Na pancada do ganzá é uma reunião de cantos tradicionais do povo brasileiro, canções minhas e de outros compositores pernambucanos. (...) Era o nome que ele daria ao conjunto dos registros musicais que fizera durante suas viagens ao Norte e Nordeste do Brasil, nos anos de 1927 e 1928. (...) Chico Antonio cantava e tirava versos na pancada do ganzá. Disco e espetáculo são dedicados à memória de Mário de Andrade e Chico Antonio, cujo encontro revela e celebra um Brasil com o qual continuo sonhando. (NÓBREGA, 1996)
A concepção “armorial” mais estrita da cultura brasileira ou, mais especificamente, da cultura nordestina implica na rejeição quase que absoluta do cosmopolitismo e da modernidade. A cultura popular é não apenas a referência máxima, como também permanece estática, isolada nessa estratégia estética de “preservação”. Entretanto, justamente por essa oposição tão veemente, é visível na articulação contemporânea do movimento uma configuração legitimamente pós-moderna: nessa busca pelo pré-moderno, a afirmação da identidade nacional através do autenticamente popular (“preservado”, “puro”) torna-se também afirmação do simulacro dessa autenticidade (já que impossível). Quase em um outro extremo, também se vê a volta ao epicentro da atividade teatral brasileira de José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, 57
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
fundador do teatro Oficina nos anos 1960 e “mentor” do Tropicalismo. Através da exasperação, da anarquia e de uma visão extremamente problematizada do Brasil e da modernidade, também representa um certo retorno à tradição, embora mais ligado à antropofagia oswaldiana e às utopias e ideologias dos anos 1960. Zé Celso pretende que o seu teatro tenha raízes não só no popular, mas no espaço de massas e no estabelecimento de mecanismos para manter-se no mercado cultural globalizado. Este repertório aponta para o que aconteceu na Bahia, no Rio: o espetáculo orgiástico de multidão e, ao mesmo tempo, acoplado à televisão. Não é uma ilusão. É uma necessidade o teatro brasileiro encontrar um espaço autônomo, dele, dentro da sociedade como ela é, a sociedade de massa. (...) “Ela”, Sua Santidade, vem agora ao Brasil e foi beneficiada pela lei Rouanet. Está recebendo milhões em incentivo cultural. Os empresários que investirem vão estar com “Ela”. Vão poder agitar os lenços com as suas marcas, e ter as suas almofadas. Eu também quero fazer esse teatro. Eu quero brincar com a ordem mundial. (CORRÊA apud FRIAS FILHO & SÁ)
Mesmo a televisão apropria-se desse impulso revisionista (tanto a revisão de tradições, como as mesmas sendo retrabalhadas para o mercado global) da identidade nacional, principalmente via literatura. A Rede Globo de Televisão lança sofisticadas adaptações da literatura nacional em minisséries ou nos episódios únicos de “Caso Especial”, como O Besouro e a rosa (1993), de Mário de Andrade, dirigido por Guel Arraes, nos quais técnica cinematográfica, pantomima e linguagem circense vão inseridas no território mais limitado da televisão. Em 1998, Arraes dirige O auto da Compadecida, minissérie baseada na peça homônima de Ariano Suassuna (e que em 2000 vai ser lançada em película com relativo sucesso nos cinemas do Brasil e do mundo), que talvez seja um dos ápices da “rearticulação da tradição” na televisão brasileira: a linguagem popular, o cordel, os regionalismos equacionados junto a formas mais experimentais de direção, atuação e técnica televisivas. Na década de 1990, vários exemplos da ficção contempo58
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
rânea são “traduzidos” em linguagem televisiva: O sorriso do lagarto de João Ubaldo Ribeiro, Memorial de Maria Moura (1994) de Raquel de Queirós, Agosto (1993) de Rubem Fonseca, Hilda Furacão (1998) de Roberto Drummond, ou, seguindo um filão mais tradicional, Dona Flor e seus dois maridos (1998) de Jorge Amado. Mesmo as novelas são pontilhadas por referências ao Realismo Mágico, ao folclore, às tradições populares regionais. A Rede Manchete, por exemplo, anuncia a novela Ana Raio e Zé Trovão (1991), centrada sobre a vida de artistas mambembes no interior do sul do país, com o slogan “o Brasil que o Brasil não conhece”. A tradição e a identidade nacional vão ser quase diretamente temas constantes de Brasil Legal, programa semanal de “variedades” veiculado entre 1994-1996, também da Rede Globo, em que são apresentados aspectos alternativos, pouco conhecidos e anti-hegemônicos da cultura brasileira. O que levou o seu produtor e editor, o antropólogo Hermano Vianna, a reconhecer as contradições inerentes em se trabalhar para a Rede Globo, mas simultaneamente acreditando nas possibilidades de descentralização dentro de um sistema extremamente centralizado e centralizador: A Globo não é a estrutura homogênea que parece vista de fora. Ninguém fica de olho nas minhas pautas. Se eu acho o que o boi-bumbá de Parintins é bacana, falo sobre ele no próximo programa. (...) A situação é certamente confusa. Mas talvez por isso mesmo seja interessante jogar com ela. Ou é preferível não ver o Fred 04 falando no horário nobre com 36 pontos de Ibope? Confesso que não tenho as respostas. De qualquer maneira: as tendências centralizadoras vão sempre conviver com as descentralizadoras. Pelo menos acho que foi isso que aprendi com Deleuze e Guattari. (VIANNA, 1997). Fazendo uma brevíssima síntese da cultura audiovisual brasileira nas últimas décadas, teríamos, então, esse primeiro pós-moderno – o dos anos 1980 – que assimila o discurso do pós-modernismo (principalmente norte-americano) e os aspectos mais superficiais da pós-modernidade (até por sua condição de país periférico, de modernização lenta e incompleta) 59
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
para contrapor-se ao nacionalismo retrógrado, ao autoexotismo folclorizante. Assim, o segundo pós-moderno brasileiro vai tentar refazer a equação modernista e rearticular a identidade nacional juntamente com a consciência da globalização cultural. Há, porém, várias diferenças em relação ao modernismo ou ao Cinema Novo, por exemplo. A primeira delas é que já não é necessário o gesto de ruptura com uma estética anterior (nem com nenhuma outra estética). Também não se trata de uma vanguarda lançando ideias originais: a ideia de rearticulação da tradição e da identidade nacional com uma roupagem “globalizada” não só faz parte do establishment, como assegura o funcionamento do mercado cultural no Brasil de hoje. Podemos dizer, portanto, que a cultura brasileira (o audiovisual incluído) parece colocar permanentemente em funcionamento uma espécie de dialética do cosmopolitismo. Que talvez pretenda apresentar como síntese uma permanente oscilação entre a negação das diferenças (portanto, a afirmação e a prescrição do cânone ocidental) e sua articulação consciente para o redimensionamento desse cânone. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARROS, André Luiz.O irônico renascer de Policarpo, Bravo, março de 1998, ano I, n. 6, p. 92-93. BENTES, Ivana. O sertão romântico dos exilados, Bravo, março de 1998, ano I, n. 6, p. 89. BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos. Conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997. COELHO, Marcelo. Cinema brasileiro procura e nega o passado, Folha de São Paulo, 17 de maio de 1995. COUTO, José Geraldo. Baile Perfumado moderniza sertão, Folha de São Paulo, 11 de maio de 1998._____________. & SIMANTOB, Eduardo. Três vezes cinema (Conversa entre os cineastas Arnaldo Jabor, Cacá Diegues e Hector Babenco), Folha de São Paulo, 16 de abril de 1995. FRIAS FILHO, Otávio & SÁ, Nelson de. A fúria do teatro (entrevista com José Celso Martinez Corrêa). Folha de São Paulo, 21 de agosto de 1997. MENDONÇA FILHO, Kleber. Central do Brasil reencontra nossa identidade, Jornal do Commercio, 3 de abril de 1998.
60
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
NÓBREGA, Antonio. Na pancada do ganzá, 1996. PRYSTHON, Angela. Peripheral Cosmopolitanisms. Aspects of Brazilian Postmodernist Culture – 1980-1999. Nottingham: University of Nottingham, 1999. (tese de doutorado) _____________. Mapeando o pós-colonialismo e os Estudos Culturais na América Latina. Revista da ANPOLL, n. 10, p. 23-46. São Paulo, Humanitas/USP. SALES GOMES, Paulo Emílio. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e Terra, 1996. VIANNA, Hermano. Entrevista com Hermano Vianna, Verbum. Disponível em: http://www2.uol.com.br/latitude/radio. Acesso em: dezembro de 1997.
61
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
OS CONCEITOS DE SUBALTERNIDADE E PERIFERIA NO CINEMA BRASILEIRO
A
lgumas epígrafes visuais (emblemáticas da representação do subalterno na cultura midiática brasileira contemporânea): 1. um peão pobre e pardo lê Nietzsche em Amarelo manga (2002) de Cláudio Assis. 2. No mesmo filme, surgem closes de pessoas anônimas, habitantes do centro do recife, como uma espécie de minidocumentário dentro da ficção. São rostos desesperançados, pessoas feias, pobres, sujas. 3. Ainda no filme de Cláudio Assis, há várias cenas nas quais índios silenciosos servem quase como props, assistindo televisão no lobby do Texas hotel. 4. Em madame satã (2002), de Karim Aïnouz, o protagonista e seus amigos são impedidos de entrar numa casa noturna no rio de janeiro do início dos anos 1930. joão francisco (o Madame Satã) reage com violência à provocação – também violenta – do leão-de-chácara. 5. Em Cidade de deus (2002), um dos protagonistas moradores da favela, buscapé, tem a sua iniciação sexual com uma jornalista branca de classe média – numa das poucas cenas fora do ambiente da Cidade de deus propriamente dita. Poderíamos relacionar essas epígrafes com uma das transformações mais essenciais no campo cultural nas últimas décadas: essa ideia – tão atraente e tão presente na cultura desde os anos 1980 – de descentramento. ideia que pode se materializar em vários sentidos diferentes e não apenas no territorial, conceito que se desdobra numa gama de processos que redimensiona ou, pelo menos, rediscute o papel da periferia e da subalternidade na história. 63
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
A partir desse redimensionamento, vemos ser engendrada na cultura contemporânea uma espécie de política de diferenças, por meio de complexas negociações, sobreposições e deslocamentos, como afirma Homi Bhabha: Os embates de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta possiblidade de serem consensuais quanto conflituosos; podem confundir nossas definições de tradição e modernidade, realinhar as fronteiras habituais entre o público e o privado, o alto e o baixo, assim como desafiar as expectativas normativas do desenvolvimento e progresso. (BHABHA, 1998, p. 21)
Essa política das diferenças tem uma intensa conexão com o conceito de cosmopolitismo. Poderíamos, inclusive, traduzir essa política como um processo cosmopolita que revela a todo o momento as tensões temporais e as contradições e oposições espaciais embutidas na relação da periferia com a metrópole, com o Centro. A emergência das noções de atraso, provincianismo, periferia implicam numa definição por parte de “subalternos”, “atrasados”, “provincianos”, “periféricos” em relação ao “cosmopolita” e ao “Centro”. Se o cosmopolitismo é definido pelo acesso à diversidade metropolitana, por um Centro que fornece e legitima referências, a periferia teria que se definir então como o seu avesso. Essa definição acarreta o reconhecimento de certas impossibilidades virtuais, um oxímoro que condensa uma das preocupações centrais do contemporâneo: as conexões e as desconexões entre centro e margens pressupostas na junção dos termos cosmopolitismo e periférico. Entretanto, neste reconhecimento vêm implícitas, ao mesmo tempo, a rejeição, a subversão e a reversão das impossibilidades contidas nesse oxímoro. Pois, se o indivíduo periférico/subalterno pode se afirmar como esse ser cosmopolita da definição tradicional, ele pode também operar no sentido de transformar a sua produção cultural local em parte constituinte do cânone universal. O conceito vai sendo modificado, pois, por uma dialética da modernidade, que revela outros agentes que não o “cosmopolita” tradicional (aquele que tem que se referir ao(s) Centro(s), aquele que reverencia a(s) metrópole(s) moderna(s)). O cosmopolita periférico 64
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
(PRYSTHON, 2002) é um dos sujeitos principais da construção de uma nova instância do conceito de cosmopolitismo. É esse sujeito, então, que opera através de uma certa instabilidade do(s) Centro(s), estabelecendo novos centros, demarcando outros territórios a partir dos produtos culturais propostos por ele, a partir das novas formas de consumo e recepção de bens simbólicos operadas por ele. Mesmo sem negar a inclinação centrífuga do cosmopolitismo (porque ele continua reverenciando e referindo-se ao(s) Centro(s)), o cosmopolita periférico incita reformulações, remapeamentos, relativizações. Inclusive, uma das principais tarefas do teórico e crítico instalado nas malhas do oxímoro “cosmopolitismos periféricos” é precisamente observar as suas várias ironias, as suas várias contradições (e usamos os exemplos do cinema brasileiro contemporâneo para melhor delineá-las, evidenciá-las). O momento do cosmopolitismo moderno poderia ser definido como o percurso de autodescoberta feito pelo intelectual e artista das margens. Uma autodescoberta que pode levar ao estabelecimento das primeiras políticas da diferença. O cosmopolita periférico tenta definir a modernidade a partir de uma instância ambígua (ser e estar na periferia, desejar estar no Centro), e aponta justamente os elementos que fazem da periferia um modelo de modernidade alternativa (problemática, incompleta, contraditória). Ou seja, ele trabalha nos interstícios de uma realidade e tradição locais e de uma cultura urbana internacional, aspiracional e moderna “(...) então o lado mais positivo da cultura global revelaria a possibilidade de uma encenação, por mais fugaz que seja, da diferença singular dentro da totalidade” (MOREIRAS, 2001, p. 91). Haveria então um outro momento cosmopolita relacionado precisamente com a transformação dessa política da diferença sugerida pelos “cosmopolitismos periféricos” em descentralização. As teorias pós-modernas e do pós-moderno delineiam outras dimensões para o processo do cosmopolitismo. Das características do pós-moderno algumas vão ser mais relevantes para o cosmopolitismo: valorização do periférico, do subalterno, do exótico, do excêntrico (principalmente na esfera cultural, através do multiculturalismo) e desestabilização da força centralizadora das metrópoles modernas. Essa fase ex-cêntrica do 65
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
cosmopolitismo pode ser vista então como consequência dos recentes desdobramentos do capitalismo tardio e do que se convencionou chamar de globalização. Admitindo certos aspectos “evolutivos” dessas manifestações do cosmopolitismo mencionadas até aqui, cabe ressaltar, contudo, que essas passagens, esses momentos cosmopolitas não são reflexos de um trajeto meramente linear onde se parte de um ponto para chegar a outro. As várias fases e acepções do cosmopolitismo cruzam-se, confundem-se, interpenetram-se não apenas entre si, mas em permanente contato com outros elementos de uma reterritorialização cultural. Esse processo cosmopolita vai ter influência na constituição dos mercados culturais mundiais contemporâneos que se abrem, então, ao multiculturalismo, e os efeitos de uma cada vez maior presença de bens simbólicos periféricos (produzidos por camadas subalternas da sociedade) junto à cultura de massa internacional se fazem sentir em todos os cantos do planeta, especialmente desde o início da década de 1980. Ligado a esse processo de cosmopolitismo pós-moderno (que inclui, afirma e refina os elementos periféricos), está o conceito de subalternidade. O termo subalterno foi introduzido nas teorias marxistas no lugar de proletariado por Gramsci, para tentar escapar da censura, mas, como nota Gayatri Spivak, “...a palavra logo abriu novos espaços, como as palavras sempre o fazem, e incorporou a tarefa de analisar aquilo que o termo “proletário”, produzido sob a lógica do capital, não era capaz de cobrir” (SPIVAK apud REIS, 2003, p. 20). Assim, o conceito foi sendo ampliado para servir a uma série de categorias e sujeitos cada vez mais centrais para as teorias e para as manifestações culturais contemporâneas. A produção cultural do subalterno e o próprio debate sobre a subalternidade têm consolidado uma tendência dominante na teoria crítica, aliás: o discurso sobre a diferença cultural fortalece e contribui para uma política efetiva das minorias e da subalternidade. A consideração das diferenças culturais precipita um imperativo para o teórico da cultura, que é preparar uma moldura conceitual que possa entender e redefinir o papel da cultura 66
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
das minorias, dos subalternos, dos “deserdados da terra” (lembrando Fanon), do que era chamado de Terceiro Mundo ou de proletariado no marxismo clássico. Um panorama rápido dos últimos anos nos mostra que os produtos culturais brasileiros de maior relevância, proeminência midiática ou impacto público estão, em maior ou menor grau, relacionados com essas transformações culturais e, mais especificamente, com o redimensionamento da ideia de periferia e de subalternidade. As conexões periféricas e subalternas da cultura brasileira podem ser percebidas muito claramente em várias áreas como a música, a literatura, as artes plásticas, a televisão, o teatro, etc. O cinema nacional contemporâneo reelabora insistentemente o problema do periférico, tematizando as “margens” do Brasil das mais diversas formas. A relação da periferia com o centro e do subalterno com o hegemônico vai permear filmes mainstream como Central do Brasil e Eu, tu, eles, mas também títulos ligeiramente mais alternativos ou documentários como O Invasor, O Rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, Babilônia 2000 e Notícias de uma guerra particular. Poderíamos dizer que, por mais estranho que possa parecer, vem sendo sistematicamente instituído um cânone da periferia nas artes do país – uma espécie de espetacularização da subalternidade. Especialmente a partir da segunda metade dos anos 1990, ficou patente a necessidade de inserção das várias periferias brasileiras no centro do debate cultural, já que elas estavam ocupando muitos e importantes espaços nos eixos da produção e recepção. Numa interpretação bem otimista foi como se, finalmente, as diferenças pudessem ser devidamente reconhecidas e valorizadas; como se fosse possível afirmar positivamente o papel do subalterno na constituição da cultura brasileira. Silviano Santiago, comentando a literatura latino-americana, aproxima-se de uma definição do lugar (ou um entrelugar) ocupado pela diferença: Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão, – ali, nesse
67
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana. (SANTIAGO,1978, p. 28)
Não podemos esquecer, contudo, que essa valorização do subalterno, essa retomada de valores da tradição “popular”, essa inserção das margens no centro, que tudo isso vem sendo elaborado, articulado e levado a cabo pela elite, no “centro” (essa ideia de centro também é igualmente ampla). E chegamos à contradição da instituição desse “cânone da periferia”: ele também é fruto de um movimento do mercado cultural; ele também surge do crescente interesse pelo exótico precipitado pelo multiculturalismo radical das elites metropolitanas. Assim, o multiculturalismo, como fenômeno ligado à disseminação em massa das culturas locais, não pode ser visto sem reservas: mais do que iniciativas independentes “nacionais & populares” ou do que uma utópica rearticulação do local em escala global, ele também é um jogo de interesses recíprocos por parte de empresas, grupos políticos e indivíduos. Poderíamos concluir, pois, que a periferia e o subalterno tornam-se uma moda cultural rentável, constituem-se como periferia-fashion, de certo modo formada por “subalternos de estimação”. Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, talvez seja o exemplo mais bem acabado e mais complexo da periferia-fashion. Se o livro no qual foi baseado tinha – mesmo que apenas tangencialmente – algum apelo mercadológico do subalterno (que uma bela edição e campanha da Companhia das Letras acentuaram, aliás), o filme exacerba todas as propensões da periferia como um estilo, ou o estilo da moda. O filme se propõe a fazer uma espécie de genealogia da violência nas favelas e o faz meticulosamente do ponto de vista da imagem e do estilo. A primorosa direção de arte do filme revela as belezas e peculiaridades da favela e dos favelados; figurinos, penteados e props são elementos fundamentais do percurso pela periferia de Meirelles e Lund. Ou seja, transitar pela periferia nesse filme significa estar exposto simultaneamente aos perigos e ao charme da violência do tráfico. A partir de várias influências (confessas ou não, conscientes ou não) do cinema americano contemporâneo e de 68
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
outras épocas também (Soderbergh, Spike Lee, Paul Thomas Anderson, Tarantino, o visual Blaxploitation dos anos 1970, entre outros), Cidade de Deus é peça-chave da canonização da periferia na cultura brasileira. Nesse sentido, é relevante atentar para o olhar que Cidade de Deus lança à história da favela, a essa genealogia da violência proposta pelo filme. Nesse processo de canonização periférica, a nostalgia ocupa um lugar central: talvez fundamentalmente a nostalgia de uma época na qual a Cidade de Deus ficava nos limites da Cidade de Deus. A história narrada pelo filme, além de se ocupar dos detalhes e minúcias da estética das margens, aponta para um passado que é, de certo modo, idealizado pelo presente. E a marca do presente mais conspícua de Cidade de Deus é precisamente a nostalgia pop que atravessa quase todos os produtos da cultura do século XXI (JAMESON, 1994). Cidade de Deus olha nostalgicamente para o passado (anos 1960, 1970 e 1980), mas conta a história de uma maneira que só poderia ter sido elaborada nos anos 2000. Com seus filtros coloridos, com suas cópias fiéis dos caminhões de gás e carros policiais da época, com sua trilha sonora extremamente adequada ao revival do samba-rock atual, com seus figurinos espertos, com o humor típico da narrativa cinematográfica contemporânea, Cidade de Deus transforma a história da favela em história pop. O que em momento nenhum diz nada contra o filme. Se Cidade de Deus reproduz fielmente o espírito da época, se faz como manda o figurino da cultura pop mundial, ele o faz de maneira ousada, brilhante e consistente. Cidade de Deus certamente não foi o primeiro filme a enfocar o subalterno de modo pós-moderno (ressaltando o estilo, chamando a atenção para as potencialidades pop da favela), foi, contudo, o que apresentou esse “cosmopolitismo periférico” mais eficientemente. Talvez essa “popficação nostálgica” da história tenha contribuído para algumas reações negativas dos moradores da comunidade retratada. Como se houvesse um divórcio irremediável entre o que está sendo apresentado e representado na tela, os responsáveis pelo filme e o público que o vê. É a elite fazendo filmes para a elite ver, ou no máximo, a classe média fazendo filmes para a classe média ver, como já notou Paulo Emilio Salles Gomes sobre o Cinema Novo: 69
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Os quadros de realização e, em boa parte, de absorção do Cinema Novo foram fornecidos pela juventude que tendeu a se dessolidarizar da sua origem ocupante em nome de um destino mais alto para o qual se sentia chamada. A aspiração dessa juventude foi a de ser ao mesmo tempo alavanca de deslocamento e um dos eixos em torno do qual passaria a girar nossa história. Ela sentia-se representante dos interesses do ocupado e encarregada de função mediadora no alcance do equilíbrio social. Na realidade esposou pouco o corpo brasileiro, permaneceu substancialmente ela própria, falando e agindo para si mesma. (...) A homogeneidade social entre os responsáveis pelos filmes e o seu público nunca foi quebrada. (SALLES GOMES, 1996, p. 102-103)
Mas não é exatamente o mesmo caso: são outros tempos e Cidade de Deus seguramente atinge uma parcela muito maior da população que os filmes do Cinema Novo, além de ter sido feito exatamente para atingir um público maior e mais diversificado. Se não se representa a periferia e a subalternidade de modo mais direto (os documentários Ônibus 174 e Edifício Master, por exemplo, provavelmente oferecem maiores possibilidades no sentido de uma maior problematização da alteridade) no filme, vai-se muito além do sensacionalismo indigente e emudecedor dos noticiários populares de TV e se consolida uma tendência estética congruente e relevante no cinema brasileiro. A relação de Madame Satã (2002), primeiro trabalho de Karim Aïnouz como diretor, com a temática subalterna também é explícita: sua noção de subalternidade está muito próxima da ideia de marginalidade, do conceito de minoria; o foco é o submundo carioca dos anos 1930, seus modos e, mais entusiasticamente, suas modas. O filme vai se concentrar em um breve período da vida do famoso malandro carioca que ficou conhecido como Madame Satã, João Francisco dos Santos – mais exatamente os meses que antecederam a sua prisão por homicídio em 1932. O curto recorte temporal faz com que na narrativa prepondere o mito ao invés do rigor histórico. Ou melhor, a proposta parece ser a de apresentar as diversas facetas da personalidade oscilante de João Francisco, compondo com esses fragmentos uma espécie de preâmbulo 70
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
pobre-chique do mito Madame Satã propriamente dito (durante o filme ele ainda não é Madame Satã, é mostrada no final uma legenda que explica como ele adotou o apelido). O registro mítico define o tom para o personagem principal, seus coadjuvantes e a ambientação da época. A Lapa de Aïnouz é deliberadamente estilizada; a cidade é apenas sugerida nas cenas noturnas, nos ambientes fechados com suas cores escuras e fortes, através do foco inusitado da excelente fotografia de Walter Carvalho. Todos os aspectos técnicos contribuem muito eficientemente para a unidade estética do filme. Na esteira da construção do mito, é apresentado um cenário de “estranha beleza” ou “feiúra interessante” no qual transitam personagens de “estranha beleza” ou “feiúra interessante” (ou seja, bem ao gosto “alternativo”, como num editorial de moda da revista The Face, uma espécie de estética do “grotesco sob controle”, na qual o feio, o marginal, o aberrante, o violento são utilizados em doses homeopáticas para criar efeitos pós-modernos) formando uma impactante e forte peça cinematográfica. A concepção visual funciona, pois, muito bem e coesamente. Contudo, Madame Satã perde algo de sua força no roteiro e no desenho das relações entre os personagens. João Francisco é o centro em torno do qual gravitam não exatamente personagens, mas caricaturas, que só se sobressaem quando é reforçada essa natureza: a caricatura do travesti afetado, a caricatura da prostituta bondosa, a caricatura da diva decadente, a caricatura do bofe naive... Então, por um lado, temos um personagem principal apresentado com certa densidade e complexidade, por outro, os nexos entre ele e os coadjuvantes parecem completamente irrelevantes e muitas vezes até desinteressantes. Os personagens secundários se tornam adereços, que se destacam ocasionalmente pelo humor ligeiramente clichê dos diálogos (Tabu, o travesti, parece funcionar como o contraponto cômico de algo que não é especialmente dramático...) ou pela qualidade da atuação (que é o caso de vários atores no filme, especialmente Marcélia Cartaxo, Laurita, e Flávio Bauraqui, Tabu). Assim, parece ser desperdiçada a oportunidade de reescrever de modo mais convincente a história da conjuntura subalterna brasileira evocada pelo filme. Se é suficientemente 71
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
ousado a ponto de mostrar um vigoroso painel de párias, periféricos e subalternos, e competente para imprimir uma aparência densa e subversiva, Madame Satã, todavia, apresenta articulações tênues, ligeiras e, em certa medida, vãs entre os elementos desse painel. O filme, sim, tematiza as diversas ordens de marginalidade sugeridas por seus personagens e situações: pobreza, negritude, homossexualidade, prostituição. Mas o que poderia ser realmente uma representação de instâncias de marginalidade e subalternidade, é substituído pela maior superficialidade de um retrato de estilos de vida alternativos. Tanto Madame Satã como Cidade de Deus se alinham a uma forma de representação que destaca uma reconfiguração cosmopolita a partir do subalterno ou, como coloca Silviano Santiago, a partir de um “cosmopolitismo do pobre”. As imagens apresentadas por esses filmes têm muito mais proximidade com o modo mais atual do multiculturalismo, em contraposição a uma maneira arcaica e condescendente de “elogio” ao melting pot: Uma nova forma de multiculturalismo pretende 1) dar conta do influxo de migrantes pobres, em sua maioria ex-camponeses, nas metrópoles pós-modernas, constituindo seus legítimos e clandestinos moradores, e 2) resgatar, de permeio, grupos étnicos e sociais, economicamente desfavorecidos no processo assinalado, de multiculturalismo a serviço do Estado-nação. (SANTIAGO, 2002, p. 11)
Ambos os filmes (e mais uma série de produtos culturais que tratam de temas semelhantes) procuram se afastar da imagem “oficial” de identidade nacional, descolam-se do registro burocrático da história e tentam (em certa medida inutilmente) delinear um ponto de vista do subalterno, uma instância de representação mais direta das camadas periféricas da sociedade brasileira. Apesar de apresentar um registro um pouco diferente dos dois filmes anteriormente analisados, Amarelo Manga, de Cláudio Assis, acentua a estetização do subalterno, trazendo à tona do modo ainda mais agudo a 72
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
caracterização dos subalternos excêntricos e da feiúra interessante dos cenários da cidade do Recife. O filme enfoca a vida miserável de vários habitantes do centro depauperado da cidade, especialmente os moradores do Texas Hotel, um lugar imundo e decadente. São várias histórias paralelas: desde o necrófilo Isaac, passando pelo açougueiro adúltero, sua mulher crente e pudica, a bicha afetada, a gorda asmática, a exasperada dona do bar, entre outros. O que se tem é um mosaico de imagens muito forçadamente inusitadas, é a imagem do subalterno como aberração (indo além da caricatura de Madame Satã). Paradoxalmente, também aparecem figuras do povo, gente ordinária e cenas do cotidiano, que servem como contraponto documental à ficção esmagadora de alguns dos personagens principais e secundários. Outras contradições: os personagens desse sitcom infernal são às vezes caricatos a ponto de parecerem as estrelas de um freak show que, vez por outra, manda alguém sangrando para a Restauração. Por outro lado, personagens lembram também gente (da rua, do boteco, do barbeiro, do shopping center) que você conhece, conversa ou dá apenas bom dia. Seria o filme real, teatral ou performance de choque estilo Grand Guignol? A confusão é saudável e notável. (MENDONÇA FILHO, 2003)
Essa confusão apontada pelo crítico, além de ser um elemento estético interessante, talvez dê uma maior densidade a Amarelo Manga em relação à representação do subalterno: ao oscilar entre a hipérbole freak e o naturalismo etnográfico, ao confrontar personagens verossímeis (a crente, a bicha cafuçu, a dona do bar, o dono do hotel, o açougueiro) e inverossímeis (o necrófilo, a gorda, o padre, a família de índios no lobby do Texas Hotel), o filme aponta simultaneamente para a impossibilidade e para a urgência da representação apropriada da subalternidade, da discussão sobre as instâncias periféricas da sociedade brasileira. Ultrapassando o anedótico e estendendo os limites do grotesco, mas ao mesmo tempo evitando paternalismos ou pieguices em relação à pobreza e à miséria retratadas, o filme de certa forma anula as possibilidades do sensacionalismo – em parte por ser grotesco e sensacionalista demais, 73
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
em parte por ser de um naturalismo extremo. Pois aqui não é o “estilo alternativo de revista” ou a periferia-fashion que estão propriamente em jogo (embora aspectos dessas estéticas apareçam aqui e ali), mas as tensões de uma urbanidade periférica em carne viva. Amarelo Manga, dos três filmes comentados neste trabalho, é o que efetivamente mais se distancia de uma possível interpretação “oficial” de Brasil, pois a sua carnalidade, os seus excessos, as suas chulices constroem um mosaico de diferenças culturais não tão facilmente apaziguáveis, homogeneizáveis ou classificáveis. Não se trata de um cinema ONG – na feliz e precisa expressão de Ismail Xavier, referindo-se a produções como Cidade de Deus ou Carandiru (2003) –, tampouco se tem em Amarelo Manga sintomas de uma “cosmética da fome” full-blown, se pensarmos no termo usado por Ivana Bentes para comparar o cinema brasileiro contemporâneo ao Cinema Novo. Por não ser uma variante “autorizada”, uma transcrição estabelecida dentro do mainstream, ou talvez por não se decidir entre o exagero do grotesco e a descrição do típico, Amarelo Manga consegue possivelmente representar o subalterno numa direção menos marcada por preconceitos (positivos e negativos), oferece personagens mais autônomos tanto em relação a uma versão condescendente, quanto a uma tradução depreciativa do subalterno. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. JAMESON, Fredric. Espaço e imagem. Teorias do pós-moderno e outros ensaios. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1994. LEITE NETO, Alcino. Produção brasileira atual é “cinema ONG”, Folha de S. Paulo, 22 de novembro de 2003. MOREIRAS, Alberto. A exaustão da diferença. A política dos estudos culturais latino-americanos. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001. PRYSTHON, Angela. Cosmopolitismos periféricos. Ensaios sobre modernidade, pós-modernidade e Estudos Culturais na América Latina. Recife: Bagaço/PPGCOMUFPE, 2002.
74
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
REIS, Luís Augusto da Veiga Pessoa. Trupe do Barulho, vozes silenciosas. Entre o teatro e os mass media: o sucesso do subalterno no Recife dos anos 90. Recife: PPGCOM – UFPE. Dissertação de mestrado, 2003. ROWE, William e SCHELLING, Vivian. Memory and Modernity. Popular Culture in Latin America. London: Verso, 1992. SALLES GOMES, Paulo Emílio. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e Terra, 1996. SANTIAGO, Silviano. O cosmopolitismo do pobre, Margens/Márgenes, n. 2, dezembro de 2002, p. 4-13. _____________. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978.
75
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
REPRESENTAÇÕES DAS METRÓPOLES LATINO-AMERICANAS
“la verdad que se debe ver lindo de allá arriba.” El Cordobés, Pizza, Birra, faso
o obelisco da avenida 9 de julio1 no centro de buenos Aires evoca simultaneamente o ideário de modernidade associado às metrópoles latino-americanas como uma abstração genérica e as especificidades da Argentina da época na qual foi construído (auge de um orgulho “europeu” tipicamente portenho, tipicamente “periférico”). Por isso, parece-me no mínimo curioso abrir este artigo com duas das mais interessantes apro1
o obelisco foi construído em maio de 1936 para comemorar o quarto centenário da primeira fundação de buenos Aires. Está localizado no lugar onde pela primeira vez foi içada a bandeira argentina.
77
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
priações imagéticas do obelisco no cinema argentino recente: a primeira refere-se ao pôster de Pizza, Birra, Faso (Adrián Caetano, 1998), que retrata cinco jovens delinquentes no inverno portenho. Quem viu o filme sabe que esses jovens estão aos pés do obelisco, comendo pizza, tomando cerveja, fumando cigarros e completamente à margem dessa modernidade que é sugerida e sublinhada pelo imenso símbolo da cidade. A segunda referência ou “aparição” do obelisco (na verdade são duas cenas, uma diurna e outra noturna, mostrando o tráfego intenso na Av. 9 de Julio) é de Garage Olimpo (Marco Bechis, 1999), filme sobre as práticas de tortura na época da ditadura militar. O obelisco é testemunha e cúmplice, simultaneamente ruína de modernidade e civilização e totem da barbárie que tomou conta da nação argentina. O que é particularmente intrigante nessas alusões diretas a um dos principais símbolos da cidade é o modo como elas marcam a permanente oscilação entre a falência e o sucesso desse modelo urbano para a América Latina.
Garage Olimpo, Marco Bechis, 1999
As cidades latino-americanas sempre buscaram modelos de urbanidade e de modernidade. É muito óbvio que as referências eram sempre as grandes metrópoles mundiais e muitas vezes, Madri e Lisboa (como referências principais da cultura ibérica que originou essa “civilização” latino-americana). Mas é também evidente que logo as cidades latinoamericanas se tornaram elas próprias modelos, referências, não apenas para as cidades menores dos seus países, mas também vieram a ser padrão de um outro tipo de urbanidade, transformaram-se em modelos de 78
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
uma urbanidade periférica e alternativa, de uma modernidade periférica, como apontou Beatriz Sarlo em seu estudo sobre a Buenos Aires dos anos 1920 (1988). Esse movimento constante (de busca de referências nas grandes metrópoles mundiais, de incessante procura de adequação a padrões – de certo modo impossíveis – de modernização internacional e, simultaneamente, de estabelecimento de um novo cosmopolitismo síntese, de consolidação de um modelo alternativo e híbrido de cidade) faz do contexto latino-americano um local privilegiado de análise (como objeto e como ponto de vista) do contemporâneo, faz da produção cultural latinoamericana um foco muito rico e cheio de nuances para a compreensão da cultura do século XXI. Embora seja importante ressaltar que essa busca de modelos não é uma prerrogativa latino-americana ou periférica. Adrián Gorelik afirma que: Todas las ciudades se espejaron siempre en otras ciudades, buscando modelos que encarnan virtudes o vicios, Jerusalem o Babilonia, o, menos metafóricamente, la dignidad del progreso o de la historia, París o Nueva York, Venecia o Barcelona. (2004, p. 73)
Dentre as mais diversas possibilidades de escolha nessa produção cultural, diante dos mais variados objetos possíveis de estudo, o nosso olhar recaiu sobre aquele que talvez revele de modo mais imediato, mais visível esse movimento rumo a uma urbanidade híbrida, periférica e tão peculiarmente cosmopolita: o cinema.2 A convergência entre uma das formas culturais mais relevantes desde o século XX com o principal modo de organização social da era moderna tem sido o cerne de uma significativa 2
“É enquanto representação de representação viva que o cinema nos convida a refletir sobre o imaginário da realidade e sobre a realidade do imaginário” (MORIN, 1997, p. 16). É neste sentido que este trabalho afirma a necessidade de se analisar o cinema a partir de sua materialidade, mas sobretudo a partir das leituras que ele oferece da realidade e dos impactos que ele tem sobre o real. Ou seja, a proposta deste artigo é apresentar um olhar interdisciplinar que mescla a história discursiva da América Latina com a análise material de alguns dos filmes mencionados, combina a estrutura conceitual dos Estudos Culturais com a análise cinematográfica, é analisar o cinema latino-americano recente que reelabora a questão urbana, que tematiza os problemas da cidade.
79
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
parcela dos Estudos Culturais que se ocupam do audiovisual (SHIEL e FIZTMAURICE, 2001; BARBER, 2002; VITALI e WILLEMEN, 2006). O cinema latino-americano tem emergido nos últimos anos como uma espécie de moda cultural dos grandes centros. Ou seja, está quase garantido um lugar de destaque, está quase que automaticamente preservado o “direito de exibição” por essa “denominação de origem”.3 Esse lugar de destaque – conquistado sobretudo a partir do final da década de 1990 com filmes como Central do Brasil (Brasil, 1998), Amores Brutos (Amores Perros, México, 1999) e Nove Rainhas (Nueve Reinas, Argentina, 1999) – não é definido por uma unidade estética ou temática (embora se possa agrupar algumas recorrências, evidentemente, ao longo das duas últimas décadas), mas sim por essa possibilidade de resgate de uma ideia de unidade geográfica. A mídia internacional tentou (de modo apenas superficialmente bem-sucedido) cunhar essa ideia através do rótulo Buena Onda,� que explicitamente faz menção ao passado (à Novelle Vague francesa e aos diversos “cinemas novos” das décadas de 1960 e 1970), mas que aponta para essa singularidade geográfica do subcontinente, pois “buena onda” é uma expressão muito mais utilizada pelo espanhol da América, trazendo à tona um sentido bem marcado de “malemolência” latina, de “alegria” e de “simpatia” que emanariam naturalmente dessa cultura. Uma das disposições iniciais seria dar conta das diferenças inseridas nessa ideia, nessa pretensa singularidade (de certo modo, seria também, portanto, definir as singularidades dentro das singularidades contidas na Buena Onda), através justamente da representação das cidades – ou da representação da ausência de cidades em alguns casos – nos filmes latinoamericanos do final da década de 1990 e da década de 2000. Sempre com a perspectiva de estabelecer elos entre o fílmico (modos de representar essas cidades através do cinema, ou uma estética de representação urbana no cinema latino-americano contemporâneo) e o cinematográfico (contextos nos quais os filmes são produzidos e consumidos; maneiras pelas quais os filmes se constituem também como documentos históricos). 3 É notável, por exemplo, a presença dos filmes argentinos, uruguaios e mexicanos nas prateleiras de vendas de DVDs na Europa, quase sempre sob a égide de “cinema de autor” ou “World cinema”.
80
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Unidade latino-americana A pretensa unidade latino-americana é certamente uma ilusão, ou mais do que isso, é uma aspiração a um certo destino comum. Ela pode ser vista também com resignação: o destino comum seria mera fatalidade comum. Desmontar essa estrutura de unidade, ou demonstrar simplesmente o quão ilusória ela é, contudo, não significa se desfazer totalmente da ideia de unidade, já que ela é indispensável para o entendimento do conjunto das produções culturais latino-americanas desde a época da colonização, especialmente na América espanhola, na qual a formulação de uma identidade latino-americana encontra ecos ainda mais profundos que no Brasil. Podemos fazer algumas perguntas em relação à ideia de unidade latino-americana na sua vinculação com o cinema. A primeira delas sendo precisamente: como o cinema latino-americano recente tem representado a ideia de unidade? Depois, é também necessário questionar se essa ideia de unidade é algo que emana dos filmes na sua organicidade ou se é a consequência da avaliação crítica de um conjunto de filmes. É importante também investigar se há uma especificidade em cada país para a formulação dessa ideia, dizendo melhor, se cada país (ou cada “cinema nacional”) expressa de modo claramente distinto essa identidade, essa unidade. Resumindo, a grande dúvida no momento de se analisar o cinema latino-americano contemporâneo é: existem ideias de unidade singulares? Ou, cada país tem a sua “ilusão” própria de “América Latina”? É um conjunto de perguntas que só devem e podem ser respondidas de modo gradual, cuidadoso, a partir de cada filme, de cada grupo de filmes, porém de modo não tão sistemático de forma a apreender todas as nuances das possíveis respostas. Admite-se, então, aqui uma certa dispersão e um pouco de desapego cronológico (necessários a uma pesquisa dessa natureza: ensaística, com uma ampla gama de objetos, com um variado escopo temático, temporal e geográfico).�
81
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Uma das primeiras hipóteses é que as cidades visíveis no cinema latino-americano contemporâneo não são necessariamente um reflexo do real, não correspondem a simulacros exatos do real, mas justamente muitas vezes transformam o real, modificam o real. Visamos também investigar como se dá a relação entre a memória urbana midiática e a experiência concreta. Vamos contrastar as cidades mais “idílicas” ou nostálgicas de certos filmes de ficção com as cidades dos documentários e dos filmes mais realistas, para através de suas diferenças, mas, sobretudo, de suas semelhanças, entender como se processa a experiência urbana no cinema latino-americano das duas últimas décadas. Efeitos do (ir)real Do ponto de vista das relações entre cidade e media, através do cinema, podemos em geral ver as representações urbanas servindo, normalmente, como “pormenor supérfluo” em relação à narrativa, à estrutura, no sentido em que Barthes descreve os “enchimentos” literários, as minuciosas descrições realistas (BARTHES, 1984). Teríamos nessa inclusão de “detalhes urbanos” sem nenhum sentido aparente dentro da trama, a tentativa de obter a representação pura e simples do real, nos termos barthesianos, o efeito de real: “por outras palavras, a própria carência do significado, em proveito exclusivo do referente, torna-se o próprio significante do realismo: produz-se um efeito de real (...).”
El abrazo partido, Burman, 2004
82
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Nesse sentido, podemos ver nas imagens de Buenos Aires que aparecem em Esperando al Mesías (2000) ou El Abrazo Partido (2004), ambos de Daniel Burman, esse propósito de proporcionar aos espectadores a sensação de que os filmes mostram a vida de pessoas que moram no bairro do Once. Ou nas cenas urbanas de Y tu mamá también (2002), de Alfonso Cuarón, retratando bairros periféricos da Cidade do México, um contraponto importante à trama de iniciação sexual dos dois adolescentes de classe média. Em Taxi para tres (2001), de Orlando Lübbert, a cidade de Santiago é mostrada através do sequestro de um taxista por dois ladrões. Em Bossa Nova (1998), o Rio de Janeiro é parte fundamental da narrativa, não só ilustrando os trajetos dos personagens, mas também sendo motor dos seus atos. As imagens das cidades no cinema teriam, sobretudo, a função primordial de levar a aceitar como real (ou pelo menos como proximidade do real) o ficcional, de promover uma certa aparência de realidade. Em Temporada de patos (2004), de Fernando Eimbcke, é destacada a sonolência do subúrbio de classe média da Cidade do México, com seus personagens adolescentes, seu entregador de pizza. Filme que, aliás, tem um parentesco direto com 25 watts (2001) de Juan Pablo Rebella e Pablo Stoll, que apresenta uma Montevidéu evidentemente mais tímida que a Cidade do México de Eimbcke, mas tematiza a mesma opacidade juvenil, o mesmo tédio paralisante do subúrbio. A fotografia em preto e branco de ambos reforça essa impressão de “marasmo periférico”.
Taxi para tres, Lübbert, 2001.
83
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Porém, como falar em “efeito de real”, se em geral as cidades do cinema são muitas vezes marcadas por uma aura de irrealidade? Essas imagens, mesmo quando apreensões diretas do real (captações de cidades realmente existentes), mesmo quando guardam a exatidão de um referente indicial, remetem a uma fantasia de cidade. Muitas vezes se trata do estereótipo, do clichê: não são Buenos Aires, Santiago, Cidade do México ou Rio de Janeiro que estão realmente em jogo nessas representações, mas as imagens dessas cidades que convêm às expectativas médias de uma idealização urbana. A representação urbana midiática é muitas vezes o resultado de um mosaico de postais já esperados (especialmente na televisão, através de novelas e seriados). a representação de uma cidade também é construída dos fragmentos de seus ícones mais conhecidos: o Ibirapuera, a avenida Paulista, a obra de Tomie Oktake junto ao Centro Cultural e mais uma ou outra imagem significam São Paulo. (BALOGH, 2002, p. 76)
A partir desse mosaico é até possível delimitar algumas fronteiras entre as cidades de um ou outro filme. O Rio de Janeiro, por exemplo, de Avassaladoras (2002), de Mara Mourão, sendo absolutamente diferente do Rio de Cidade de Deus (2002), que por sua vez é distinto do Rio de Madame Satã (2002), de Kairim Ainouz – mesmo sendo evidentes as semelhanças, recorrências e continuidades entre os diferentes Rios. Dois encapsulamentos As cidades cinematográficas ora parecem ser uma resposta às insatisfações com a cidade real (Bossa Nova e Avassaladoras que mostram o Rio da classe média alta, ou filmes como O filho da noiva (2001), de Juan José Campanella e Apasionados (2002) de Juan José Jusid, que insistem numa imagem de tranquilidade urbana de Buenos Aires. Todos estes, aliás, preocupados em mostrar uma América Latina abastada e moderna.). Desse modo, é importante frisar o encapsulamento operado por esse tipo de cidade do cinema. Tal encapsulamento midiático pretende 84
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
ser uma substituição da experiência pela mediação, como uma espécie de consolo ou até projeto utópico em contraste com o duro cotidiano das cidades verdadeiras. Em contraste, temos a intenção de “denúncia” de algumas cidades cinematográficas do cinema latino. Como por exemplo, a São Paulo de Contra todos (2003), de Roberto Moreira, a Cidade do México de Amores Brutos (2000), de Alejandro González Iñarritu, ou novamente a Buenos Aires do filme que abriu este artigo, Pizza, Birra, Faso e também de Mundo grúa (1999) ou El bonaerense (2002), ambos de Pablo Trapero. Em todos esses filmes, a representação urbana pretende trazer à tona uma cidade mais próxima do real, mais fiel à experiência cotidiana. Essas cidades são aparentadas com aquelas das notícias, dos telejornais. Elas são o avesso de já esperados cartões postais. E assim estaríamos quase que saindo do território do “efeito de real” para uma tentativa explícita da transposição do real, no caso específico da representação das cidades, poderíamos estar tentando entrar na esfera de um “simulacro perfeito”. Carl Schorske, num ensaio intitulado “A cidade segundo o pensamento europeu” (SCHORSKE, 2000), apresenta três visões de cidade distintas, surgidas nos dois últimos séculos: “a cidade como virtude, a cidade como vício e a cidade além do bem e do mal.” A cidade vista como virtude implica na crença da vida urbana como base da dinâmica da civilização, esta abordagem podendo ser encontrada em Adam Smith, Voltaire, Fichte. Ao mesmo tempo, a cidade como vício, como destruição do campo, da tradição, como extremo negativo da diversidade, como prisão do operário vai ser uma imagem extremamente reforçada a partir de um cenário urbano industrial e compartilhada por artistas, pensadores e planejadores através de projetos utópicos (Fourier), estéticas e ideias arcaizantes (Ruskin, Morris, pré-rafaelitas), crítica iluminista e futurista (Marx e Engels), romances naturalistas que denunciavam as suas iniquidades (Zola), manifestos totalitários e nacionalistas (Léon Daudet, Maurice Barrés, protonazistas). As transformações na cultura ocidental trazidas a partir da segunda metade do século XIX impossibilitam a moralização da cidade. Justamente o momento em que perspectivas estéticas e filosóficas como as de Baudelaire, Nietzsche, Rilke, Pater, entre outros, 85
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
trazem à tona uma cidade além do bem e do mal. Na cidade além do bem e do mal está situada a consciência cosmopolita moderna. Ainda, o cosmopolitismo opera nos dois extremos. Seja revertendo os valores de vício e virtude; ou numa nostalgia artificial por um tipo de bucolismo que nunca existiu; ou invocando o deslumbramento pela máquina, por imagens futuristas das tecnologias nascentes. Fazendo um paralelo entre as visões de cidade apresentadas por Schorske e suas configurações cinematográficas na América Latina, poderíamos enxergar algumas coincidências dominantes entre a cidade dos filmes mais comerciais e “nostálgicos”, a cidade dos cartões postais e a cidade como virtude – a cidade como lugar do prazer, da mobilidade social, da cultura (seja no sentido exótico ou no sentido metropolitano, cosmopolita); a visão urbana dos filmes mais “sociais”, mais de denúncia, naturalmente teria conexões muito claras com a concepção da cidade como vício – a degradação, a sujeira, a violência, catástrofes “variadas” como frutos de más administrações ou da própria natureza. Entretanto, há um conjunto de filmes que traz possibilidades mais amplas de combinações entre as diversas “modalidades”, podendo ora deixar sobressair a ideia da cidade como virtude, ora acentuar a espetacularização da violência. Justamente os filmes que apresentam um embate entre as duas visões e mostram a cidade como fatalidade, de onde não há escapatória. Em O invasor (2001), de Beto Brant, por exemplo, as dualidades da cidade são muito bem exploradas. É o caso também do filme uruguaio Alma Mater (2005), de Álvaro Buela, no qual os espaços fechados e íntimos são o contraponto necessário a uma Montevidéu hostil e estranha para a personagem principal. A representação da cidade ganha força nas imagens noturnas quase distorcidas pelo neon (e pela tentativa de refletir o estado delusional da protagonista). Whisky (2004), também uruguaio, de Juan Pablo Rebella e Pablo Stoll, opera numa espécie de registro intermediário, apresentando uma cidade (também Montevidéu) que alterna entre a modernidade periférica semimetropolitana e o tranquilo provincianismo de uma “Europa” fora de moda.
86
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Whisky, Rebella e Stoll, 2004.
Memórias urbanas Outro aspecto relevante das cidades midiáticas é de como elas funcionam como recurso da memória. As cidades visíveis do cinema formam uma boa amostra da relação quase sempre paradoxal entre mídia e memória, e de uma certa forma, também entre o real e o mito. Como vimos acima, na narrativa midiática das cidades, ora prevalece uma relação de proximidade absoluta com o real (na qual vemos a experiência sendo sobreposta pela mediação, na qual não interessa o que está sendo representado: seja essa cidade – ou essa experiência urbana banal ou bizarra, cotidiana ou extraordinária, insípida ou rara, ela já não é mais referência, ela perde sua função de referente, mas o próprio ato de representar, esse momento da representação), ora as cidades são mero artifício de aproximação ao real, indícios de um referente nem sempre existente. De uma forma ou da outra, essas representações acabam por determinar um tipo de museu midiático urbano com os mais diversos matizes. Estas são as memórias necessárias para construir futuros locais diferenciados num mundo global. Não há nenhuma dúvida de que a longo prazo todas estas memórias serão modeladas em grande medida pelas tecnologias digitais e pelos seus efeitos, mas elas não serão redutíveis a eles. Insistir numa separação radical entre memória “real” e virtual choca-me tanto quanto um quixotismo, quando menos porque qualquer coisa recor-
87
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
dada – pela memória vivida ou imaginada – é virtual por sua própria natureza. (HUYSSEN, 2000, p. 37)
Tanto as configurações reais urbanas do documentário, como suas contrapartes ficcionais demonstram essa inclinação museológica. Mas é preciso frisar novamente que as cidades contemporâneas latino-americanas (e não só as cidades do cinema) estão orientadas por um apelo muito forte à imagem, a estereótipos. Através de uma concepção “disneyficada” da história, essas cidades precisam seduzir pelo artifício, ressaltar seus atributos (e quanto mais “gritantes”, mas espalhafatosos, melhor para a perpetuação dessa memória urbana). Sendo assim, as cidades não podem ser mais acanhadas ou discretas, nem no plano real, nem no representacional. Do ponto de vista do planejamento propriamente dito e das configurações materiais urbanas, a cidade latino-americana contemporânea parece ter duas opções ao seu alcance: tornar-se uma caricatura (com excessos de make-up e uma certa nostalgia mentirosa – a bizarra ideia da “revitalização”, facelift de Joan Collins) de si mesma; investir na paródia malfeita da Los Angeles arquetípica (a sucessão de muitas pós-metrópoles espalhadas e fragmentadas pelo mundo...). Em geral, vivemos nas fronteiras entre essas duas imagens. Mas não é uma fronteira pacífica, nem seus contornos são muito claros. Aliás, nem internamente às duas concepções existe uma prescrição muito clara: a caricatura se rebela o tempo inteiro contra o seu referencial “histórico”, impondo novos usos, traindo involuntariamente a sua própria breguice normativa; a paródia californiana também – vai sendo invadida pelos favelados, vai sendo redefinida pelas fissuras nas cercas dos seus estacionamentos. Já do lado da representação, este excesso imagético é bem detectado no cinema. Podemos ver alguns exemplos dessas caricaturas urbanas no cinema latino-americano recente, em especial no brasileiro: em Carlota Joaquina (Carla Camuratti), a intenção de compor uma revisão histórica pop levou à recriação do Rio de Janeiro colonial na São Luís dos anos 1990 – tudo muito colorido, tudo muito “gentrificado”. Valentín (2002), de Alejandro Agresti, investe na recriação meticulosa da Buenos Aires 88
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
do final dos anos 1960, através de figurino e direção de arte impecáveis, uma trilha sonora pop e uma exploração tradicional decorativa do tecido urbano. A volta ao passado pré-ditadura, com seus Ford Farlane, seus astronautas, suas vitrolas tocando o grupo pop argentino Almendra, suas garrafas de refrigerante, sugere uma cidade mais alegre, mais tranquila, mais colorida.
Valentin, Agresti, 2002.
Madame Satã (Karim Aïnouz) traz à tona um registro mítico para o personagem principal, seus coadjuvantes e a ambientação da época. Numa Lapa deliberadamente estilizada; a cidade é apenas sugerida nas cenas noturnas, nos ambientes fechados com suas cores escuras e fortes. Na construção das imagens do Rio dos anos 1930, é apresentado um cenário de “estranha beleza” ou “feiúra interessante” no qual transitam personagens de “estranha beleza” ou “feiúra interessante”, como se o grotesco urbano estivesse sempre “sob controle”, sob pressão. Amarelo manga talvez apresente as tensões de uma urbanidade periférica em carne viva de modo menos caricatural, ao estender os limites do grotesco (ou seja, perdendo um pouco o controle), mas ao mesmo tempo evitando qualquer paternalismo ou pieguice em relação à pobreza e à miséria no retrato que faz do Recife contemporâneo. Nas imagens mais documentais, entretanto, da cidade no cinema, vemos alguns exemplos interessantes (e muito distintos) de como tirar proveito das imagens do real (e da alteridade). Ônibus 174 (José Padilha) relata o sequestro de um ônibus coletivo que resultou na morte da 89
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
refém e do sequestrador e foi destaque nos noticiários em 12 de junho de 2000. Mas as cenas iniciais do filme, mostrando o percurso do ônibus por diversos cartões postais do Rio, até chegar ao Jardim Botânico (onde acontece a tragédia), revelam o quão próxima a cidade como virtude está da cidade como vício. Já Edifício Master (Eduardo Coutinho) focaliza num único edifício de Copacabana, mas consegue capturar de forma muito complexa a memória do Rio de Janeiro através das memórias dos personagens escolhidos por ele. Saindo do território do documentário, mas ainda numa apreensão quase documental dos subúrbios portenhos, o já citado El bonaerense desmonta o cartão postal tradicional mostrando com seus movimentos de câmera nervosos e sua fotografia de cores saturadas a Argentina dos decadentes conjuntos habitacionais e villas misérias. Os também já citados Esperando al mesías e El Abrazo partido recorrem à representação mais específica do bairro Once, no centro de Buenos Aires, área conhecida por abrigar grande parte do comércio associado com os imigrantes, especialmente os judeus. É evidente que é impossível catalogar todas as maneiras de representar a cidade no cinema latino-americano contemporâneo num ensaio de poucas páginas, porém já podemos vislumbrar as muitas encruzilhadas entre o real e o virtual, entre o referencial e o ficcional, entre a experiência e a mediação urbanas nesse conjunto de filmes mencionados aqui de modo muito panorâmico. Até porque pensar o papel da cidade na cultura contemporânea envolve necessariamente a leitura das representações urbanas cinematográficas como partes fundamentais de um sistema comunicacional. Assim, a nossa tarefa aqui foi a de contribuir para o mapeamento dos ecossistemas e gramáticas urbanas, para a análise das transformações urbanas contemporâneas latino-americanas a partir do cinema.
90
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BALOGH, Ana Maria. O discurso ficcional na TV. São Paulo: EDUSP, 2002. BARBER, Stephen. Projected Cities. Cinema and Urban Space. Londres: Reaktion Books, 2002. BARTHES, Roland. O efeito de real. In: O rumor da língua. Lisboa: Edições 70, 1984. BAUDRILLARD, Jean. A ilusão vital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974. GORELIK, Adrián. Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2004. HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. MORIN, Edgar. O cinema ou o homem imaginário. Lisboa: Relógio D’Água, 1997. SARLO, Beatriz. Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1920 y 1930. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1988. SCHORSKE, Carl. Pensando com a história. Indagações na passagem para o modernismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. SHIEL, Mark e FITZMAURICE, Tony (orgs.). Cinema and the City. Film and Urban Societies in a Global Context. Oxford: Blackwell, 2001. SHOHAT, Ella e STAM, Robert. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Crítica del pensamiento eurocéntrico. Buenos Aires: Paidós, 2002. VITALI, Valentina e WILLEMEN, Paul (orgs.). Theorising National Cinema. Londres: British Film Institute, 2006.
91
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
DA ALEGORIA CONTINENTAL ÀS JORNADAS INTERIORES: O ROAD MOVIE LATINO-AMERICANO
A
ssim como a literatura de viagem está geralmente associada à expansão do colonialismo europeu, o road movie é normalmente definido como um gênero cinematográfico norte-americano por excelência – aquele ao qual pertencem easy rider, Thelma and Louise, Lost Highway, só para mencionar alguns dos mais emblemáticos. o propósito deste artigo é comparar algumas apropriações deste gênero na América latina. Algumas que exacerbam o caráter alegórico das viagens pelo continente (como el viaje (1992) de Pino Solanas, Guantanamera (1996) de Tomás Gutierrez Alea e diários de motocicleta (2003) de Walter Salles), outras que buscam através de um maior intimismo revelar as singularidades dos seus personagens viajantes, como Terra estrangeira (1993) de Walter Salles jr. e alguns filmes dos anos 2000 que optam por esse segundo registro: Y tu mamá también (2001) de Alfonso Cuarón e Historias mínimas (2002) de Carlos Sorín. o cinema latino-americano contemporâneo, a partir desses e de outros filmes de viagens, tem apresentado uma representação espacial, que não apenas redefine e reelabora o problema da nação e dos mitos de localização, mas também subverte a própria ideia de “latino-americanidade”. Serão discutidos, em cada um dos filmes selecionados, as relações entre o deslocamento e a afirmação de uma diferença cultural e as estratégias de autorrepresentação latino-americanas no cinema. 93
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Pretende-se estabelecer conexões entre a noção de identidade latino-americana e os percursos realizados pelos personagens do filmes analisados, traçando uma espécie de mapa imaginário da região. Um mapa que inclui as geleiras da Terra do Fogo, a Patagônia, os pampas em época de inundação, metrópoles como Buenos Aires, São Paulo e a Cidade do México, a decadência urbana de Cuba, o deserto chileno de Atacama, Macchu Picchu, praias desertas e pequenos vilarejos. Um mapa no qual as diferenças entre centro e periferia não estão muito claras, onde a Europa (Lisboa, mais exatamente) aparece como a fronteira sempre presente, quase servindo como lembrete permanente dos laços com o lugar de origem. O primeiro dos filmes selecionados para a comparação, El Viaje, de Pino Solanas, mostra o trajeto de Martín, que sai da Terra do Fogo, onde mora com sua mãe e padrasto, empreendendo uma longa viagem por todo o continente em busca do seu pai. Em tom de sátira, El Viaje tematizou as carências e sonhos latino-americanos, emblematizados na figura de Martín. Solanas comenta mais diretamente a realidade argentina (de maneira especialmente crítica ao governo Menem) através de pequenas alegorias que se mesclam à história do rapaz em busca de seu passado. Num périplo carregado de metáforas, Martín vai do sul ao norte, da Terra do Fogo a Oaxaca, no México. Terra Estrangeira, de Walter Salles, sem ser inteiramente um road movie, como El Viaje, também se refere à devastação política da primeira metade dos anos 1990 na região, dessa vez com relação ao Brasil de Fernando Collor. Terra Estrangeira conta a história de Paco, um estudante de 21 anos cujo projeto de vida é totalmente alterado pelo Plano Collor e resolve se autoexilar em Portugal. Lá, conhece uma garçonete brasileira que vive com um contrabandista. O filme apresenta a busca de raízes perdidas pelos dois errantes, misturando a história real do Brasil com ficção típica de um filme policial. Quiçá o filme mais inusitado dessa seleção, Guantanamera, de Tomás Gutiérrez Alea, pontua o trajeto de um cadáver (o de uma cantora, Yoyita, que volta de Havana à sua cidade natal depois de 50 anos, para 94
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
morrer ao lado do seu amor de infância). As dificuldades vão aumentando à medida que a gasolina escasseia e cômicos incidentes dificultam o translado do corpo até a capital. O filme, além da óbvia conotação política de crítica à burocracia cubana, também vai mostrando o romance entre um caminhoneiro don Juan e uma professora universitária infeliz no casamento. Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, revela dois jovens de classe média alta mexicana embarcando numa viagem impulsiva com uma mulher mais velha (a esposa de um primo de um dos rapazes). Tenoch e Julio conhecem Luísa num casamento da alta sociedade mexicana. Tentando impressioná-la, eles comentam sobre os planos de viajar para uma praia secreta e paradisíaca, Boca del Cielo. Para escapar de problemas pessoais, Luísa aceita o convite e logo os três saem em busca de um destino fictício. O filme oscila entre a educação sentimental de Julio e Tenoch e a inclinação documental, que inclui imagens contrastantes de dois Méxicos bem diferentes. Tudo comentado por um narrador que apresenta secamente as conexões entre essas imagens e a narrativa dos três protagonistas. Em Diários de motocicleta, de Walter Salles, Che Guevara é um jovem estudante de Medicina que, em 1952, decide viajar pela América do Sul com seu amigo Alberto Granado. A viagem é realizada em uma velha moto, que acaba quebrando definitivamente após oito meses. Eles então seguem viagem através de caronas e caminhadas. Na selva peruana, a dupla conhece uma colônia de leprosos. A viagem termina na Venezuela, de onde Ernesto retorna à Argentina. Histórias Mínimas, de Carlos Sorín, conta três histórias diferentes, mas que se entrelaçam algumas vezes. São três vidas que se esbarram num objetivo comum: chegar à cidade de San Julián, na Patagônia. Don Justo é um senhor quase cego que descobre que o seu cachorro de estimação, desaparecido há três anos, fora visto nos arredores da tal cidade. Roberto é um vendedor que encomenda um bolo para comemorar o aniversário do filho de uma cliente de San Julián, por quem está interessado. María Flores é moradora de um povoado que, ao ser sorteada para participar de um programa de TV, fica em dúvida se recebe o prêmio ou deixa sua casa. 95
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
A partir especialmente de suas opções narrativas, o cinema latinoamericano parece, assim como a maioria das manifestações artísticas desde o final da década de 1980, querer dar conta da natureza nômade mais acentuada do contemporâneo. Pois, se as viagens e as experiências cosmopolitas sempre fizeram parte da experiência humana, no contemporâneo, elas se tornam uma expressiva marca da modernidade (ou pósmodernidade). James Clifford argumenta que: “practices of displacement might emerge as constitutive of cultural meanings rather than as their simple transfer or extension”1 (CLIFFORD, 1997, p. 3). Especialmente a partir de Deleuze e Guattari que as metáforas mais repetidas, que as expressões mais recorrentes para se descrever o contemporâneo estão ligadas a uma percepção espaço-temporal do deslocamento: sensação de dissolução de fronteiras, o crescente apagamento das margens, desterritorialização progressiva, constantes reterritorializações. E parece-me que o cinema tem buscado refletir efetivamente sobre esses processos. O road movie aparece então como o veículo ideal para a representação desses sintomas do nosso tempo. Tanto a literatura de viagem, como o road movie, em si, não constituem gêneros fechados, mas uma espécie de recorte temático que pode estar presente nos mais diversos gêneros. Entretanto, é possível desenhar, especialmente no caso do road movie, algumas continuidades, alguns traços característicos que apontam para a cristalização de um gênero road movie, no qual o deslocamento dos personagens serviria simultaneamente como tentativa de escapar do mundo onde vivem e de desenhar novos mapas, de prescrever novas rotas, de descobrir novos territórios. Homi Bhabha, logo na introdução de “O Local da Cultura” (1998, p. 19), afirma que o tropo dos nossos tempos é colocar a questão da cultura na esfera do além, onde estaríamos vivendo “nas fronteiras do ‘presente’, para as quais não parece haver nome próprio além do atual e controvertido deslizamento do prefixo ‘pós’”. A esfera do além não indica uma superação do passado ou uma escalada rumo ao futuro, mas um lugar e um momento de trânsito, um processo contínuo. Nesse 1
96
práticas de deslocamento emergiriam como constitutivas do significado cultural ao invés de mera transferência ou extensão.
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
sentido, teríamos, além da dimensão temporal, uma dimensão espacial que sugere movimento, que sugere constantes deslocamentos. Assim, o conceito de entrelugar vai ser particularmente relevante para entender o que acontece com a contemporaneidade periférica (no nosso caso o cinema latino-americano que tematiza os deslocamentos pela periferia, no caso de El Viaje mostrando até os percursos pela periferia da periferia). As primeiras imagens de El Viaje já dimensionam e realçam a condição periférica da América Latina: primeiro alternando planos de um jovem olhando por uma janela a paisagem gelada de Ushuaia (capital da Terra do Fogo) e cenas documentais da demolição do Albergue Warnes (grande hospital de Buenos Aires que tinha se tornado uma espécie de megacortiço ao longo da década de 1970), Solanas apresenta o primeiro dos três capítulos da jornada de Martín Nunca, intitulado secamente “En el culo del mundo”. Nele, Martín já anuncia o seu desejo de “cruzar a América Latina” para encontrar seu pai. Nesta parte do filme, prevalecem as imagens escuras, os negros e frios corredores do “Colegio Nacional Modelo”. Martín mora com sua mãe e seu padrasto e decide partir após a sua namorada anunciar ter feito um aborto. O filme intercala o voice over do protagonista, as narrativas do pai (Nicolas Nunca) contadas em quadrinhos épicos e as aventuras de Martín apresentadas em registro alegórico. O segundo episódio chama-se “Hacia Buenos Aires” e mostra Martín cruzando uma Argentina quase que totalmente depauperada, vendida e literalmente alagada, como resultado dos desmandos do presidente, Dr. Rana (numa nada sutil alusão a Menem). A última e mais longa parte de El Viaje é “A través de Indo América”, na qual Martín percorre Bolívia, Peru, Brasil, Venezuela e Colômbia até chegar ao México, onde termina o seu trajeto, sem, contudo, encontrar realmente o pai. O final do filme revela a ânsia utópica por parte de Solanas ao retratar o encontro com o pai como uma impossibilidade que só pode ser resolvida num plano de fantasia: Nicolás aparece como em sonho para Martín oferecendo a possibilidade de viajar juntos numa “serpiente plumada”, numa clara alusão ao mito de Quetzalcoátl.
97
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Fig. 1: El Viaje
A América Latina se configura nesse filme como um entrelugar nos mais variados sentidos, especialmente no que diz respeito às tensões políticas vividas em todos os países que a formam. Como sugere o nome de um dos seus muitos personagens alegóricos, Américo Inconcluso. Fredric Jameson viu nesse filme uma espécie de antídoto ao pós-modernismo americano, por ser construído a partir de alegorias políticas e oferecer a possibilidade da narrativa fílmica recobrar sua força de discurso político, mesmo com uma disposição muitas vezes excessivamente heterogênea e uma mistura de registros ocasionalmente desordenada: A forma descontínua nos lembra o conceito antigo de Eisenstein da montagem de atrações, que ele tomou do circo da mesma maneira que outros o haviam reinventado a partir do music hall – uma referência pós-brechtiana no cinema poderia ser O Lucky Man!, de Lindsay Anderson, se ele tivesse um pouco do espírito ativista e profético de Solanas. Mas a ligação de episódios heterogêneos, possibilitada por um enfoque político sistemático da subordinação dos regimes latino-americanos aos Estados Unidos e ao FMI, tem também a vantagem de conferir aos episódios cômicos – Buenos Aires transformada em enorme esgoto externo, Brasília tornando-se um pesadelo de restrições burocráticas carregadas como se fossem um cinto de castidade econômico – uma grandiosidade que apaga qualquer distinção entre o cômico e o sublime. (JAMESON, 1994, p. 140-141)
98
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Essa grandiosidade também está, de certo modo, presente em Terra estrangeira, de Walter Salles. Só que nesse filme, há uma afirmação do periférico em relação ao central muito mais direta do que em El Viaje. O segundo filme da nossa seleção e o segundo recorte temático deste artigo compreendem os entrecruzamentos, choques e resultados do binário centro e periferia numa época em que esse binário aparentemente estaria superado. Pois, muito embora a ideia de periferia sugira uma centralidade já proclamada obsoleta, ao mesmo tempo é precisamente a cultura periférica que emerge no contemporâneo como o instrumento principal de desestabilização do centro. A partir da delimitação desse espaço/tempo-múltiplo do entrelugar, fica claro que uma vertente importante no discurso da teoria crítica da cultura tem sido a tematização do descentramento identitário ocorrido na pós-modernidade, e que esse discurso transborda da academia para a cultura, para o cinema. Ainda que sob a forma de ficção, Terra Estrangeira propõe uma reflexão sobre o Brasil deslocando – geograficamente – parte da narrativa para outro continente. Portugal testemunha, no filme, o trânsito de personagens em fuga. De personagens que articulam suas periféricas identidades numa frenética, e claramente diaspórica, negociação cultural. (FREIRE, 2004, p. 15)
O registro político também aparece no filme de Walter Salles, sem, todavia, sobrepor-se à forte dicção intimista do seu formato. O foco da narrativa está nos dois personagens principais, Alex e Paco, e nas suas histórias de errância e deslocamento (nos mais diversos sentidos e não apenas no geográfico). Então, é evidente o cuidado com a direção de atores e com a representação visual das diásporas e das nostalgias desses personagens. A própria fotografia em preto e branco da película contribui para ressaltar o senso de inadequação, de falta de pertencimento dos personagens principais e também dos secundários (especialmente se pensarmos nos africanos em Lisboa). Janaína Freire, na sua dissertação de mestrado sobre o filme, chama a atenção para um pequeno paradoxo em Terra Estrangeira, contudo:
99
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Embora o fio condutor do filme, do ponto de vista temático, seja a abordagem de uma ausência de referenciais, de identidade, de estreitas relações com sociedades e culturas “originais”, no Brasil ou em Portugal, há que se notar a presença de fortes imagens destes dois países na obra. (FREIRE, p. 19)
O contraste dessas imagens desses dois países demonstra o mútuo fascínio e as evidentes tensões (e contradições) entre centro e periferia. As duas cidades do filme, São Paulo e Lisboa, aparecem como exemplos bem acabados das relações geopolítico-culturais bem mais complexas no contemporâneo. Relações estas que vêm redefinindo o próprio conceito de cosmopolitismo. Assim, se o cosmopolitismo moderno é essencialmente centrípeto, a força centrífuga da pós-modernidade começa a relativizar a importância das grandes metrópoles mundiais em termos de disseminação das informações. O que antes era quase um sistema de oposições – campo/cidade; provinciano/cosmopolita; bárbarie/civilização; caos/ordem –, torna-se uma rede de múltiplas interdependências, confluências e novos parâmetros. É curioso atentar que é especialmente a cidade que se apresenta como o território intersticial onde se encadeiam, intercalam-se e se confrontam tais oposições (SHIEL, FIZTMAURICE, 2001). Ao invés de ser apenas mais um elemento do binarismo oposicional, a cidade (periférica ou central) passa a ser ela própria um processo dialético dos embates pós-modernos (caso tanto de São Paulo, como de Lisboa nesse filme).
Fig.2: Terra Estrangeira
100
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Os trechos finais de Terra estrangeira mostram Alex e Paco tentando fugir de Igor (o traficante de pedras preciosas) e chegar a San Sebastián, na Espanha, assumindo um caráter de road movie propriamente dito a partir daí. Das cenas na praia com os belos planos dos amantes em fuga e do navio encalhado na praia à irrupção da fronteira entre Portugal e Espanha, passando pela lanchonete da estrada onde Alex canta Vapor Barato e eles terminam por reencontrar Igor, tudo remete a San Sebastián. A cidade se projeta como o lugar da utopia irrealizada da mãe de Paco. Utopia que o filho também não consegue alcançar. De todas as formas, os deslocamentos nesse filme só parecem afirmar os constantes e simultâneos apagamentos e reinscrições das diferenças culturais entre latino-americanos e europeus, entre brasileiros e portugueses, entre exilados e cosmopolitas. A terceira temática proposta por esse texto vai distanciar um pouco do entrelugar para se concentrar mais nas dimensões sociopolíticas do deslocamento em um país como Cuba. Guantanamera sublinha a condição periférica dos cubanos (por assim dizer, uma espécie de periferia da periferia da periferia) ao multiplicar os 910 quilômetros que separam Guantânamo de Havana pelas dificuldades na estrada, problemas mecânicos, escassez de combustível e principalmente pela burocracia que empanca não apenas as atividades rotineiras dos cidadãos, como também as relações pessoais. Com um estilo narrativo que remete à telenovela brasileira e alguns toques de realismo mágico, Guantanamera, dos quatro filmes trabalhados aqui talvez seja o mais estritamente associado à estrutura de road movie. Em 1995, Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío dirigiram o filme (último de Alea, que faleceu em 1996) que tem como tema reincidente a canção de mesmo nome, com os versos adaptados para narrar a história.
101
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Fig.3: Guantanamera
Guantanamera combina em sua trama romance e crítica ao sistema cubano. No reencontro com Candido – o grande amor que fora deixado para trás, embora nunca esquecido –, a cantora Yoyita falece e aí começa a saga do seu funeral que parte da cidade de Guantânamo em direção à capital de Cuba, Havana. Adolfo, marido de Georgina, sobrinha de Yoyita, trabalha para o governo cubano e encontra na morte de Yoyita uma excelente oportunidade para comprovar sua teoria. A ideia é que se a pessoa morrer numa cidade e tiver que ser transportada para outra, todas as cidades do percurso devem agir juntas; em cada cidade o caixão deve trocar de carro para continuar a viagem. Apesar da burocracia, Adolfo garante que, dessa forma, vai-se ganhar tempo e dinheiro. Assim, o corpo de Yoyita segue no carro do funeral enquanto Adolfo, Georgina e Candido acompanham num táxi dirigido por Tony. Ao longo do caminho, Adolfo vai percebendo que Cuba não é o país que ele imaginava. Nos restaurantes do percurso, eles não conseguem comer porque os comerciantes só trabalham com dólar. O taxista aproveita a viagem para comprar artigos como banana, alho, e vender no mercado negro que se revela muito mais muito rentável que sua profissão original. Na mesma estrada estão dois caminhoneiros, Mariano e Ramon. Mariano estudou Economia e foi aluno de Georgina. A partir da introdução desses dois personagens, vemos sucessivos encontros entre os dois grupos (o cortejo fúnebre e os dois caminhoneiros), que acabam por reavivar a antiga paixão do aluno pela professora. O troca-troca de carros e as conturbações da viagem 102
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
fazem com que o corpo de Yoyita termine sendo trocado por outro e, na hora do funeral, Adolfo e Candido percebem. Adolfo, para não perder a promoção pelo êxito do plano, não fala nada. Candido, um velho triste pela perda do grande amor, não aguenta a decepção e falece. Seu corpo é enterrado com o suposto corpo de Yoyita, enquanto Adolfo faz um discurso, embaixo de muita chuva, exaltando o sistema. Sob a mesma chuva, Mariano e Georgina se reencontram. Assim como outros trabalhos de Alea, a intenção é dar continuidade à “memória do subdesenvolvimento”, afirmando uma identidade periférica através do cinema. O próprio Alea afirma o cinema como: Un instrumento valiosísimo de penetración de la realidad. ¿Cómo podría explicarlo? El cine no es retratar simplemente. El cine es manipular. Te da la posibilidad de manipular distintos aspectos de la realidad, crear nuevos significados, y es en ese juego que uno aprende lo que es el mundo. Yo tenía muchas inclinaciones: por la música, por la literatura, por la pintura, incluso por las cosas manuales: la mecánica, la carpintería, los trucos de magia, todas esas fueron cosas que poblaron mi niñez. Tenía una aparente dispersión. Sin embargo, todo eso se sintetizaba en el cine y el día que tuve por primera vez una cámara de 8 milímetros en las manos fue la revelación, la certeza de lo que iba a ser, porque a través del cine podía desarrollar todas esas inclinaciones conjuntamente. (GUTIÉRREZ ALEA, 1993)
A partir dessa conjunção de inclinações, o cinema latino-americano (o cubano em especial e ainda mais particularmente a obra de Alea) foi capaz de articular um direto contraponto ao road movie hollywoodiano e aos padrões estabelecidos do cinema mainstream internacional. Guantanamera afirma constantemente a ideia de uma identidade regional, baseada na própria noção de subdesenvolvimento. Os comentários que Mariano faz sobre as disciplinas do curso de Economia revelam apropriadamente as projeções de Alea sobre o futuro cubano: Mariano diz que a disciplina Comunismo Científico havia se transformado em Socialismo Científico, ao que Ramón retruca: “Dentro em breve vai ser 103
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
‘Capitalismo científico’.” Com Guantanamera, o gênero road movie é posto ao avesso, subvertido pela própria condição de precariedade da mobilidade cubana. O subdesenvolvimento também vai ser um dos subtemas em Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Entretanto, a forma com que o tema é tratado difere dos três filmes anteriores por buscar no impacto do contraste um comentário mais sólido. Já que aqui entram em jogo as aspirações, modelos e identidades das classes abastadas mexicanas. Os jovens que protagonizam a viagem pelo litoral (junto com a mulher espanhola) formam parte de uma elite que poderia facilmente se confundir com suas contrapartes europeias ou norte-americanas. Mas o seu percurso os coloca necessariamente em interação com um mundo simultaneamente muito estranho e muito familiar a eles. Tenoch, Julio e Luísa, sem abdicar de suas vidas confortáveis e de seus hábitos de classe média alta, tomam contato com o outro lado do México. O filme lida o tempo inteiro, especialmente através do onisciente narrador, com a apresentação dos contrastes: entre campo e cidade (nesse sentido, também como em El Viaje, o trajeto dos personagens serve com desculpa para fazer desfilar essas oposições), entre ricos e pobres, europeus e indígenas, gays e heterossexuais. A cidade do México com suas disparidades, com sua magnitude, com sua riqueza e pobreza vai ser confrontada tanto com um ambiente rural desesperançado, como com a idílica utopia da praia Boca Del Cielo. Do mesmo modo que os hábitos refinados dos personagens ricos vão ser postos em oposição à vida simples da família de Chuy, o pescador. Como também a atitude preconceituosa e adolescente dos dois rapazes perante o sexo vai ser abalada pelos questionamentos e atos libertadores de Luísa.
104
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Fig.4: Y tu mamá también
Assim, o filme se descola um pouco do nosso recorte maior, oferecendo uma representação da identidade latino-americana mais distante das alternativas mais alegóricas (e autoexóticas) de El viaje, mais nostálgicas de Terra estrangeira, ou mais militantes de Guantanamera. Para além do comentário social, Y tu mamá también pretende usar a viagem como metáfora para as viagens íntimas de autodescoberta dos seus personagens. Tanto os dois jovens como Luísa vão se conhecer melhor nestes poucos dias de jornada. Diários de motocicleta, também de Walter Salles, assim como Terra Estrangeira, retoma de certo modo a linguagem alegórica de El viaje, ao adaptar os diários de viagem de Ernesto Guevara (que na época ainda não era chamado de Che, mas de El fuser). Assim como o filme de Solanas, este procura reafirmar a noção de uma unidade latino-americana. Mas se em El Viaje o percurso do protagonista está pontuado por uma mistura de vozes e discursos (desembocando na excessiva heterogeneidade comentada acima e às vezes também numa certa confusão de princípios norteadores), em Diários de motocicleta prevalece a autoconsciência de um destino continental, de uma identidade regional. As jornadas de Guevara e Granado pretendem evocar todas as jornadas de cada indivíduo latino-americano, como diz o próprio Guevara no brinde proposto numa celebração de médicos, enfermeiros e voluntários no leprosário de San Pablo, no Peru: 105
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza que desde México hasta el estrecho de Magallanes presenta notables similitudes etnográficas. Por eso (...) brindo por Perú y por América Unida. (GUEVARA, 1995, p. 135)
E há também outro diferencial em relação ao cinema latinoamericano das décadas anteriores: Diários de motocicleta reúne o teor alegórico-político de um cinema supostamente mais “comprometido” à sensibilidade contemporânea da estetização da imagem. Porque mesmo sublinhando (sobretudo nas cenas em preto e branco, aquelas cenas mais “documentais”, nas quais aparecem os trabalhadores, os personagens anônimos, símbolos da miséria continental) um espírito de coletividade, ou como colocaria Jameson, “uma repetição nostálgica do anseio antigo por uma comunidade orgânica” (JAMESON, 1994, p. 139-140), no caso, a coletividade latino-americana, o road movie de Walter Salles apresenta a unidade continental, “uma só raça mestiça”, nos moldes das últimas tendências das indústrias culturais mundiais – com sua narrativa linear, seus belos panoramas e a nítida influência do cinema americano. Ou seja, Diários de motocicleta busca através de sua produção hollywoodiana (produtores, técnicos e um ator em ascensão – Gael García Bernal) explicitamente a inserção no mercado de cultura. Mercado que vai consumir a cultura latino-americana (em especial o cinema, que vai ser rapidamente rotulado de “Buena Onda” no início da década 2000, principalmente a partir do sucesso de filmes argentinos, como Nove Rainhas e O filho da noiva), desde que a diferença periférica seja embalada de maneira atraente e moderna.
106
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Fig.5: Diários de motocicleta
O último filme da nossa seleção, Histórias mínimas, de Carlos Sorín, constitui, por assim dizer, uma espécie de recuo em relação a essa “embalagem moderna e atraente” da diferença latino-americana, pois diferentemente de Diários de motocicleta em que as distintas locações são cenários para marcar uma ideia de comunidade latinoamericana, e ao contrário do que acontece em Y tu mamá tambiém, os deslocamentos no filme não servem apenas como aproximação documental à realidade continental, como signo de uma identidade periférica. No filme de Sorín, a viagem é o cerne, a viagem é o que une os três personagens principais (dois deles vividos por não atores). Nesse sentido, as paisagens da Patagônia não são meros acessórios ou panos de fundo para alegorias continentais. A conexão entre geografia e as viagens interiores dos personagens é estabelecida através do contraste. Sorín ressalta a magnitude patagônica e a insignificância das histórias (mínimas) dos seus personagens.
107
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Fig.6: Historias mínimas
A escolha dos não atores (há um único ator profissional no filme, Javier Lombardo, que desempenha o papel de Roberto, o caixeiroviajante) e o confronto entre o minimalismo dos três episódios e a grandiosidade épica da Patagônia produzem uma zona difusa que fica entre a ficção e o documentário, uma espécie de avesso do reality show. Sem espetacularizar a periferia (poderíamos dizer que o processo foi quase a reversão da espetacularização), sem caricaturas identitárias, os caminhos das Histórias mínimas perfazem um retrato mais humano, e talvez mais claro das desigualdades e das peculiaridades do sul da América do Sul. Ao recorrermos à história dos cinemas nacionais, fica evidente que as viagens, deslocamentos, exílios e diásporas não representam nenhuma novidade no cinema latino-americano, antes, servem como o constante remapeamento dos contornos identitários da região. Algo que tem a ver com geografia, mas também com etnicidade, história, cultura e política. Como se o deslocamento, a mobilidade pudesse ir mostrando de modo mais complexo e amplo as marcas e cicatrizes do continente.
108
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS APPADURAI, Arjun. La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 2001. BENNETT, David (ed.). Multicultural States. Rethinking Difference and Identity. London/New York: Routledge, 1998. BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. CLIFFORD, James. Routes. Travel and translation in the late twentieth century. Cambridge/London: Harvard University Press, 1997. FREIRE, Janaína Cordeiro. Identidade e exílio em terra estrangeira. Recife: PPGCOMUFPE, 2004. Dissertação de mestrado. GETINO, Octavio. Cine argentino. Entre lo posible y lo deseable. Buenos Aires: Ciccus, 1998. GUEVARA, Che. The Motorcycle Diaries. A Journey Through South America. London: Fourth State, 1995. GUTIÉRREZ ALEA, Tomás. Entrevista. Publicada em La Gaceta de Cuba, Havana, setembro/outubro de 1993. Disponível em: http://www.clubcultura.com/clubcine/ clubcineastas/titon/ JAMESON, Fredric. Espaço e imagem. Teorias do pós-moderno e outros ensaios. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1994. ___________. As marcas do visível. Rio de Janeiro: Graal, 1995. KING, John. Magical Reels. A History of Cinema in Latin America. London/New York: Verso, 1990. LARSEN, Neil. Reading North by South. On Latin American Literature, Culture, and Politics. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 1996. SHIEL, Mark, FITZMAURICE, Tony. Cinema and the City. Film and Urban Societies in a Global Context. Oxford: Blackwell, 2001 SHOHAT, Ella, STAM, Robert. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Crítica del pensamiento eurocéntrico. Barcelona: Paidós, 2002. YÚDICE, George. Postmodernism in the Periphery, The South Atlantic Quarterly, 92:3 (Summer 1993), p. 543-56.
109
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
ENTRE AS HIPÉRBOLES FREAKS E AS FANTASIAS HEGEMÔNICAS: REPRESENTANDO A SUBALTERNIDADE NO AUDIOVISUAL NORDESTINO “os estudos do subalterno são sobre o poder, sobre quem o tem e quem não o tem, quem está ganhando o poder e quem o está perdendo. o poder está relacionado com a representação: que representações têm autoridade cognitiva ou asseguram hegemonia, quais as que não têm autoridade e não são hegemônicas.” (bEvErlEY, 1999, p. 1)
é
importante contextualizar de antemão a origem deste artigo: por um lado, ele forma parte de uma pesquisa específica sobre as representações da cultura urbana no cinema contemporâneo; por outro, ele marca a continuidade e a rearticulação do referencial teórico e de vários conceitos com os quais venho trabalhando há anos. A intenção é aprofundar a análise de um conjunto de estratégias e expressões de diferenças culturais, ou modos de negociação dessas diferenças, dentro de um contexto de multiculturalidade que permanentemente redefine e/ ou subverte os tradicionais binarismos centro/periferia; modernidade/ tradição; global/local; hegemonia/subalternidade. Nesse sentido, convém apresentar melhor o tipo e as bases do argumento que se vai desenvolver aqui. o ponto de partida é o contraste entre a representação do subalterno (a partir de alguns trechos de três filmes produzidos sobre e/ou no Nordeste brasileiro – um documentário e dois longas de ficção) com a representação pelo subalterno – não necessariamente uma autorrepresentação, 111
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
diga-se de passagem – (filmes de Simião Martiniano – camelô e cineasta –, as peças de teatro e as participações na televisão recifense da Trupe do Barulho e as apresentações de bandas do brega pop nos programas vespertinos da televisão local). A hipótese inicial é que esse contraste traz à tona dois universos absolutamente distintos de estereótipos, estratégias enunciativas, discursos, negociações e, sobretudo, encenações da diferença cultural. Embora sem a intenção de catalogar exaustivamente a topografia desses universos, este texto tenta vislumbrar os momentos e os lugares nos quais as fronteiras entre ambos começam a se delinear. Começo por apresentar dois blocos distintos. No primeiro, algumas cenas1 emblemáticas da representação do subalterno brasileiro no cinema: em O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas (2000) de Paulo Caldas e Marcelo Luna, closes de um delegado – vestido a la Jece Valadão em 1970 – se intercalam aos depoimentos de Helinho, o justiceiro encarcerado, num cenário composto de chita colorida e uma cadeira de metal. Imagens de outros justiceiros encapuzados da periferia de Recife pontuam a narrativa deste documentário. Planos do rosto envelhecido da mãe do justiceiro antecedem as cenas do intenso ensaio na bateria de Garnizé, o pequeno príncipe do título e ex-vizinho de Helinho. Um peão pobre e pardo lendo Nietzsche em Amarelo Manga (2002) de Cláudio Assis. No mesmo filme, planos de pessoas anônimas, habitantes do centro do Recife, como uma espécie de minidocumentário dentro da ficção. Em Cidade Baixa (2005) de Sérgio Machado, a prostituta Karina faz um striptease numa boate “de quinta” em Salvador. Os amigos Deco e Naldinho lutam nas ruas da Cidade Baixa; alguns moradores abrem as janelas dos seus sobrados decadentes para olhar a briga. Os créditos finais mostram homens, mulheres, crianças, edifícios e símbolos de uma cidade que não está nas brochuras turísticas. O segundo bloco mostra algumas outras cenas: num programa vespertino da TV recifense, um grupo de tecnobrega dubla seu último hit, uma versão da dupla Pimpinella dos anos 1970 em ritmo de forró. No final do “filme” (feito em VHS com atores e atrizes amadores do interior de Pernambuco) de artes marciais O Vagabundo faixa-preta de Simião Martiniano, o herói deixa uma pequena cidade do 1
112
Cenas que não foram apresentadas em ordem necessariamente cronológica.
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
interior numa moto depois de espancar praticamente a cidade inteira. No final da peça Cinderela, a história que sua mãe não contou, da Trupe do Barulho, uma canção de Xuxa serve de pano de fundo para que os trapos da heroína se transformem em um “luxuoso” vestido (luxuoso, nesse caso, seria uma licença poética, já que o luxo se resume a algumas lantejoulas e cortes de tecidos brilhantes e baratos). Há vários modos de interpretar essa colagem de cenas, que, de fato, não tem um mote único, ou uma ideia central. A intenção deste trabalho é ir associando essas cenas, essas imagens, aos conceitos de subalternidade e hegemonia, é estabelecer elos entre modos de representar o subalterno através do cinema, ou uma estética de representação urbana no cinema latino-americano contemporâneo e os contextos nos quais os filmes, programas e peças são produzidos e consumidos; maneiras pelas quais esses produtos culturais se constituem também como documentos históricos a partir dos quais se repensa e se reconstitui a teoria contemporânea.2 Tentando definir a subalternidade Antes de interpretar as várias representações do subalterno colocadas em cena pelos exemplos escolhidos, é oportuno deixar claro tanto o que queremos dizer com o termo, como de que lugar teórico estamos falando, em que moldura está colocada esta definição. Como foi dito, a análise empreendida aqui busca colocar esses objetos num contexto multicultural (tanto no que diz respeito à teoria, como às condições de produção e consumo desses objetos). Evidentemente, não é possível (nem é esse o propósito aqui) no espaço de um artigo dar conta de todas as implicações (e contradições) do termo, contudo, sublinha-se a opção pela apropriação feita pelos Estudos Culturais a partir das teorias marxistas, nas quais Gramsci insere a noção de subalterno no lugar de proletariado, para tentar escapar da censura, mas, como nota Gayatri Spivak, “...a palavra logo abriu novos espaços, como as palavras sempre o fazem, e incorporou a 2
Com relação a uma metodologia de leitura do audiovisual que combine esses dois enfoques (um estético e outro mais culturalista), ver SHOHAT e STAM (2002, 2003), GUNERATNE e DISSANAYAKE (2003) e NACIFY (2001).
113
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
tarefa de analisar aquilo que o termo ‘proletário’, produzido sob a lógica do capital, não era capaz de cobrir” (SPIVAK apud REIS, 2003, p. 20) . Assim, o conceito vai ser ampliado servindo a uma série de categorias e sujeitos paradoxalmente cada vez mais centrais para as teorias contemporâneas. Comentando a obra de Spivak (uma das mais destacadas representantes e simultaneamente críticas da teoria pós-colonial e dos “subalternistas”), Robert Young considera a classificação de subalterno tanto para a historiografia (e no nosso caso específico aqui, a cultura) produzida pelo “Outro”, como o sujeito que a produz. O historiador subalterno (o subalternista) não apenas localiza instâncias históricas de insurgência, mas também se alinha à subalternidade como uma estratégia para “levar a historiografia hegemônica a uma crise” – o que resulta numa boa descrição da estratégia de orientação do próprio trabalho de Spivak. (YOUNG, 1990, p. 160)
Em outros termos, a teoria pós-colonial e os Estudos Culturais periféricos pretendem representar diretamente o subalterno e a periferia, mais do que isso – já que o pós-colonialismo contesta uma já ultrapassada concepção de representação –, parece ser a própria voz do subalterno que está em jogo (já que até o próprio teórico poderia ser definido como subalterno). A reescritura subalterna da História, a desconstrução do Ocidente feita pelos Estudos Culturais contemporâneos e pelo pós-colonialismo e a tematização desses sujeitos periféricos na teoria, portanto, implicam em permanentes ataques (às vezes superficiais, às vezes contraditórios, às vezes tímidos, quase sempre inócuos) à hegemonia ocidental e propõem, se não em todos os casos e enfoques uma completa inversão, a reacomodação do cânone cultural e o descentramento anunciado pelas teorias pós-modernas. É importante também sublinhar que a apreensão latino-americana das noções de subalterno e periferia, através dos Estudos Culturais contemporâneos, vai ser crucial para a definição dessa moldura que enquadra o nosso olhar para os objetos e fenômenos audiovisuais aqui escolhidos, para as representações midiáticas do subalterno e da periferia. (Aliás, essa 114
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
apreensão reflete e influencia de modo vigoroso o movimento desses “subalternos e periféricos” não apenas no universo teórico e acadêmico, mas nos meandros da própria indústria cultural.) A incidência desses termos no discurso teórico sobre e da América Latina é cada vez maior desde a década de 1980, especialmente a partir da consolidação das teorias pósmodernas na região e da emergência de nomes como os de Néstor García Canclini, Beatriz Sarlo, Silviano Santiago e Renato Ortiz – que passam a ter espaço nas universidades mais importantes do mundo. O crescente interesse teórico pelos conceitos de alteridade e diferença cultural também pode ser um dos fatores associados ao revival gramsciano, mas certamente a disseminação das modas teóricas do Primeiro Mundo (que certamente acarreta um dos paradoxos mais intrincados do pensamento contemporâneo) teve mais que uma simples ascendência na popularização do conceito de subalterno na academia latino-americana. No início da década 1990, John Beverley e outros teóricos latino-americanistas e latino-americanos, por exemplo, propõem uma espécie de manifesto, a partir do projeto do Latin American Subaltern Studies Group (BEVERLEY, 2004). Mabel Moraña, por sua vez, investe numa abordagem (auto)crítica do modelo de leitura que propõe o subalterno como chave determinante: Ousaria dizer que para o sujeito latino-americano – que ao longo da história tem sido sucessivamente conquistado, colonizado, emancipado, civilizado, modernizado, europeizado, desenvolvido, conscientizado, “desdemocratizado” (e com toda a impunidade, redemocratizado), e agora globalizado e subalternizado por discursos que prometiam, cada qual no seu contexto, a liberação de sua alma (...). Este mesmo indivíduo que era, em tempo, sujeito, cidadão, hombre nuevo entra agora na épica neocolonial pela porta falsa de uma condição degradante elevada a status de categoria teórica que, agora, no meio do vazio deixado pela esquerda que está recomeçando a construir seu projeto político, promete seu desagravo. Mas sempre se pode argumentar que os truques da alienação estão, mais uma vez, impedindo este sujeito de reconhecer sua própria imagem nas elaborações que o transformam em objeto. (MORAÑA, 2004, p. 651)
115
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
O trecho acima de certo modo revela o contínuo esforço de autoconsciência e de crítica interna aos Estudos Culturais. Nesse sentido, fica evidente que o lugar do subalterno na configuração da cultura contemporânea e na análise e teoria dessa cultura vai ser bem distinto em relação ao recorte disciplinar mais tradicional (e mesmo sendo extremamente crítica de um certo “oportunismo” no uso de alguns termos ligados à subalternidade, a própria Moraña vai reconhecer a importância deste debate mais ao final do seu texto). A teoria contemporânea parece gerar um ponto de observação privilegiado, no sentido da multiplicidade de um espaço intermediário (o que Silviano Santiago e Homi Bhabha chamariam de entrelugar (1978, 1998)). Ainda que tantos outros enfoques e estéticas já houvessem problematizado conceitos como representação, identidade, alteridade, hibridismo, colonização, Ocidente, Oriente; com os Estudos Culturais e com o pós-colonialismo esses elementos são colocados num marco de referências que, ao invés de simplesmente inverter ou descartar termos e hierarquias, vai questioná-los na sua essência e na sua malha de inter-relações, vai pensar as condições de possibilidade, continuidade e utilidade da sua construção. E é no âmago da argumentação sobre a subalternidade e suas relações com a identidade e com a diferença que vamos nos deparar com a dualidade centro-periferia e com a crise em relação a ela. Podemos vislumbrar nessa crise pedra de toque do contemporâneo, que vai repensar as “regras do jogo” da cultura a partir do descentramento. O descentramento vai ser muitas vezes tomado como uma inversão de valores. De repente, as margens passam a centro e o centro a margem, numa celebração catártica das diferenças em desfile. A singularidade cultural é o campo utópico do subalternista. O subalternista por definição deixa-se permanecer preso à condição problemática básica de, ao mesmo tempo, afirmar e abandonar a singularidade cultural. O subalternista precisa afirmar e, em seguida, encontrar e representar – isto é, precisamente não “construir” – a singularidade cultural do subalterno, tida como diferença positiva diante da formação cultural dominante. (MOREIRAS, 2001, p. 198)
116
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
As teorias baseadas nas culturas subalternas, as políticas da diferença e os conceitos relacionados com a produção cultural periférica apontam para um entrelaçamento entre experiência cultural, a prática da crítica e o terreno da política, para um transbordamento da cultura para fora do campo estético. Vão sugerindo, assim, um campo fortemente marcado pela utopia: a utopia dos discursos da heterogeneidade e de um entrelugar complexo e híbrido. Ou seja, discursos que, num paradoxo sempre intrigante, almejam certa harmonia nas diferenças. E assim como a utopia depende da impossibilidade da sua realização, o teórico da subalternidade, da periferia (que já ao se refere a um centro), enfim, do entrelugar sabe que está incessantemente denunciando a impraticabilidade de seu projeto. A estética da periferia no novo cinema do Nordeste Como já apontamos em outras ocasiões (PRYSTHON, 2003, 2005), é irrefutável a crescente profusão de imagens da subalternidade e de sujeitos excluídos na mídia brasileira. Especialmente a partir da década de 1990, depois de terem arrefecido os entusiasmos cosmopolitas da cultura pós-moderna (PRYSTHON, 2002), a representação de temas, personagens, estilos, lugares e situações que remetessem às identidades locais, às periferias e às diferenças de uma ou várias “essências brasileiras” parece ser a tônica da maior parte da produção cultural nacional. Se esse é um traço marcante das duas últimas décadas em todas as esferas da cultura, no audiovisual vai se configurar quase como uma norma absoluta, ou uma “receita de sucesso”. Assim, o audiovisual no Brasil parece estar contribuindo veementemente (mesmo que nem sempre seja um movimento consciente e sistemático) na constituição de um “cânone da periferia”. Nas primeiras cenas mencionadas na abertura desse texto (e que formam parte da crescente produção cinematográfica do Nordeste, com Pernambuco se destacando como o polo mais representativo da região), é patente a adesão a este cânone. O primeiro filme mencionado, o documentário O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, mostra as trajetórias paralelas de dois jovens saídos de um subúrbio miserável 117
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
da Grande Recife, Camaragibe – um “justiceiro” e um músico de rap. O propósito parece ser demonstrar que os excluídos teriam dois caminhos distintos diante da sua condição e, para tentar superar o inerente maniqueísmo da sua estrutura, visa também problematizar as implicações embutidas nessas escolhas: O documentário mostra que, em meio ao caos sociourbano, há duas possibilidades: a primeira é apresentada por Garnizé, que se envolve com música e com projetos sociais na tentativa de superar adversidades; já Helinho se torna um justiceiro para “sanar” os problemas relacionados à violência em Camaragibe, o que lhe rende uma imagem positiva perante a comunidade. Ao mostrar depoimentos que enaltecem as atividades de Helinho, vemos que as noções de “mal” e de bem são mutáveis e graduais. (SOUZA, 2006, p. 56)
Mas o que mais interessa ao nosso argumento neste artigo, é o modo como algumas cenas desse filme vão objetificando o subalterno. Shohat e Stam (2002, p. 190-191) falam de uma “carga da representação” que traz embutida uma série de estereótipos e conotações estéticos, religiosos, políticos e semióticos. Dos três filmes escolhidos aqui, O rap é o mais “carregado”, talvez por tratar-se de um documentário e, como pressuposto, representar o real de modo mais direto. Entretanto, o processo de objetificação da periferia não difere tanto do cinema ficcional.
Fig. 1- O rapper Garnizé em O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, 2000.
118
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Algumas das cenas mais reveladoras d´O rap talvez sejam justamente aquelas em que aparece a mãe do justiceiro, nas quais closes de pedaços da sua face vão se alternando na tela, com uma ênfase forte menos no que diz essa mulher (faz a defesa do filho) e mais nos efeitos estéticos atordoantes que a proximidade dessa boca ou bochechas, olhos e nariz provoca. Em outro momento do filme, Helinho (que foi assassinado algum tempo depois das filmagens por companheiros da prisão) aparece numa cela (ou sala) do presídio Aníbal Bruno, e com quase que os mesmos recursos de movimentação de câmara e enquadramento que nas cenas da mãe, seu rosto contrasta com um fundo colorido feito de chita estampada, bem ao gosto da estética mangue,3 com a qual, confessadamente, os cineastas pernambucanos, inclusive Caldas e Luna, dialogam. A determinada altura entra em cena um dos personagens mais caricatos (entre vários outros) do documentário, o delegado que cuida do caso Helinho, e ele vai encarnar de modo elucidativo o mecanismo de estilização da subalternidade empreendido por este tipo de cinema: com seus óculos Ray-ban falsificados, com seu figurino anos 1970, com sua pose de cafajeste, o delegado se presta tanto ao comic relief (os diretores possivelmente quiseram quebrar um pouco o contexto pesado de violência do filme), como à afirmação de que o subalterno é antes de tudo um “estiloso”. O subalterno, o periférico, o excluído, o marginal, esse sujeito/objeto da cultura contemporânea é alçado não apenas a categoria teórica, como apontava Moraña acima, mas a elemento estético, a recurso estilístico. Como também já indicado em outros trabalhos nossos (2004, 2005), Amarelo Manga acentua a estetização do subalterno, trazendo à tona do modo ainda mais agudo a caracterização dos subalternos excêntricos e da feiúra interessante dos cenários da cidade do Recife. O filme enfoca a vida miserável de vários habitantes do centro depauperado da cidade, es3 Manguebit ou manguebeat são alguns dos nomes dados ao movimento de música pop (e que posteriormente se estende de modo mais ou menos à moda, às artes plásticas, ao cinema e ao comportamento) que surge em Recife no início dos anos 1990. Poderíamos arriscar dizer que um dos princípios básicos dessa estética é o hibridismo, que vai mesclar elementos da cultura global com aspectos nitidamente “vernaculares” (FONSECA, 2005). Na moda, por exemplo, o uso de adereços, padronagens e estampas oriundas de manifestações da cultura popular e folclórica chama a atenção pela sua recorrência.
119
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
pecialmente os moradores do Texas Hotel, um lugar imundo e decadente. Assis apresenta um mosaico de imagens bem forçadamente inusitadas, evocando propositadamente a imagem do subalterno como aberração. Paradoxalmente, nos minidocumentários que pontuam a metade final do filme, também vão ser enfocadas figuras do povo, gente ordinária e cenas do cotidiano.
Fig. 2 - Wellington (Chico Diaz), Amarelo Manga, 2002
Então, a oscilação entre a hipérbole freak e o naturalismo etnográfico, o confronto de personagens verossímeis (a crente, a bicha “cafuçu”, a dona do bar, o dono do hotel, o açougueiro) e inverossímeis (o necrófilo, a gorda, o padre, os índios que assistem televisão no lobby do Texas Hotel), tudo isso aponta para uma certa consciência simultânea da impossibilidade e da urgência da representação da subalternidade através do audiovisual. Em alguma medida, Amarelo Manga consegue ultrapassar o anedótico e estende os limites do grotesco, apresentando uma representação da subalternidade que chama a atenção pela sua complexidade, pela sua polissemia. O trio à deriva de Cidade Baixa traz à baila uma maneira quiçá mais delicada de expor essa imagem do subalterno. Espécie de Jules et Jim baiano, o triângulo amoroso de excluídos (a prostituta Karina e os 120
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
dois biscateiros, donos de um pequeno barco a vapor, Deco e Naldinho) trafega pelos becos, vielas e sobrados da Cidade Baixa de Salvador de modo a exibir uma cidade bem distante dos esperados clichês do axé e da baianidade for export. A Salvador de Cidade Baixa não é o ensolarado desfile da negritude em festa ou do carnaval das celebridades do segundo escalão da televisão brasileira. É sim um lugar de encontro dos mais variados tipos de párias: estivadores, ambulantes, prostitutas, marinheiros, feirantes, pequenos mafiosos. O mais inusitado desse conjunto, todavia, é a sua discrição. Longe da urgência hiperbólica de Amarelo Manga (filme com o qual, contraditoriamente, Cidade Baixa ainda guardaria alguns laços, especialmente se recordamos dos minidocumentários do primeiro como parentes distantes dos créditos finais do segundo – suas imagens de sobrados em ruínas, do mercado Modelo, dos seus personagens e até de seus utensílios e quitutes), as imagens de subalternidade não buscam tão sofregamente o “estilo”.
Deco (Lázaro Ramos), Karina (Alice Braga) e Naldinho (Wagner Moura) em Cidade Baixa, 2005.
Contudo, identificar a discrição subalterna exposta pelo filme de Machado não equivale a dizer que houve uma total anulação dos estereótipos. É mais provável chamar de atenuação do “típico” (ŽIŽEK 2005, p. 11-12), mas essa atenuação ocorre completamente dentro dos parâmetros do “típico”. Ou seja, seus subalternos são discretos, são “suaves” sem deixar de encarnar as expectativas do cânone da periferia, 121
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
como demonstram, de modo ainda mais emblemático que o filme em si, os créditos finais. Filmar esses anônimos, mostrar a gente comum que anda pelas ruas de Salvador (restituindo de alguma maneira a normalidade ao seu trio protagonista através da normalidade desse cotidiano) é também buscar essa afinação com o espírito do tempo, com “essa nova e indispensável maneira de conceber a política no âmbito da cultura em nível global” (SHOHAT e STAM, 2002, p. 329). Epílogo: o subalterno fala outra língua? Entretanto, ao examinarmos o segundo bloco de cenas mencionado no início desse artigo e que se refere a um tipo de produção cultural subalterna, ou mais exatamente, ao nos depararmos com as representações de subalternidade tecidas no interior da própria subalternidade, tudo é muito diferente: estamos diante do avesso dessa busca de imagens alternativas, passamos ao largo da reconstrução do típico, da revalorização do excêntrico ou do confronto do etnográfico com o inesperado. Quase podemos vislumbrar uma definição: a representação do subalterno (as imagens de subalternidade pelo próprio subalterno) é um “negativo” das narrativas hegemônicas. Tomemos como exemplo a trajetória de Simião Martiniano, um senhor aparentando mais de setenta anos que desde o final da década de 1980 vem produzindo “filmes” em VHS: São produções de baixo orçamento custeadas pelo próprio Simião e sua equipe, todas elas registradas no Conselho Federal de Cinema. Martiniano escreve, produz, dirige e também costuma atuar em seus filmes. Seu trabalho mistura gêneros estrangeiros e elementos nordestinos com enredos de inspiração autobiográfica e popular. O acabamento é modesto e por vezes descuidado, mas sempre curioso. (HELIODORO, 2002, p. 6)
Os filmes de Martiniano são realmente curiosos, mas não pelo que têm de tosco ou incompleto, não pelo que apresentam de excêntrico ou trash, mas justamente pela familiaridade, mais ainda, pela fidelidade aos 122
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
gêneros mainstream do cinema mundial. Entre 1988 e 1999, Martiniano produziu seis filmes, todos eles seguindo à risca as convenções mais básicas de gêneros canônicos como o western, o terror, a comédia, e até as artes marciais. O elemento local (sotaque, locações, a inescapável precariedade da produção) sempre vem à tona, mas o cerne dos filmes, seu espírito e a imagem projetada por eles não têm nada a ver com a subalternidade. Filmes como O vagabundo faixa-preta ou A moça e o rapaz valente dizem respeito às aspirações universais (não apenas Martiniano, mas toda a equipe que o cerca e também o público que assiste aos seus filmes).4
Um dos antagonistas d’O vagabundo faixa-preta (1992).
Quando Martiniano escolhe trechos das trilhas sonoras dos westerns clássicos para compor seus filmes ou insere arremedos de efeitos especiais, como em A Rede Maldita, ele está levando a cabo as suas fantasias estritamente hegemônicas. Hegemônicas pelas suas narrativas, pela sua estrutura de produção (onde ele encarna a figura do realizador completo – produtor, diretor, roteirista, ator – e a sua equipe evoca um star-system precário e desdentado) e pela suspensão efetiva de qualquer alusão à ideia de diferença cultural. Martiniano desconhece a sua própria condição de subalterno, ele desautoriza qualquer versão autocomplacente 4 Os filmes de Simião Martiniano têm sido exibidos primordialmente em sessões especiais em cidades do interior de Pernambuco.
123
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
de mundo (do seu mundo) e talvez, mesmo inadvertidamente, esteja desestabilizando o próprio conceito de subalternidade. Poderíamos dizer quase o mesmo das imagens dos programas de auditório locais do Norte e Nordeste, nos quais também há o estabelecimento desse star-system, de uma ordem que demonstra o divórcio cada vez mais óbvio entre a cultura oficial e canonizada (da qual fariam parte, entre outras manifestações, a MPB, o novo cinema brasileiro e a literatura mainstream) e as opções e aspirações estéticas realmente populares – e subalternas. Os artistas de tecnobrega e forró eletrônico, com seus cabelos oxigenados, com suas roupas de tecidos sintéticos e suas coreografias limitadas, não querem afirmar o local ou típico, eles almejam a modernidade universalizante do shopping, da tv, das novas tecnologias.
Kelvis Duran e sua banda no programa Tribuna Show, TV Tribuna, 2004.
Entretanto, nos casos mencionados acima, a apropriação das narrativas hegemônicas ainda é feita de modo inconsciente e espontâneo, não há nada de programático, e pode-se ver, inclusive, uma espécie de apagamento de fronteiras entre o hegemônico e subalterno. O que pode ser de certa maneira concluído também a partir das peças e dos programas de televisão encenados pelo grupo teatral (e midiático) Trupe do Barulho,5 5
124
“Por exemplo, em todos os eles (os espetáculos da Trupe do Barulho), os atores interpretam papéis femininos, isto é, atuam vestidos de mulher, uma vez que o verdadeiro gênero do personagem nunca é revelado de forma clara à plateia: não se sabe ao certo se são mulheres
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
nos quais a equalização entre hegemonia e subalternidade vai ser um dos elementos constituintes, em que vai ser feita a reelaboração de narrativas canônicas e vão ser apresentadas as fantasias brilhantes da modernidade brega. Na Trupe do Barulho, contudo, até por operar fundamentalmente com paródia, com a farsa, e com a crueldade do grotesco, esses elementos são articulados de modo consciente.
Jeison Wallace caracterizado para o programa Papeiro da Cinderela, TV Jornal, 2005.
A consciência da subalternidade faz parte da proposta do grupo e a forma de discuti-la (e quiçá superá-la) é assumindo-a escancaradamente, mas ainda assim negando qualquer autocomplacência ou autoexotismo nessa empresa. Pelo contrário, a estratégia de entrada ao hegemônico não tem nada de autopiedosa, não negocia com o discurso da vítima: (A Trupe do Barulho) encenou sua autodepreciação em troca de popularidade. Sua agência teria sido, inicialmente, também uma forma de adesão (conivência). Porém, a sua representação parece ter tido algum efeito de transgressão nos valores culturais da cidade. Haja vista que, por exemplo, há pouquíssimo tempo atrás, seria muito improvável a presença de um personagem como essa Cinderela (um travesti, negro, pobre e semianalfabeto) na televisão; muito menos em campanhas publicitárias, vendendo qualquer tipo de produto. (REIS, 2003, p. 140) ou travestis. (...) Diversas formas de preconceito são trazidas à cena. As minorias são ridicularizadas impiedosamente. A crueldade se faz presente em cada gesto, em cada fala.” (REIS, 2003, p. 9)
125
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
De certa forma, o mundo vislumbrado nessas representações do subalterno (pelo subalterno) tem certamente algo de utópico, já que há um empoderamento previsto nessa apropriação das narrativas hegemônicas, mesmo nas suas formas mais inconscientes. Contrastadas com suas versões mainstream, as imagens de subalternidade pelo subalterno estão muito menos marcadas pelos preconceitos (positivos e negativos), elas revelam uma maior autonomia por parte desse sujeito periférico, sugerem que é possível ir deslocando as margens, que é possível repensar a ideia de centralidade. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BEVERLEY, John. Subalternity and Representation. Arguments in Cultural Theory. Durham: Duke University Press, 1999. ____________. Writing on the Reverse. In: DEL SARTO, Ana, RÍOS, Alicia e TRIGO, Abril (eds.). The Latin American Cultural Studies Reader. Durham/ Londres: Duke University Press, 2004, p. 623-641. BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. FONSECA, Nara Aragão. Reapropriação urbana e ruptura estética. A ótica mangue em Conceição. In: CUNHA FILHO, Paulo C. (org.). Simulacros e espetáculos. Caderno de esboços. Recife: Bagaço, 2005, p. 97-114. FONTANELLA, Fernando. A Estética do Brega: Cultura de Consumo e o Corpo nas Periferias do Recife. Recife: PPGCOM – UFPE, 2005. Dissertação de mestrado. GUNERATNE, Anthony e DISSANAYAKE, Wimal (eds.). Rethinking Third Cinema. Londres/Nova York: Routledge, 2003. HELIODORO, André Carlos Arruda. Os filmes de Simião Martiniano. Recife: DCOM – UFPE, 2002. Monografia de conclusão de curso. JAMESON, Fredric. Espaço e imagem. Teorias do pós-moderno e outros ensaios. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1994. MORAÑA, Mabel. The Boom of the Subaltern. In: DEL SARTO, Ana, RÍOS, Alicia e TRIGO, Abril (eds.). The Latin American Cultural Studies Reader. Durham/ Londres: Duke University Press, 2004, p. 643-654. MOREIRAS, Alberto. A exaustão da diferença. A política dos estudos culturais latino-americanos. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001. NACIFY, Hamid. An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking.
126
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Princeton: Princeton University Press, 2001. PRAKASH, Gyan. Postcolonial Criticism and Indian Historiography. Social Text 31-32, 1992, p. 6-18. PRYSTHON, Angela. Amarelo Manga e a representação do subalterno no cinema brasileiro contemporâneo. Arrecifes - Revista do Conselho Municipal de Cultura, Recife, 20 dez. 2004, v. 29, p. 18 - 23. ____________. Os conceitos de subalternidade e periferia nos estudos de cinema brasileiros. In: CAPPARELLI, Sérgio; SODRÉ, Muniz; SQUIRRA, Sebastião (orgs.). A comunicação revisitada. Porto Alegre: Sulina, 2005, p.233-247. ____________. A periferia fashion: dois exemplos do cinema brasileiro contemporâneo. Suplemento Cultural do Diário Oficial do estado de Pernambuco, Recife 2003, v. 2, p. 2-4. ____________. Rearticulando a tradição: rápido panorama do audiovisual brasileiro nos anos 90. Contracampo, Rio de Janeiro, 2002, v. 7, p. 65-78. REIS, Luís Augusto da Veiga Pessoa. Trupe do Barulho, vozes silenciosas. Entre o teatro e os mass media: o sucesso do subalterno no Recife dos anos 90. Recife: PPGCOM – UFPE, 2003. Dissertação de mestrado. SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978. SHOHAT, Ella e STAM, Robert. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Barcelona: Paidós, 2002. ____________. (eds.). Multiculturalism, Postcolonialism, and Transnational Media. New Brunswick/New Jersey/Londres: Rutgers University Press, 2003. SOUZA, Gustavo. Traficantes, justiceiros e rappers. A invasão dos setores da margem na produção de documentários. Rio de Janeiro: PPGCOM – UFRJ, 2006. Dissertação de mestrado. YOUNG, Robert. Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race. London/ New York: Routledge, 1995. ____________. White Mythologies. Writing History and the West. London/New York: Routledge, 1990. ŽIŽEK, Slavoj. Multiculturalismo, ou a lógica cultural do capitalismo multinacional. In: DUNKER, Christian; PRADO, José Luiz Aidar (orgs.). Žižek crítico. Política e psicanálise na era do multiculturalismo. São Paulo: Hacker Editores, 2005, p. 11-45.
127
MEMÓRIAS DE UMA NAÇÃO PARTIDA
o
objetivo deste artigo é apresentar de modo panorâmico o contexto do cinema argentino contemporâneo, ou o “Nuevo cine argentino”, como foi denominado por alguns historiadores e teóricos do cinema. de antemão é necessário anunciar a impossibilidade de se falar categoricamente em um “novo cinema argentino”1 como um rótulo uniforme, como um sistema delimitado ou fechado. Entretanto, como pressuposto, alinhamo-nos a vários autores (Aguilar, 2006; bernades, lerer e Wolf, 2002, entre outros) que têm adotado a expressão (“Nuevo Cine Argentino”, em espanhol) para se referir à produção cinematográfica a partir da segunda metade da década de 1990, sempre ressaltando, todavia, a diversidade e pluralidade implícitas no rótulo. objetivamos, assim, traçar algumas recorrências gerais sobre esta produção que, de diversas maneiras, tem ora tematizado, ora refletido, ora documentado as sucessivas crises econômicas e políticas (em especial aquelas do final da década de 1990 e início dos anos 2000) e de que forma incide a ideia de passado e da memória nessa produção. uma de nossas hipóteses é que tais crises vêm produzindo e associando tanto diferentes processos estéticos, como novas dinâmicas de produção. Pretendemos, a partir de um rápido panorama da produção cinematográfica recente, identificar como é estabelecida essa relação (crises / processos estéticos / dinâmicas de produção), além de analisar os modos de representação política e fixação 1
é importante lembrar que nos anos 1960, assim como em vários outros países na mesma época, houve um movimento também chamado “Nuevo Cine Argentino”. Alguns autores chamam o momento atual de “El último nuevo cine argentino” (Maranghello, 2005).
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
da identidade nacional e da história através dos códigos utilizados por muitos dos filmes recentes. Um cuidado a ser tomado neste trabalho (o nosso segundo pressuposto) é marcar uma certa distância entre o cinema argentino mainstream (representado pela continuidade da obra e da produção de nomes já estabelecidos internacionalmente há várias décadas como Fernando Solanas, Adolfo Aristarain, Marcelo Piñeyro, entre outros; pela adesão ao star system local) e o NCA (que significa claramente uma série de rupturas – jovens diretores recém-saídos da FUC – Universidad Del Cine, por exemplo; produções independentes; direção de atores realista...). Evidentemente, há vários pontos confluentes entre as duas “facções” e entre as formas como elas reagiram e retrataram as sucessivas crises no país, mas parecem-nos claras também as distinções que fazem com que o NCA traga à tona uma incorporação mais integral do diálogo com o tempo presente e com a constituição de uma memória recente na Argentina (tanto em termos estéticos, como narrativos e políticos – pelo menos numa nova acepção do político). É interessante também notar que os dois modelos foram internacionalmente consumidos como parte de um mesmo fenômeno, ou seja, foram recebidos de modo indistinto (o de rearticulação do cinema latino-americano – ou como rotulou certo jornalismo cultural, o cinema Buena Onda). O “selo” cinema argentino acabou se tornando uma garantia de qualidade, uma denominação de origem nos festivais internacionais de cinema, quase que independentemente da filiação ou das opções estéticas específicas dos filmes. É notável também como se foi consolidando o rótulo “cinema argentino” na crítica especializada nos mais variados cantos do planeta.
130
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Figura 1: Pizza, birra, faso
Um dos marcos iniciais do NCA pode ser localizado em Pizza, Birra, Faso (Adrián Caetano e Bruno Stagnaro, 1998), que retrata alguns episódios de cinco jovens delinquentes no inverno portenho. Este filme pode ser considerado emblemático por várias razões: ele é um filme de estreantes (seus diretores, elenco e produtores); Stagnaro e vários colaboradores técnicos e artísticos do filme vieram das principais escolas de cinema do país (ENERC – Escuela Nacional de Experimentación y realización cinematográfica – e FUC – Fundación Universidad del Cine – sendo as mais destacadas entre elas); seu roteiro trouxe à tona uma Argentina corrompida pelo neo-liberalismo fracassado dos feios anos do governo Menem, uma juventude totalmente à margem das promessas de modernidade emblematizadas por Buenos Aires e seus ícones (como o obelisco que serve de abrigo aos jovens protagonistas no início do filme); as locações (o centro de Buenos Aires, as “bailantas”, o porto, os subúrbios para onde os jovens e o taxista cúmplice levavam suas vítimas) e atuações naturalistas contribuíram para compor um retrato realista, agressivo e inovador do país. Talvez a principal diferença em relação ao cinema argentino de mercado ou mainstream tenha sido o abandono do discurso político mais explícito, mais direto e, em certa medida, mais panfletário em prol de uma busca do que está oculto, do que está calado, do que foi apagado, constituindo assim um outro tipo de política, a política do cotidiano. Como percebe Gonzalo Aguilar em relação aos títulos dos filmes: 131
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
A grandes rasgos, esto también se observa en los títulos que, más que ser indicaciones de lectura, preservan la ambigüedad y mantienen la incógnita. (...) Otros títulos son más descriptivos pero también más neutros, como um señalamiento que tampoco revela nada: Silvia Prieto, Los Guantes mágicos, Sábado, Nadar solo, Un oso rojo. Compárense estos títulos con los más resonantes de la anterior generación, que hacen un guino al espectador: Un lugar en el mundo, El lado oscuro del corazón, Señora de nadie, La historia oficial, El exílio de Gardel, Tiempo de revancha, Últimas imágenes del naufragio, entre otros. (AGUILAR, 2006, p. 27)
Há um marcado distanciamento de um discurso alegórico, bem ao contrário do que predicou Jameson a respeito do cinema latino-americano, especialmente aquele dos anos 1980 e início dos anos 1990 (Jameson via em cineastas como Fernando Solanas uma espécie de antídoto do pós-modernismo primeiro-mundista�). Não há lições morais a serem a aprendidas em filmes como Pizza,Birra, Faso ou como Família Rodante (Pablo Trapero, 2004) e Felicidades (Lucho Bender, 2000), outros filmes relevantes do NCA, justamente por apresentarem esse realismo desinteressado, exatamente por delinearem um universo político não panfletário. É lógico que a chave da leitura alegórica pode ser apropriada mesmo para esses filmes (como aconteceu, por exemplo, com La Ciénaga de Lucrecia Martel, 2001, no qual alguns viram uma espécie de fábula sobre a Argentina – a vaca atolada no pântano, por exemplo), mas ela se revela forçada, inadequada e postiça por tentar impor talvez uma função pedagógica que esses filmes em última instância não têm. Nessa recusa da pedagogia política, no rechaço à grandiloquência do cinema engajado, o NCA se afasta de uma linhagem importante da cinematografia nacional. Solanas, Gettino, Puenzo, Aristarain, entre outros, quase todos os grandes nomes do cinema argentino trataram muito diretamente da política e procuraram evidenciar o discurso de uma identidade nacional diretamente vinculada à ideia da combatividade, do engajamento e da mobilização. Nesse contexto, é bastante curioso comparar, entre nomes consagrados do mainstream e jovens iniciantes, por exemplo, alguns filmes realizados na década de 2000 (imediatamente 132
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
antes ou depois da grande crise de dezembro de 2001): Aristarain lança em 2002 Lugares Comunes, no qual, mesmo sem lançar mão de um denuncismo exacerbado (o qual, aliás, nunca fez parte de seu estilo), fala dos problemas econômicos e políticos da Argentina com nostalgia e tristeza pelos ideais perdidos da esquerda e pela decadência da classe média no país. Solanas, de forma muito enfática, volta ao documentário em 2004 com Memoria del Saqueo e busca retomar também o tipo de política e heroísmo épico da estrutura que estabeleceu com La hora de los hornos (1966-1968) junto com Gettino, falando de política quase como “si las condiciones de su práctica no hubiesen sido transformadas durante los años noventa” (Aguilar, 2006, p. 136). Estabelecendo uma ponte entre a grandiloquência do passado e o registro mais neutro do NCA, estão os maiores sucessos do cinema argentino, Nueve Reinas (Fabián Bielinsky, 1999) e El hijo de la novia (Juan José Campanella, 2001). Bielinsky recorre à farsa e à ironia para pôr em cena os dois simpáticos pilantras que vão enganando uns e outros para escapar da “malaria” geral do final dos 1990. Já Campanella incorre mais uma vez no sentimentalismo nostálgico e numa certa apologia da classe média para falar dos tempos que correm no país. Ambos não entendem necessários o panfletarismo ou o didatismo do cinema político, mas ainda parecem confiar na possibilidade de representação de uma nacionalidade homogênea. Contudo, é importante destacar que o primeiro está mais próximo do NCA que o segundo e que têm sido associados tanto por causa de sua repercussão internacional (igualmente estrondosa), como pela presença em ambos do símbolo-mor do cinema mainstream argentino como protagonista, o ator Ricardo Darín. Mas é principalmente pela criação de uma imagem internacional do establishment audiovisual do país que esses filmes ficam na fronteira entre a tradição e a proposta mais “vanguardista”, digamos, do NCA.
133
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Figura 2: Derecho de Familia
Quase que também na encruzilhada entre o mainstream (até porque chega a esboçar a criação de um novo mainstream, com seu star system e seus clichês próprios) e a “nova geração” mais radical do NCA (embora seja um dos mais jovens cineastas do NCA), está Daniel Burman, que, ao concentrar-se nos relatos da comunidade judaica de Buenos Aires (especialmente em Esperando al Mesías (2000) e El abrazo partido (2004), nos quais é representado de modo muito vivo o bairro do Once, no centro da capital Argentina), afirma um espaço de pertencimento, delineia e discute a marca identitária do judeu dentro do marco da nacionalidade argentina. Seu último longa, Derecho de Família (2006), continua a trilogia – que tem em El abrazo partido sua configuração mais consistente e original – iniciada com o Mesías, e tem o terceiro Ariel protagonizado por Daniel Hendler (uma espécie de Jean Pierre Léaud para seu diretor), mas foge um pouco da caracterização excessiva e pormenorizada do judeu argentino ao ampliar o escopo, sair do Once e evitar a folclorização (intencional) que de certo modo pontuou os dois filmes anteriores da trilogia, mas, que paradoxalmente cristaliza e burocratiza o tipo de relato fragmentado que havia levado a cabo nos filmes “de Ariel” anteriores.
134
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Figura 3: Família Rodante
Outro cineasta importante do NCA, que lançou em 2006 seu quarto longa-metragem (Nacido y criado), é Pablo Trapero, que também busca pulverizar a partir de microrrelatos do cotidiano a ideia da nacionalidade. Diferentemente de Burman, sua proposta não é orientada pela etnicidade ou pela afirmação identitária coletiva, mas pela fidelidade absoluta aos seus personagens, por uma individualização profunda da narrativa. Seja tratando do mundo do trabalho (melhor dizendo, da falta de trabalho como em Mundo Grúa (1999) ou da corrupção do mundo do trabalho em El Bonaerense (2002)) ou do universo familiar esplendidamente apresentado em Familia Rodante (2004), o mais importante é explicitar as reações de seus personagens, é filmar seus atores quase como se estivesse documentando as suas vidas reais (aliás, um certo estilo documental que invade a ficção é mais um traço que caracteriza grande parte do NCA).
135
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Figura 4: El camino de San Diego
Beatriz Sarlo (2005) fala de uma proliferação de histórias da vida cotidiana, pela multiplicação das memórias individuais, o que ela chama de “giro subjetivo”, especialmente no discurso acadêmico que, inclusive, ampliaria o interesse do público geral por esse discurso. Esse argumento poderia ser estendido ao cinema, no qual “histórias mínimas” parecem curiosa e paradoxalmente refletir uma espécie de ressaca da espetacularização da cultura (emblematizada por programas como Big Brother ou por revistas como a Caras). Aliás, essa tendência pode ser detectada tanto nos jovens diretores do NCA, como em veteranos como Carlos Sorín – que vem efetuando o extremo avesso dos reality shows, com os seus road movies com atores não profissionais desde Histórias Mínimas (2002) passando por Bombón, el Perro (2004) – estes dois ambientados no litoral da Patagônia – até El camino de San Diego (2006), no qual um jovem fã de Maradona sai de da região de Misiones, no nordeste da Argentina para Buenos Aires numa espécie de peregrinação para entregar uma estátua a seu ídolo. Sorín, a partir desse minimalismo despretensioso e do cotidiano desglamourizado dos seus personagens, vai se configurando junto com Leonardo Favio, diretor de Gatica, el mono (1993), um aporte, uma inspiração para vários dos novos diretores do NCA, como, aliás, demonstra Konstantarakos (2006, p. 135) no seu diagnóstico sobre o NCA. Não só como registro do cotidiano presente das pessoas comuns está direcionada a memória no NCA. Francine Masiello se refere a uma 136
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
“arte da transição” na Argentina e no Chile pós-ditaduras, que são como respostas ao passado oculto da tortura e da morte no período. Masiello está interessada em dois tipos de reação a este passado: “La primera nos lleva pensar en la existencia de un mercado para la memoria social colectiva; la segunda hace funcionar a la memoria como un estímulo para acciones sociales futuras” (Masiello, 2001, p. 21).
Figura 5: Crónica de una fuga
E há vários filmes do final da década de 1990 e dos 2000 que vão acentuar ora uma, ora outra resposta à história da segunda metade do século XX no país, especialmente o que está relacionado com a tortura, o desaparecimento e o assassinato promovido pelos militares. Filmes como Garage Olimpo (Marco Bechis, 1999), 768003 (Cristian Bernard e Flavio Nardini, 1999) ou o recentíssimo Crónica de una fuga (Adrián Caetano, 2006). Mas saem de cena o fervor militante, o tom explicativo e onisciente para dar lugar aos relatos mais pessoais, mais minimalistas e seguramente mais crus da história. O trauma ainda mais recente da Guerra das Malvinas foi também filmado por mais um jovem debutante, Tristán Bauer, em Iluminados por el fuego (2005). Contudo, como afirma Sarlo, El pasado es siempre conflictivo. A él se refieren, en competencia, la memoria y la historia, porque la historia no siempre puede creerle a la memoria, y la memoria desconfia de una reconstrucción que no ponga em su centro los derechos del recuerdo (derechos de vida, de justicia, de subjetividad). (SARLO, 2005, p. 9)
137
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Figura 6: La ciénaga
Nesse sentido, talvez pudéssemos indicar dois filmes (de naturezas muito distintas, mas com uma radicalidade que aproxima ambos) como emblemas máximos ou, pelo menos, como os representantes mais instigantes da relação do NCA com a memória, com a história. O primeiro é o bastante discutido e analisado La ciénaga (“O Pântano”, Lucrecia Martel, 2001) que apresenta – a partir de um registro que poderíamos chamar de “estética do sedentarismo” ou “poética da decomposição”, como prefere Aguilar (2006, p. 42) – uma visão devastadora do cotidiano e das relações entre classes, gêneros e gerações na Argentina de hoje. Martel talvez seja a representante mais destacada do NAC (tanto por La Ciénaga como por La niña santa – “A menina santa”– de 2004) justamente por demarcar de maneira muito peculiar um outro espaço de representação naturalista para o cinema contemporâneo.
138
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Figura 7: Los rubios
O outro filme, de Albertina Carri, é Los rubios (2003), que rearticula de forma complexa o gênero documental político, apostando na contiguidade – e às vezes confusão – entre ficção e documentário, insistindo na autorreferência e na ironia como vias de elaboração do seu próprio luto (ela, filha de desaparecidos, realiza sobre a realização de um documentário sobre seus pais, utilizando-se de diversas estratégias distintas de “encenação” e revisão da história: animação com bonecos playmobil, telas de televisão reproduzindo entrevistas com sobreviventes da ditadura, o uso de uma atriz para representar a si mesma, etc.). Esse rápido e necessariamente superficial recorrido pela história recente (ou seja, a partir dos anos 1990) da cinematografia argentina demonstra a intensa relação com as crises e traumas pelos quais passou o país nas últimas décadas, mas, sobretudo, sugere os variados, críticos e brilhantes modos que os diretores do NAC encontraram para narrá-la e representá-la. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGUILAR, Gonzalo. Otros mundos. Um ensayo sobre el nuevo cine argentino. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2006. BERNADES, Horacio; LERER, Diego; WOLF, Sergio. Nuevo cine argentino. Temas, autores y estilos de uma renovación. Buenos Aires: Tatanka, 2002.
139
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
FRANÇA, Andréa. Terras e fronteiras no cinema político contemporâneo. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003. JAMESON, Fredric. Espaço e imagem. Teorias do pós-moderno e outros ensaios. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1994. ___________. As marcas do visível. Rio de Janeiro: Graal, 1995. KING, John. Magical Reels. A History of Cinema in Latin America. London/New York: Verso, 1990. KONSTANTARAKOS, Myrto. New Argentine Cinema. In: BADLEY, Linda; PALMER, R. Barton; SCHNEIDER, Steven Jay (eds.). Traditions in World Cinema. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2006. MARANGHELLO, César. Breve historia del cine argentino. Barcelona: Laertes, 2005. MASIELLO, Francine. El arte de la transición. Buenos Aires: Norma, 2001. SARLO, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Crítica del pensamiento eurocéntrico. Buenos Aires: Paidós, 2002. VITALI, Valentina; WILLEMEN, Paul (orgs.). Theorising National Cinema. Londres: British Film Institute, 2006.
140
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
A SENSIBILIDADE DO BANAL NO CINEMA CONTEMPORÂNEO
“o Neutro: aquilo que leva a diferença até a indiferença; mais justamente, o que não deixa a indiferença entregue à sua igualdade definitiva.” Maurice blanchot
Pode-se dizer que desde o final dos anos 1990 que o cinema latinoamericano, sobretudo os filmes mais alternativos e/ou experimentais, tem acentuado um despojamento formal e temático, tem se voltado enfaticamente para certo naturalismo, tem buscado uma proximidade com o documental e rejeitado o ponto de vista alegorizante, moralista e/ ou sentimental que de certo modo predominou em décadas anteriores e ainda prevalece nos cineastas mais populares.1 Esse viés do cinema latinoamericano contemporâneo (que poderíamos chamar de autor, de festivais ou de “vanguarda”), em certa medida acompanhando uma tendência dominante internacional, aponta para uma sensibilidade do cotidiano, para uma afirmação do banal, para o elogio do comum. Nesse ensaio, procuraremos delinear essa espécie de paradigma estético da banalidade 1
ver a comparação que Gonzalo Aguilar (2006, p. 27) faz entre os títulos dos filmes da “nova geração” de cineastas argentinos e aqueles dos nomes estabelecidos anteriormente: “A grandes rasgos, esto también se observa em los títulos que, más que ser indicaciones de lectura, preservan la ambigüedad y mantienen la incógnita. Caja negra, La libertad, Los muertos, aun La niña santa, (...). sílvia Prieto, Los guantes mágicos, sábado, nadar sólo, Un oso rojo. Compárense estos títulos con los más resonantes de la anterior generación, que hacen un guiño al espectador: Un lugar en el mundo, el lado oscuro del corazón, señora de nadie, La historia oficial, el exilio de Gardel, Tiempo de revancha, Ultimas imágenes del naufragio, entre otros.
141
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
a partir de dois universos profundamente distintos, tanto temporal como geograficamente: começaremos pela obra de ficção do diretor argentino Martín Rejtman – que é considerado pela crítica como um dos precursores do novo cinema argentino que se estabeleceu a partir do final do século XX – para finalizar com os filmes produzidos no final da década de 2000 por alguns jovens do Recife – movimento apontado por alguns críticos como um dos mais relevantes do cinema brasileiro contemporâneo. Parece importante sublinhar que o objetivo, mais que comentar e analisar exaustivamente esse corpus, é usá-lo como emblema dessa sensibilidade contemporânea para o banal, é enxergar as continuidades possíveis entre filmografias tão diversas, tão díspares. Para isso, dividimos o texto em duas partes. A primeira que trata precisamente da descrição comentada dos paradoxos da banalidade em Rejtman, e a segunda que traça os paralelos com o grupo brasileiro. Paradoxos da banalidade Se é impossível falar categoricamente em um “novo cinema argentino”2 como um rótulo uniforme, como um sistema delimitado ou fechado, parece-nos evidente que há fortes recorrências na produção cinematográfica a partir da segunda metade da década de 1990. Recorrências estas que nos permitem adotar o rótulo (“Nuevo Cine Argentino”, em espanhol), como, aliás, fazem vários autores (Aguilar, 2006; Bernades, Lerer e Wolf, 2002, entre outros), sempre ressaltando, todavia, a diversidade e pluralidade implícitas nele. Neste contexto, destaca-se a obra de Martín Rejtman justamente por representar o ápice do minimalismo expressivo do NCA, por negar categoricamente a pedagogia, por afirmar o cotidiano dos modos mais literais possíveis. Assim, começamos por usar Rejtman como base para descrever e investigar o que podemos chamar de estética do banal, analisando a série de anticlímax (composta fundamentalmente de momentos bem prosaicos ou francamente absurdos, 2 É importante lembrar que nos anos 1960, assim como em vários outros países na mesma época, houve um movimento também chamado “Nuevo Cine Argentino”. Alguns autores chamam o momento atual de “El último nuevo cine argentino” (Maranghello, 2005).
142
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
imagens simples, composições visuais muito básicas) apresentada em três dos seus filmes, Rapado (1992); Silvia Prieto (1999) e Los Guantes Mágicos (2003). A partir de microcaricaturas (caricaturas negativas já que não acentuam os traços dos personagens ou das situações, mas refinam o seu despojamento), Rejtman parece elaborar suas tramas sem os luxos da narrativa que assegurariam um efeito de realidade. A nossa hipótese é que estes filmes terminam por minar o modelo de verossimilhança ao usar uma verossimilhança absoluta (onde tudo é possível, cabível e verossímil), estabelecendo assim um sistema de paradoxos no qual o banal e nonsense se confundem. Nessa estrutura de verossimilhança absoluta dos filmes de Rejtman, podemos ver um estranho impulso parodístico em jogo. A alusão à paródia parece ser, à primeira vista, um ponto de partida equivocado ou pelo menos peculiar ao considerarmos a produção audiovisual da primeira década do século XXI na América Latina, mais especificamente na Argentina, até pela disseminação inegável do realismo e do minimalismo expressivo de cineastas como Trapero, Martel, Alonso e, em certa medida, Rejtman. Mas nos interessa na paródia a ideia de subversão de algum tipo de ordem original, e nisso pode estar a conexão com a produção cinematográfica dos anos 1990 e 2000. A paródia subverte porque nos permite duvidar de certos modelos, porque nos leva à conclusão de que esses modelos são artificiais e podem ser retomados de muitas outras maneiras. Ainda que vários autores tenham apontado em Rejtman a influência de Bresson, Rohmer ou mesmo das screwball comedies3 e dos sitcoms americanos,4 nesse sentido podendo fazer supor que seus filmes seriam paródias ou releituras dessas matrizes. Aliás, o próprio Rejtman rechaçou veementemente a ideia de paródia em algumas entrevistas.5 Contudo, a subversão parodística de Rejtman não parece estar dirigida a nenhum modelo em especial (num primeiro momento, poderia ser detectada, então, uma 3 4 5
Gonzalo Aguilar (2006) aponta, além das referências mencionadas acima, uma semelhança da encenação de Rejtman com a de Max Ophuls, sobretudo no que se refere à circulação de objetos nos seus filmes. “La sitcom provee al cine de Rejtman, definitivamente desde Silvia Prieto, un modelo de relato de gran economía narrativa y, a la vez, la conformación de un mundo ficcional por completo alejado de las convenciones del realismo.” (BERNINI, 2008, p. 20) “No me gustan las parodias.” (REJTMAN in BERNINI, 2008, p. 83)
143
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
ausência de paródia, uma não paródia burlesca...), mas a um modelo genérico de verossimilhança. Calcado em uma série de anticlímax, de subtramas imaturas, quase infantis; construídas com mínimos elementos (planos estáticos, interpretações “naturalmente artificiais” – muito mais desajeitadas que bressonianas, repetições ritmadas de imagens e diálogos), Rejtman contesta a verossimilhança ao equalizar todas as situações e conferir o aval de realidade a qualquer coisa que possa ocorrer nos seus filmes, estruturando paradoxalmente uma espécie de paródia absoluta.
FIGs. 1 e 2
Tomemos, por exemplo, Lucio, o protagonista de Rapado6 (FIGs 1 e 2), o primeiro longa de Rejtman, que aliás, ainda não tem plenamente desenvolvida a estética do banal que caracterizaria os seus dois filmes subsequentes: não há nada de inverossímil no seu percurso, nenhuma situação de fato absurda. Ao contrário, há uma extrema plausibilidade de situações e diálogos – Lucio tem sua moto roubada, Lucio raspa o cabelo, Lucio toma banho, Lucio janta com seus pais e assim por diante. É o excesso de banalidade, essa apoteose do cotidiano e a neutralidade completamente desafetada dos diálogos que põem em xeque a própria ideia de verossimilhança. As repetições efetuadas pelos personagens (o pai fazendo a barba, Lucio lixando a moto roubada, a mãe aspirando o pó da casa, vários personagens frente ao espelho, as idas à casa de video games), as inúmeras perguntas sem resposta ou as respostas desencontradas a perguntas sem importância não constituem uma paródia pós-modernista 6
144
“O primeiro longa-metragem de Martín Rejtman, Rapado (1991), trata de Lucio, um adolescente de classe média que mora com seus pais. Quando alguém rouba a moto de Lucio, ele raspa o cabelo. Após várias tentativas de roubar, ele mesmo, uma outra moto, Lucio consegue finalmente um ciclomotor com o qual se encerra em seu quarto.” (Chauvin, 2007, p. 237)
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
das comédias adolescentes americanas ou um comentário social sobre a classe média portenha. Mas ao mesmo tempo, Rejtman aponta um nível de autoconsciência formal que revela um distanciamento algo próximo da metaficção e ainda que em nenhum momento se configure como cinema sobre cinema, parece construir uma não paródia que expõe o cinema como fraude ou como jogo, e está permanente e implicitamente renegando o ilusionismo. Não temos olhares diretamente para a câmera, a ideia do filme dentro do filme ou a denúncia dos efeitos de real utilizados pela diegese. É um fato que tal cinema obedece a uma lógica paranóica e que é demasiado limitado (em todos os sentidos do termo). Mas é evidente que tais limitações, além da impassibilidade dos atores, a falta de profundidade de campo, a opção por um realismo dos mais básicos e diretos apontam para uma descontinuidade deliberada e calculada com o modelo realista precedente no cinema argentino.
FIGs. 3 e 4
Enumerações sucessivas. Contagens. Metódicas relações. Listas. Marcas. Nomes, sobretudo os nomes próprios. Assim poderíamos descrever sinteticamente o segundo longa de Rejtman, Silvia Prieto (FIGs. 3 e 4).7 Enumerando, não para ordenar os seus mundos ou fornecer al7
“Silvia Prieto (Rosário Bléfari) é uma jovem Argentina de 27 anos que no dia do seu aniversario decide mudar sua vida: deixará de trabalhar de garçonete (porque já não consegue contar os mais de 12.000 cafés servidos), comprará um canário que não cante e deixará de fumar maconha. Silvia tem um ex-marido, Marcelo, que, por sua vez, conhece uma jovem promotora de sabonete em pó da marca Brite que tem o mesmo nome do produto que distribui. Brite (Valeria Bertuccelli) consegue para Silvia um trabalho similar e, inclusive, apresenta-lhe seu próprio ex-marido, Gabriel (Gabriel Fernández Capello), com quem Silvia terá um relacionamento.” (CHAUVIN, 2007, p. 239)
145
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
gum tipo de explicação, mas para (como Borges) contaminar o real com o absurdo das listas, com a distorção do acúmulo de enumerações sem sentido, os personagens de Silvia Prieto, ainda mais que os de Rapado, investem no jogo das banalidades que define o cinema de Rejtman. Contam-se os pedaços de frango, os cafés, os leites, os cortados, as corridas de remise, os quilos somados ou subtraídos do peso corporal, os carregamentos, as dúzias de luvas mágicas. Conta-se, sempre, no duplo sentido do termo – o da quantificação e o do relato – como se estes fossem sentidos indissociáveis e complementares. (RAMALHO, 2009, p. 101)
Se em Rapado ainda havia um foco narrativo em Lucio, em Silvia Prieto estabelece-se mais fortemente a dispersão e des-hierarquização de tramas e personagens que simultaneamente tira e dá sentido ao filme. Ou seja, coloca o filme na esfera do nonsense. É pertinente, portanto, diferenciar agora a vocação de nonsense de Rejtman de uma poética do absurdo: Numa visão do nonsense, Michael Holquist o aproxima das relações abstratas da matemática e da lógica. Por isso a diferença entre nonsense e o absurdo. Este lida com valores humanos, enquanto o nonsense lida com valores puramente lógicos. O absurdo joga com a ordem e a desordem. O nonsense apenas com a ordem. (UCHOA LEITE, 1986, p. 50-51)
Podemos lembrar que existem vários estatutos e tipos de absurdo no cinema: Antonioni e seu elegante desespero; Jodorowsky e seus delírios surrealistas; Glauber e suas visões alegóricas; o surrealismo de Buñuel; os excessos grotescos de Fellini; as experiências poéticas de Maya Deren ou a demência antinaturalista de Carmelo Bene. A lista é interminável. Vislumbra-se o caos nessas obras, reconhece-se a falta de sentido (ou seja, parece prevalecer a ideia ou até mesmo a necessidade de um sentido por trás dessa falta de sentido). No nonsense, em contrapartida, não existe lugar para a falta de sentido. Ou seja, no nonsense existe um sistema fechado, preenchido por leis estritas como um jogo. Um mundo regido pela estranha coerência dos paradoxos. 146
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
O jogo das enumerações permeia todos os filmes de Rejtman, mas encontra sua expressão mais bem acabada em Silvia Prieto. Não falta sentido ao não sentido de Silvia Prieto, ao contrário, sobra sentido. Embora haja uma linearidade narrativa e estilisticamente nos encontremos com a mesma economia dos planos fixos, com a mesma ausência de profundidade de campo, sem grandes alterações de tom, sem rupturas autorreflexivas, nesse filme onde nada de relevante acontece, no qual a catarse está sempre contida, mas está sempre acontecendo alguma coisa, não há tempos mortos. Os personagens estão sempre em movimento: Silvia Prieto compra um canário, seu ex-marido vai a uma passeata, Silvia Prieto corta frangos, Silvia Prieto vai a Mar Del Plata, Marta massageia Brite... Um filme de ação, de enumer-ação, talvez mais exatamente de ações múltiplas, fragmentadas e profundamente banais. São ações mínimas, em alguns casos pequenos gestos, que no início do filme podem parecer anunciar algum simbolismo, prenunciar algum sentido que ainda está oculto (destroçar os frangos e guardá-los na geladeira; tirar a pequena xícara de café da bolsa, telefonar à sua homônima e desligar imediatamente após sua identificação, etc.), mas que não recebem nenhum explicação, não revelam significado. São ações, gestos e diálogos descontínuos, filmados num estilo aparentemente desafetado (apenas aparentemente), também aparentemente imperturbável e frio. Há uma profusão de referências: mas estas não são históricas, literárias ou artísticas; em Silvia Prieto, as referências que predominam são aquelas a marcas (Armani, marcas de cosméticos, detergentes, supermercados) e a objetos do cotidiano (secretárias eletrônicas, “lamparas de botella”, a bonequinha Silvia Prieto, desodorantes, despertadores, casacos de pele, macacões amarelos). Um repertório abarrotado de signos, sinais luminosos e quinquilharias. Porém, é importante ressaltar que também com relação a esse aspecto, Rejtman apela à des-hierarquização e à aleatoriedade para reforçar seu estilo estático – ou seja, não são exatamente as marcas pelo que elas significam na cultura contemporânea e no apelo que elas têm como marcas de distinção social, mas como coleção aleatória, como conjunto desordenado e despreocupadamente caótico. 147
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Com o seu terceiro filme de longa-metragem, Los guantes mágicos,8 Rejtman consolida e aprofunda seu estilo (uma mobilidade paradoxalmente estática, o filme de enumerações, as contagens aleatórias, a coleção de banalidades, o conjunto de anticlímax, os personagens construídos como caricaturas negativas). Contudo, as marcas culturais e locais sobressaem um pouco mais. Neste filme, aparecem de modo acentuado tipos e costumes que não estão ausentes nos filmes anteriores, mas que eram menos evidentes e aqui acabam ocupando um espaço preponderante, sublinhando uma ambiência e um ritmo definitivamente portenhos, quiçá insinuando um tom alegórico para a película: Alejandro como remisero, a aeromoça de vôos charter para o Brasil, o passeador de cachorros, as crises depressivas de diversos personagens, a profusão de psicotrópicos, os Renault 12, as discos e happy hours. A profusão de empregos e arranjos econômicos informais, a migração para o Canadá ou Brasil como solução, a apatia generalizada poderiam ser traduzidos como sintomas do momento histórico argentino. Entretanto, pensar em Los guantes mágicos como uma alegoria implicaria em certa intencionalidade do autor, implicaria numa seriedade de propósito, numa intencionalidade e numa profundidade de sentido 8
148
“Los guantes mágicos segue o personagem de Alejandro (Gabriel Fernández Capello), um homem de trinta e cinco anos, de classe média, que, no meio da crise econômica argentina, tem que converter seu velho e amado Renault 12 em um táxi. A partir da relação casual que estabelece com um dos seus passageiros, um empresário aspirante a músico de heavy metal, abre-se passo a uma curiosa galeria de personagens e situações absurdas, como uma aeromoça de vôos charter, um passeador de cachorros viciado em psicofármacos, mulheres que tentam combater a depressão com pastilhas e aulas de yoga e um ator vindo do Canadá para filmar um filme pornô nas cataratas do Iguaçu, com quem Alejandro importará luvas mágicas de Hong Kong numa malograda tentativa de se salvar da débâcle econômica.” (CHAUVIN, 2007, p. 240)
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
que realmente não fazem parte da gramática rejtmaniana. Nenhuma profundidade de campo, nenhuma profundidade dos seres de Rejtman: tudo se dá tal como é, em sua opacidade nativa e acompanhado de uma espécie de “pegar ou largar” que interdita de pronto toda réplica. Em Los guantes mágicos reaparece enfaticamente o jogo das enumerações que sublinha o desconcerto do ordinário. Como em Rapado (com suas motos, skates, caminhadas noturnas) e como em Silvia Prieto (filme no qual os personagens se deslocam constantemente, embora o deslocamento em si pouco ou nada importe: Silvia vai a Mar Del Plata, Gabriel volta de Los Angeles, Gabriel sai da prisão e vai a Córdoba no lugar de outro presidiário), também aqui temos pequenos deslocamentos que acabam por enfatizar uma poética da deriva. Deriva pela cidade, por Buenos Aires (nas inúmeras cenas dentro do remis de Alejandro), deriva pelo mundo (Valeria, Cecilia e Susana e suas viagens para o Brasil), Luis que vai e volta do/para o Canadá, os russos-canadenses...). O curioso, contudo, é que tais perambulações não possuem quase nenhum impacto imagético. Sobretudo as viagens internacionais e interregionais, que nunca aparecem na diegese e são apenas aludidas, seja nos diálogos ou nos planos de aviões ou do aeroporto de Ezeiza. E mesmo nas sequências em que Alejandro guia seu Renault 12 pelas ruas da cidade, não é possível detectar o propósito de proporcionar aos espectadores a sensação de que esse percurso mostra determinado aspecto de Buenos Aires. O que predomina é uma espécie de indiferença geográfica, um esvaziamento dos efeitos de sentido que são normalmente associados às cenas de mobilidade no cinema (nos Road movies ou nos filmes que representam muito enfaticamente uma cidade, por exemplo). Deparamo-nos, assim, com outro dos paradoxos rejtmanianos: a mobilidade estática. Como nos outros filmes de Rejtman, há uma ritualização de gestos que regula o ritmo e o caráter das relações entre os personagens – ritualização esta que acaba por estabelecer uma espécie de esvaziamento sentimental, por favorecer a irrupção da afetação desafetada que caracteriza seu cinema:
149
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
A psicanálise é provavelmente o momento quando outra coisa, como o afeto, entra em cena, mas estou relutante em considerar a ansiedade um afeto, e o ennui talvez seja a tela na qual o afeto começa a surgir e se tornar visível a olho nu. Mas sim, acedia poderia ser um afeto, como melancolia; ou pode-se dizer que nenhum dos três é uma emoção, mas alguma outra coisa, para a qual a palavra sentimento não tem muito a nos dizer. (JAMESON, 2008)
A acedia, esse torpor do banal, acaba por trazer à tona mais um efeito paradoxal no filme: é, pois, no vácuo afetivo (que caracteriza todos os filmes de Rejtman e não apenas Los guantes mágicos) que vai irromper o traço melancólico de seu cinema. Os personagens não saem do seu estado de semicatatonia. Os profusos sobressaltos narrativos, as panaceias sugeridas para os inúmeros males que acometem os personagens (desde males da alma a males financeiros ou laborais), a coleção de minúcias sem importância (pílulas, whiskys, as indefectíveis luvas azuis, os spas brasileiros, os pornôs canadenses filmados nas Cataratas do Iguaçu) apenas confirmam a imutabilidade superficialmente frenética, não alteram muito a melancolia indiferente de Cecilia e Alejandro ou a estupidez levemente eufórica de Piraña ou Valeria. O real e o banal Esta segunda parte do ensaio se configura mais como um apêndice, já que não analisaremos detidamente cada um dos filmes mencionados, mas antes reuniremos os traços que enlaçam os dois “conjuntos de banalidades”. Para falar sobre os filmes do Recife do final da década de 2000, temos que partir do pressuposto que não se pode falar em influência do trabalho de Rejtman nesses diretores, mesmo porque seus filmes tiveram uma recepção muito limitada no Brasil. Contudo, percebendo uma continuidade entre os dois universos que curiosamente revela aspectos centrais do espírito do tempo e uma possível ideia de cinema latino-americano. Antes de mais nada, é importante contextualizar brevemente o cinema do Recife, ou mais precisamente, o cinema feito no estado de 150
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Pernambuco. O cinema de Pernambuco vem ocupando um espaço bem relevante na história do cinema brasileiro desde os anos 1920, quando foi estabelecido o chamado “Ciclo do Recife” – um dos ciclos regionais mais destacados do cinema silencioso no país e resultado de um esforço coletivo de cerca de 30 cineastas que, de 1923 a 1931, realizariam 13 longas-metragens (nomes como Edson Chagas, Gentil Roiz, Jota Soares e filmes como “Retribuição”, “jurando Vingar”, “Aitaré da Praia” e “A filha do advogado” , talvez o mais conhecido desses filmes). O segundo desses ciclos seria o ciclo do Super 8 na década de 1970, com nomes como Firmo Neto, Geneton Moraes Neto e Jomard Muniz de Brito desenvolvendo sobretudo em Recife um cinema alternativo e experimental. Mas foi nos anos 1980 que a geração que se consolidaria uma década depois como o establishment do cinema de Pernambuco (os que ficaram conhecidos no resto do país) começou a produzir curtas: Paulo Caldas, Lírio Ferreira, Cláudio Assis, entre outros. A década de 1990 significou, portanto, a inserção mais enfática do cinema de Pernambuco no mainstream cinematográfico brasileiro, sobretudo a partir do filme “Baile perfumado” (1996), primeiro longa produzido no estado desde a década de 1970. Este filme marcou em Pernambuco o que se chamou de “Cinema da retomada”, ou seja, a reconstrução da produção cinematográfica brasileira depois do período de enormes dificuldades entre o final dos 1980 e início dos 1990. Além de restabelecer a indústria do cinema, a “retomada” também significou o reconhecimento da produção de outras regiões que não o Sudeste, os filmes que vinham de fora do “eixo Rio- São Paulo”. Essa emergência de uma filmografia periférica estava associada também a uma afirmação regionalista, mais evidente até na música popular, como no caso do manguebeat.9 No caso de Pernambuco, é importante sublinhar a ênfase regionalista de grande parte dos realizadores que começaram nos 1980 e 1990: de “Baile Perfumado” de Paulo Caldas e Lírio Ferreira; passando por “Amarelo Manga” de Cláudio Assis (2003); “Árido movie” (2005) de Lírio Ferreira e “Cinema, aspirina e urubus” (2006). Tal ênfase 9
Manguebeat (ou Manguebit, como preferiam seus fundadores) foi um movimento musical do Recife dos anos 1990, com grande influência em outras esferas da cultura como moda, design gráfico e audiovisual.
151
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
regionalista estava conjugada de modo geral a outro traço estético, um naturalismo que tendia ao grotesco, especialmente nas obras de Cláudio Assis e Lírio Ferreira. Sem deixar de ser realista, o cinema mainstream de Pernambuco buscou afirmar uma espécie de sotaque fílmico (NACIFY, 2001) através da caricatura, através do estranhamento, através do excesso de caráter local. E é justamente a este localismo folclórico, a este excesso grotesco e caricatural do Nordeste, o elogio do popular “histérico” e até certo ponto da vulgaridade ou ao realismo “vernacular”10 que de certo modo se contrapõe a sensibilidade do banal apresentada pela nova geração (e também por alguns cineastas da geração anterior que tentam matizar o regionalismo, ainda que operando claramente dentro de suas fronteiras – caso de Paulo Caldas em “Deserto Feliz” e, principalmente, Marcelo Gomes que junto a Karim Ainouz fez “Viajo porque preciso, volto porque te amo”). A produção de jovens cineastas (a maioria não chegou aos trinta anos) abordada aqui (Marcelo Pedroso, Gabriel Mascaro, Daniel Bandeira, Marcelo Lordello e Leonardo Lacca) tenta, ainda que não deixando de apresentar características e temas regionais, romper com o regionalismo da geração anterior, afastando-se do “sertão”, abandonando as conexões com o manguebeat e evitando o road movie (que de certa maneira predominaram nas produções dos anos 1990 e da primeira metade dos 2000). Nos filmes deste grupo (e aqui me refiro principalmente às produtoras Símio Filmes e Trincheira Filmes) predominam os documentários e mesmo nas incursões ficcionais há uma inclinação realista. Como vários dos cineastas do NCA, também a nova geração do Recife adveio da universidade, a maioria deles formada em cursos de comunicação na Universidade Federal de Pernambuco. É o caso de Marcelo Lordello, da Trincheira Filmes, que iniciou sua carreira de diretor com o curta-metragem Garotas de ponto de venda (2007) (FIG.1), que aborda o universo das promotoras de vendas em supermercados do Recife. 10
152
“A arte vernacular, não acadêmica, é produzido informalmente por indivíduos que não se reconhecem como artistas, e tem um papel muito importante na estética Manguebeat. Podem ser considerados elementos da estética vernacular os bordados e adereços dos figurinos do maracatu, as padronagens de sacola de feiras, as xilogravuras dos cordéis, etc.” (FONSECA, 2005, p. 30)
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Quase uma versão documental (e não intencional, até onde se sabe) de Silvia Prieto, o filme sutilmente inscreve sua crítica aos contornos mais perversos (e nonsense) do capitalismo transnacional, sendo simultaneamente irônico e delicado, respeitoso e irreverente: Lordello enfrenta um desafio: tornar personagem um indivíduo que parece apagado pelo discurso da marca para a qual trabalha. Olhares distraídos, pés que demonstram impaciência, o momento em que a cabeça voa entre um cliente e outro – o cineasta soube nos oferecer a sensação de que, por trás da fala automatizada da empresa que elas não se cansam de reproduzir, há um sujeito particular, trabalhando e tentando tocar sua vida para frente. (CALLOU, 2008)
FIGs. 1, 2 e 3
Lordello viria a aprofundar o rechaço ao regionalismo e esboçar de modo mais contundente essa poética do banal com outro curta (FIG.2), Nº 27 (2008), desta vez uma ficção sobre um garoto que se tranca no banheiro da escola depois de um ataque de dor de barriga. Através de planos de rigorosa elegância e atuações desafetadas dos adolescentes (quiçá deixando entrever inspirações bressonianas), Nº 27 apresenta um acidente do cotidiano que se converte em catástrofe, mostrando o próprio universo do banal como território do horror. No seu primeiro longa-metragem (FIG.3), Vigias (2010), o diretor retoma o documentário e a intenção de registrar as transformações do capitalismo no Recife, ao acompanhar a jornada noturna de sete vigilantes de edifícios de classe média da cidade da sua chegada ao trabalho até a sua saída. Em Vigias, Lordello amplia suas preocupações com os detalhes do cotidiano, com os 153
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
tempos estendidos e alongados do real, com as minúcias desimportantes da gente comum, frisando de um lado a aversão à caricatura e ao barroquismo que predominavam no cinema do Nordeste até a primeira metade da década de 2000 e uma adesão aos ventos minimalistas que sopravam desde a década de 1990, sobretudo no cinema asiático e latino-americano. Também da Trincheira Filmes, Leo Lacca dirigiu em 2008 o curtametragem de ficção Décimo Segundo (FIGS. 4 e 5), sobre um rapaz que visita uma amiga (ou ex-namorada, não se sabe ao certo) num apartamento do 12º andar. Esta lhe prepara um café. Neste filme, os efeitos de desdramatização e gestos automáticos remetem a certos traços do estilo de Rejtman, embora no filme de Lacca eles sirvam para construir uma espécie de estrutura que vai dar evidência a cada elemento dos planos do filme. Por isso, diferentemente da mobilidade estática de Rejtman – feita de sequências curtas e rápidas, com muitas referências ao fora de campo, interessam a Lacca os longos planos-sequência, a visibilidade total do mínimo.
FIGs. 4 e 5
Contudo, talvez o exemplar mais evidentemente rejtmaniano – tanto por ser uma espécie de comédia screwball, como por compartilhar do pendor para o nonsense do cotidiano – desse nosso recorte recifense seja o longa Amigos de risco (2008), de Daniel Bandeira (FIGs 6 e 7), realizador ligado à Símio Filmes. Um After Hours (Scorcese) de baixíssimo orçamento ou um Rapado mais acelerado, o filme mostra as surpresas da vida ordinária, os sustos do cotidiano, o humor melancólico da urbanidade periférica a partir das desventuras de dois amigos de classe média baixa na noite recifense ao se depararem com um terceiro amigo 154
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
trambiqueiro. Ainda que trazendo à tona cor local (com os sotaques, os subúrbios e viadutos de Recife, a trilha sonora “típica”) e se alinhando a certa tradição da representação da violência do cinema brasileiro, parece almejar o universalismo da banalidade e o apelo do comum.
FIGs. 6 e 7
Dois outros diretores da Símio Filmes, Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro também parecem encampar o projeto de comentário sobre o Brasil contemporâneo a partir do cotidiano, embora tenham modos diversos de abordá-lo. Realizaram juntos, por exemplo, o documentário de longa-metragem KFZ 1348 (2008) (FIG.8), no qual, a partir de um fusca encontrado num ferro-velho do Recife, mostram a busca por todos os seus oito donos, desde o empresário de São Paulo que o comprou primeiro em 1965 até o dono do ferro-velho, percorrendo várias cidades do país. Pela própria natureza do seu dispositivo e pela sucessão de personagens e situações, o filme não é propriamente minimalista como os outros exemplos mencionados acima, contudo aponta para a mesma sensibilidade do corriqueiro exibida pelos exemplos anteriores, delineia uma leveza de tom sem ostentações desnecessárias ou uma retórica excessiva e adere a um discurso historiográfico alternativo.
155
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
FIGs. 8 e 9
Marcelo Pedroso dirigiu sozinho outros documentários, entre eles o média-metragem Balsa (2009) (FIG. 9), a filmagem de um dia numa balsa que leva passageiros e carros de dois pontos distintos do litoral de Alagoas. Incorporando o ritmo do trajeto, o filme se aproxima da lentidão observacional de um Jia Zhang-Ke ou de um Lisandro Alonso deixando irromper um estado de apatia, essa sorte de deriva que no caso de Balsa literalmente “deixa-se balançar por vagas quaisquer” (BARTHES, 2003, p. 375). Contudo, a incursão mais inquietante no universo do banal de Pedroso foi o longa Pacific (2009) (FIG. 10), documentário que reúne footage feito por passageiros de um cruzeiro de classe média a Fernando de Noronha. O filme engendra narrativas a partir do material preexistente, um material composto por kitsch, sentimentalismo, constrangimento e excesso. Depende completamente de imagens alheias (seu diretor sequer estava no cruzeiro, as imagens foram obtidas por assistentes ao fim da viagem) que primam pela precariedade e pelo clichê amadorístico, porém uma vez reunidas ganham um contorno estranho e também melancólico, parecem mostrar o avesso do banal dentro da própria banalidade.
156
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
FIGs. 10 e 11
Para finalizar, temos um exemplo híbrido: Avenida Brasília Formosa (2010) (FIG. 11), de Gabriel Mascaro, longa-metragem sobre as transformações de uma comunidade pobre da periferia do Recife chamada Brasília Teimosa. Na primeira metade dos anos 2000, foi construída no bairro uma avenida (a do título), uma construção que acabou significando o ápice de uma intervenção urbana que deslocou seus moradores para um conjunto habitacional em outro subúrbio da cidade. Aludindo direta e insistentemente a algumas formas usuais de espetáculo: reality shows, novelas, música brega, música evangélica, Mascaro construiu uma ficção com os moradores do bairro e sobrepôs os registros documentais destes personagens com momentos nos quais eles atuavam e repetiam diálogos escritos pela equipe de roteiristas. Beatriz Sarlo (2005) fala de uma proliferação de histórias da vida cotidiana, pela multiplicação das memórias individuais, o que ela chama de “virada subjetiva”, especialmente no discurso acadêmico que, inclusive, ampliaria o interesse do público geral por esse discurso. Esse argumento pode ser estendido ao cinema, no qual “histórias mínimas” parecem curiosa e paradoxalmente refletir uma espécie de ressaca da espetacularização da cultura. Passada mais de uma década da recepção dos dois primeiros filmes de Rejtman e da ascensão do Nuevo Cine Argentino, com a distância proporcionada pelo tempo, pelo conjunto das avaliações críticas e teóricas ao longo desse período, é possível detectar por um lado um cansaço, certo esgotamento das estratégias fílmicas do minimalismo expressivo da década de 2000. Muitos dos cineastas já se estabeleceram, mais do que isso, foram decretados passés em alguns circuitos da crítica e dos 157
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
festivais (o caso mais emblemático provavelmente é a recepção majoritariamente negativa do último filme de Lucrecia Martel, La mujer sin cabeza (2008)). A própria discussão sobre o cotidiano, sobre o real e suas apropriações no cinema, tanto o de ficção, como o documentário, dá a impressão de uma superexposição, de um esgarçamento pelo excesso de uso. Por outro, e os filmes do Recife o demonstram exemplarmente, a sensibilidade do banal ainda se constitui como uma sorte de resistência, de embate. Então, parece-nos profundamente necessário avaliar quais os impactos dessa estética de modo mais contundente. Principalmente tendo em conta a última geração que tem assumido e assimilado a influência desses cineastas se não propriamente como precursores, certamente como renovadores desse fascínio com o ordinário a ponto de transformá-lo, da recusa (e muitas vezes a problematização) ao espetáculo mesmo que tematizando-o (como é o caso de Rejtman, especialmente em Silvia Prieto, com os personagens do programa de TV; de Pedroso com os shows toscos do Pacific ou de Mascaro com a aspirante ao Big Brother e a inescapável trilha sonora brega de Avenida Brasília Formosa), do elogio às margens e ao obscuro, do desafio à vulgaridade muitas vezes a partir da própria vulgaridade, e, especialmente, do retorno ao âmago do banal para atravessar de modo crítico e original os estereótipos da humanidade. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGUILAR, Gonzalo. Otros mundos. Um ensayo sobre el nuevo cine argentino. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2006. BARTHES, Roland. O neutro. São Paulo: Martins Fontes, 2003. BECKETT, Samuel. Pioravante marche. Lisboa: Gradiva, 1988. BERNADES, Horacio; LERER, Diego; WOLF, Sergio. Nuevo cine argentino. Temas, autores y estilos de uma renovación. Buenos Aires: Tatanka, 2002. BERNINI, Emilio. Estudio crítico sobre Silvia Prieto. Buenos Aires: Picnic Editorial, 2008. CALLOU, Hermano. “De fato 2 (descrições)”. Disponível em: http://www. janeladecinema.com.br/edicoes_anteriores/2008/janelacritica/2008/11/de-fato-2descries_18.html Acessado em: 08 de março de 2011.
158
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
CARROLL, Lewis. The complete works, Londres: Penguin, 1988. CHAUVIN, Irene Depetris. Martín Rejtman: profanações da fala no novo cinema argentino. Comunicação & política, v. 25, n. 2, 2007, p. 235-246. JAMESON, Fredric. As marcas do visível. Rio de Janeiro: Graal, 1995. ____________. Realismo e afeto. Conferência proferida no Congresso ABRALIC 2008. Disponível em: http://criticadialetica.blogspot.com/2009/02/jameson-realismoe-afeto.html Acessado em: 10 de março de 2010. KONSTANTARAKOS, Myrto. New Argentine Cinema. In: BADLEY, Linda; PALMER, R. Barton; SCHNEIDER, Steven Jay (eds.). Traditions in World Cinema. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2006. MARANGHELLO, César. Breve historia del cine argentino. Barcelona: Laertes, 2005. NACIFY, Hamid. An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton: Princeton University Press, 2001. OUBIÑA, David. Between Breakup and Tradition: Recent Argentinean Cinema. Senses of Cinema, 2004. Disponível em: http://archive.sensesofcinema.com/contents/04/31/recent_argentinean_cinema.html Acessado em: 10 de março de 2010. RAMALHO, Fábio Allan Mendes. A proliferação de dissidências. Desordem cotidiana e trabalho no cinema latino-americano contemporâneo. Recife: PPGCOMUFPE, 2009. Dissertação de mestrado. ROUANET, Sergio Paulo. Apresentação. In: BENJAMIN, Benjamin, Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1983. SANJURJO, Mariana. Derivas de la identidad em la filmografía de Martín Rejtman. In: MOORE, María José; WOLKOWICZ, Paula (orgs.). Cines al margen. Nuevos modos de representación en el cine argentino contemporáneo. Buenos Aires: Libraria, 2007, p. 137-150. SARLO, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. UCHOA LEITE, Sebastião. O que a tartaruga disse a Lewis Carroll. In: Crítica clandestina. Rio de Janeiro: Taurus, 1986.
159
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
AS CORES DO DESEJO. ALTERIDADE, RAÇA E SEXO NO CINEMA BRITÂNICO
o
cinema britânico, aliás, desde os seus primórdios, encarna de modo exemplar a estranha condição de cinema periférico dentro de um contexto metropolitano. Trata-se de uma filmografia facilmente assimilável e perfeitamente confundível com o mainstream americano (pelo idioma, pelos atores consagrados no star system, pela recorrência de coproduções associadas a grandes estúdios). Por exemplo, ao comentar os melodramas dos anos 1940 produzidos pelos estúdios Gainsborough, Marcia landy nota que: The most engaging aspect of these films was not the reproduction of official and mythic representations of british wartime and postwar culture. Their appeal, for better or worse, was their location within the parameters of hollywood popular cinema and their resistance to documentary realism. (lANdY, 2000, p. 65)1
Contudo, essa proximidade e essa semelhança paradoxalmente acentuam esse caráter de diferença: o cinema britânico – sobretudo o cinema mais popular, o cinema comercial – sempre foi muito parecido com hollywood, sempre buscou emular suas fórmulas e suas narrativas. 1
o aspecto mais interessante desses filmes não era a reprodução das representações oficiais e míticas da cultura britânica da guerra e do pós-guerra. Seu apelo, para melhor ou pior, estava na sua adequação aos parâmetros do cinema hollywoodiano e na sua resistência ao realismo documental.
161
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Porém vinha à tona, além da evidente inferioridade técnica e mercadológica, uma espécie de persistente caráter nacional. Ainda que os filmes de maior impacto comercial até a década de 1950 (os melodramas e as comédias) buscassem atenuar (ou até ignorar) esse aspecto, era sempre explícita a irrupção de traços recorrentes (temáticos e formais) passíveis de serem explicados a partir da noção de Britishness. De um lado, um cinema com aspirações (sem dúvida subalternas) ao padrão hollywoodiano ou ao menos uma sorte de resignação em ser um decalque desbotado desse universo – o thriller, o melodrama e até certo ponto as comédias de Ealing como os exemplos mais destacados desse estado de coisas; do outro a busca pela consolidação de dois pilares básicos do cinema nacional: o realismo social (derivado da escola documentarista, muito forte desde os anos 1930) e o filme de época (claramente associado à busca pela qualidade hollywoodiana, mas também um gênero no qual os ingleses conseguiram ultrapassar os americanos em qualidade e quantidade). Em todos os casos e ao longo da história, esteve sempre clara a centralidade do discurso sobre a nação no cinema britânico, tanto diretamente como o foco da narrativa, quanto nos modos e formas recorrentes que constituíam e predominavam no conjunto de filmes. Dentre os modos e temas que circulam no cinema britânico desde os primórdios do cinema sonoro, e sobretudo desde o pós-guerra, aquele que vai nos interessar muito diretamente é a questão da alteridade. E nesse aspecto, parece-nos conveniente apontar a continuidade entre os modos de representação da alteridade no cinema e a longa tradição literária que revela eloquentemente os fantasmas do colonialismo, do racismo e do imperialismo econômico e cultural (só para ficar em alguns poucos e célebres exemplos: Dickens e seu antissemitismo; as irmãs Brontë com Heathcliff e Bertha; Austen e as plantações caribenhas de Sir Thomas em Mansfield Park; E. M. Forster e suas visões do outro – seja o europeu continental ou o colonizado indiano): It is striking that many novelists not only of today but also of the past write almost obsessively about the uncertain crossing
162
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
and the invasion of identities (…). Many novels of the past have also projected such uncertainty and difference outwards, and are concerned with meeting and incorporating the culture of the other, whether of class, ethnicity or sexuality; they often fantasize crossing into it. This transmigration is the form taken by colonial desire, whose attractions and fantasies were no doubt complicit with colonialism itself. (YOUNG, 1995, p. 2-3)2
E assim como na literatura (que serve muitas vezes como fonte dos roteiros dos filmes), mesmo uma breve panorâmica sobre esses modos de representação no cinema nos deixa perceber a franca oscilação entre os estereótipos românticos e racistas, o orientalismo exoticizante e o realismo social às vezes condescendente. Como crianças, crianças insensatas Obliterando aqui alguns antecedentes e contemporâneos muito interessantes no jogo entre desejo e alteridade,3 queremos demonstrar como um filme como Narciso Negro (Black Narcissus, 1947) de Michael Powell e Emeric Pressburger4 ilustra complexa e admiravelmente a fascinação com o outro. Parece-nos o ponto de partida ideal não apenas para esse trajeto pelos modos de representação da alteridade, como para confirmar as peculiaridades do cinema britânico mesmo no contexto de uma grande produção à Hollywood, a diferença na semelhança. Ainda 2 É surpreendente que muitos romancistas não só hoje, mas também do passado escrevam quase obsessivamente sobre a travessia incerta e invasão de identidades (...). Muitos romances do passado também projetaram essa incerteza e diferença, e estão preocupados em abranger e incorporar a cultura do outro, seja a etnia, classe ou sexualidade, e muitas vezes fantasiam a passagem para essa cultura. Essa transmigração é a forma tomada pelo desejo colonial, cujas atrações e fantasias eram, sem dúvida, coniventes com o próprio colonialismo. 3 Vários melodramas Gainsborough utilizam o apelo erótico de um exotismo exageradamente artificial, como por exemplo, Madonna of the Seven Moons (Madonna das sete luas, 1945), de Arthur Crabtree, melodrama no qual os ciganos servem como contraponto à sobriedade de uma tradicional família florentina da alta sociedade. Ressaltando que ambos os grupos de personagens são mais parecidos com os estereótipos da sociedade britânica do que conceberam seus realizadores. 4 Baseado no romance de Rumer Godden de 1939, “Narciso Negro” mostra um grupo de freiras anglicanas que recebe a difícil missão de instalar um convento no topo de uma montanha no Himalaia, oferecendo escola e enfermaria às crianças da região. Apesar dos cenários perfeitos e uma direção de arte impressionante - Alfred Junge -, foi todo realizado em estúdio, o Himalaia belamente recriado nos estúdios Pinewood, nos subúrbios de Londres, graças também ao enorme talento do diretor de fotografia, Jack Cardiff.
163
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
que a narrativa se concentre primordialmente nos efeitos devastadores da tentativa fracassada de permanência das freiras num local inóspito e nas suas perturbações psicossexuais, surgem como pano de fundo o ocaso do império e os impasses da realidade colonial. British audiences in 1947 may well have seen Black Narcissus as a last farewell to their fading empire. World War II had altered colonial relations forever; in its wake, nationalist movements would grow and British authority would collapse. India achieved independence on August 14, 1947, and the final images of Black Narcissus, of a procession down from the mountaintop, seem to anticipate the British departure. (KEHR, 2001)5
FIGURAS 1 a 6 5 O público britânico em 1947 pode muito bem ter visto Narciso Negro como um último adeus ao seu império em decadência. A Segunda Guerra Mundial alterou as relações coloniais para sempre; a partir dela, movimentos nacionalistas cresceriam e a autoridade britânica colapsaria. A Índia conquistou a independência em 14 de agosto de 1947, e as imagens finais de Narciso Negro, de uma procissão que desce a montanha, parecem antecipar a retirada britânica.
164
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Além do núcleo central do filme (as freiras e Mr. Dean, interpretado por David Farrar (FIG.2), espécie de administrador do distrito e destacado para ajudá-las na instalação do convento – e também despertar os desejos e fantasias mais impetuosos nas personagens de Kathleen Byron e Deborah Kerr (FIG.1)), Narciso Negro conta com um entourage de “outros”, descritos por Mr. Dean como “primitivos”: “Well, you must remember, they’re primitive people. Like children, unreasonable children.”6 Do grupo de “nativos” creditados no filme (FIG. 3 a 6), apenas um é interpretado por um indiano (FIG. 4), o ator Sabu, fazendo o afetado jovem general que usa o perfume que dá nome ao filme. Embora haja alguns figurantes asiáticos, o trio de “outros” que interage mais diretamente com os protagonistas faz parte da tradição da maquiagem pesada e interpretação maneirista que caracteriza o mainstream cinematográfico. Como Ayah, personagem interpretada por May Hallatt (FIG.3). Angu Ayah é uma espécie de governanta do palácio abandonado, visivelmente incomodada com a chegada das freiras e nostálgica dos tempos em que o lugar servia como harém. Além de Ayah, outra figura feminina passa a habitar no convento, Kanchi, que Jean Simmons incorpora com a pele muito escurecida artificialmente (FIG.5). Kanchi, jovem de uma casta inferior que é levada por Mr. Dean a morar e ajudar no convento, atrai a atenção do jovem general e ambos acabam se constituindo como o foco da subtrama que define a sexualidade do outro a partir da combinação entre a inocência exótica do oriental e uma sensualidade exacerbada. Narciso Negro exoticiza, infantiliza (sobretudo o personagem de Sabu) e silencia os nativos (Kanchi não tem nenhum diálogo ao longo de todo o filme, só dança, ri, chora ou grita), ironicamente, contudo, também os coloca como os únicos personagens capazes de lidar de modo menos neurótico com a sexualidade. O filme de Powell e Pressburger delineia um modelo de representação que não tem pudores em ser condescendente em relação ao Oriente, nem em aprofundar a dialética atração-repulsa que marca todo o processo colonial. A forma magistral de Narciso Negro (com toda a sua sofisticação imagética, sua profunda inteligência cinematográfica, 6
“Bem, vocês devem lembrar, eles são um povo primitivo. Como crianças. Crianças insensatas.”
165
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
seu rigor artístico, sua condição de obra-prima) não pretende ocultar os elos intrínsecos entre racismo, sexualidade e colonialismo, nem atenuar o argumento implícito de que a cultura local é tão corrosiva que destrói os brancos que lá tentam se instalar. Mas se o filme é peculiar no que se refere ao seu nada desprezível conjunto de qualidades formais, artísticas e técnicas, ele é parte de um discurso imperialista, colonialista e racista muito mais abrangente e indiferenciado mesmo dentro do contexto do cinema britânico. Como uma bolha de sabão No cinema, o discurso colonial e imperial predominante só começou a ser desestabilizado mais sistematicamente a partir do final da década de 1950, mas muito mais evidentemente a partir dos anos 1960. Nesse período, um grupo de jovens diretores deu continuidade a certa tradição realista do cinema britânico (oriunda tanto do documentário como das comédias populares), mas simultaneamente radicalizou a estética realista e ampliou o alcance dos temas que até então eram do universo do documentário. O realismo social (desde a linhagem documentarista de Grierson, passando pelo Kitchen Sink Drama, Free Cinema, Angry Young Men e New Wave), então, serviu e ainda serve de matriz e modelo para o tratamento de temas como raça e desejo, relacionamentos inter-raciais e identidades culturais marcadas pela diversidade em contraposição às visões mainstream (e profundamente ligadas ao passado imperial) desses temas que aparecem em filmes mais populares ambientados na Índia, África ou Europa (Powell & Pressburger, David Lean, Hugh Hudson, James Ivory e Ishmail Merchant). Porém, por mais diferenças que possa haver entre os jovens cineastas que aparecem no final dos anos 1950 e seus antecessores já estabelecidos, é preciso apontar também as recorrências. Os angry young men da New Wave, sobretudo nos primeiros filmes, também privilegiavam adaptações (de peças ou de romances). Eles tampouco ousavam muito desafiar a transparência narrativa que caracteriza o cinema britânico como um todo, do mais comercial ao mais artístico. Essa relativa proximidade, ou, 166
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
dizendo melhor, essa ausência de diferenças mais marcantes serviu como mote dos reincidentes ataques ao cinema britânico de parte da crítica especializada e da academia (ambas altamente impressionadas com os outros novos cinemas, sobretudo o cinema francês). While many critics welcomed the New Wave films as a shot in the arm for British Cinema, they have often come under attack, not only for refusing to turn the landscape upside down but also because they were “essentially parasitic on a literary movement outside the cinema”. (…) the argument was thus that British films are less “cinematic” than the formally innovative French nouvelle vague films that emerged at the same time. (LEACH, 2004, p. 52) 7
Para além das especificidades e implicâncias da crítica de inclinações francófilas e/ou continentais, contudo, parece-nos importante atentar para Um gosto de mel (A taste of Honey, 1962),8 de Tony Richardson (FIGs. 7 a 12), como um dos importantes precursores do tratamento mais direto e mais franco da Grã-Bretanha multicultural que emerge a partir dos anos 1950, não a partir de formas autorreflexivas e mais ostensivamente transgressoras ao modo do cinema europeu da época, mas aludindo a temas – e conexões entre estes – inéditos até aquele momento. Essa condição de precursor se deve predominantemente ao material original, a peça escrita em 1958 pela jovem dramaturga Shelagh Delaney. Se não foi a primeira a tematizar a relação entre raças na Grã-Bretanha da década de 1950, certamente foi pioneira em retratar uma relação sexual inter-racial. Mas o elenco de temas de vários modos polêmicos para o público médio da época ainda contava com gravidez na adolescência, abandono materno, pobreza e homossexualidade. 7
Embora muitos críticos tenham acolhido favoravelmente os filmes da New Wave como um tiro no braço do cinema britânico, estes foram frequentemente atacados, não só por se recusarem a subverter a paisagem, mas também porque eles eram “essencialmente parasitas de um movimento literário fora do cinema”. (...) o argumento era que os filmes britânicos são menos “cinematográficos” do que os filmes da Nouvelle Vague que surgiram ao mesmo tempo. 8 O filme é versão para cinema da peça teatral de Shelagh Delaney, sobre uma garota pobre, Jo, que mora com a mãe de meia-idade e decadente. Jo viverá seu primeiro amor e iniciação sexual com um marinheiro negro e terá como único amigo um rapaz homossexual.
167
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
FIGURAS 7 a 12
Entretanto, o interesse e a inventividade de Um gosto de mel não residem apenas na inclusão dos assuntos sociais polêmicos. A tessitura delicada e discreta através da qual é apresentado o breve romance entre a desengonçada Jo (Rita Tushingham) e Jimmy (Paul Danquah) também conta como um ponto de ruptura com o discurso colonial tradicional. A mise en scène de Richardson enfatiza a leveza mesmo nos momentos mais tensos da trama. Desde os diálogos cortantes entre mãe e filha, ou no retrato realista dos pobres e sujos subúrbios do norte da Inglaterra, a câmera como que passeia por esses objetos, adota o tom delicado, o tom menor, uma ligeireza bem ao modo das canções infantis que são o leitmotiv da trilha sonora de John Addison e que também compõem certos diálogos do filme, aliás, transcritos quase integralmente da peça de Delaney. Esse tom menor, esse gosto de mel, essa delicadeza vem acompanhada, por outro lado, de uma ironia agridoce, como no plano da fusão do beijo entre Jo e Jimmy com o falso céu estrelado do salão de baile cafona no qual estão a mãe de Jo e seu namorado (FIG.10) ou
168
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
em toda a sequência em Blackpool, um minidocumentário sobre o lazer no norte inglês. Como os “outros” de Narciso Negro, Jimmy não aparece muito no filme. São no total cinco cenas, todas nos primeiros trinta minutos. Jimmy trabalha como cozinheiro num navio atracado apenas por alguns dias em Salford. As poucas cenas nas quais ele aparece são cruciais, contudo. Especialmente em relação ao estabelecimento do tom ligeiro e delicado e na definição da situação central para Jo e para o desenvolvimento da trama – sua gravidez. Os movimentos de câmera procuram sublinhar uma des-hieraquização entre os dois personagens, os enquadramentos sugerem uma naturalidade e um lirismo que afirmam o romantismo, mas rejeitam enfaticamente o melodrama. A mais relevante das cenas em que Jimmy aparece é a terceira, na qual o casal trava o seguinte diálogo nas ruas de Salford, subúrbio de Manchester, no noroeste da Inglaterra (FIG. 9): • Did your ancestors come from Africa? • No. From Liverpool. Were you hoping to marry a man whose father beat the tom-tom all night? • There’s still a bit of jungle in you somewhere. (RICHARDSON, 1962)9
A negritude de Jimmy (que na verdade é mestiço) vai ser mencionada implicitamente novamente na próxima cena, na qual Jimmy pergunta para Jo se sua mãe sabe que “ele é”. Frase que fica assim, inconclusa. A palavra “black”, negro, só vai ser dita literalmente por Jo, quando Jimmy já partiu, no momento em que ela revela sua gravidez ao seu amigo e roomate homossexual Geoffrey (Murray Melvin) (FIG. 11): “He was black as coal. From darkest Africa. A prince.” (RICHARDSON, 1962)10 Embora seja possível falar num silenciamento quase absoluto em relação ao sexo inter-racial no cinema, vindo à tona em raras ocasiões, não é simplesmente a menção ou representação do problema que 9 10
– Os seus ancestrais vieram da África?/ – Não. De Liverpool. Você esperava casar com um homem cujo pai tocasse tambores a noite inteira? / – Tem algo de selva em você em algum lugar. Ele era negro como carvão. Da África mais escura. Um príncipe.
169
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
torna memorável um filme como Um gosto de mel. A abordagem do filme é relevante não pelo mero fato de “tocar no assunto”. A naturalidade e a fluidez com que os temas espinhosos são tratados (raça, alteridade, pobreza, gravidez na adolescência, homossexualidade) possibilitam que Um gosto de mel seja simultaneamente político e lírico, irônico e melancólico, incisivo e poético. Evitando os discursos panfletários, o filme de Richardson não se esquiva de discutir os preconceitos e as contingências da sociedade britânica, em especial aquelas situações de exclusão e marginalidade que reúnem Jo, sua mãe, Jimmy e Geoffrey. Desejos coloniais Entretanto, o clássico tratamento da temática colonial a partir do relato eurocêntrico persiste com ligeiras alterações até hoje, principalmente tendo em conta cineastas mais convencionais, as adaptações literárias e os filmes de época. Na década de 1980, por exemplo, Verão vermelho (Heat and Dust, 1983), de James Ivory, Passagem para a Índia (A Passage to India, 1984), de David Lean e Paixão incontrolável (White Mischief, 1987), de Michael Radford reencenaram enfaticamente o discurso colonialista no filme de época. Passagem para a Índia (FIGs. 13 a 18) – embora seja o menos diretamente sexual dos três, sem dúvida é o mais célebre, tanto pela repercussão que obteve na época, pelas indicações ao Oscar e por ter sido o último filme de Lean – é uma adaptação do romance homônimo de E.M. Forster.11 Como ocorre em quase toda a filmografia de Lean, os personagens são colocados sobre cenários e enquadramentos de rigor e beleza, nos quais as paisagens parecem ter o mesmo nível de importância na narrativa que quaisquer outros elementos e através dos quais ele procurou traduzir suas ideias estéticas sobre a Índia: “He doesn’t see the India of travel 11
170
Na década de 1920, Adele Quested, jovem inglesa de férias na Índia é acometida de um estranho “mal” e passa a acreditar piamente que fora estuprada pelo seu guia indiano, o médico Aziz, dentro de uma caverna, acabando por desencadear um grande tumulto entre ingleses e indianos.
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
posters and lurid postcards, but the India of a Victorian watercolorist like Edward Lear, who placed enigmatic little human figures here and there in spectacular landscapes that never seemed to be quite finished” (EBERT, 1984).12 Dessa maneira Lean imprime sua marca à adaptação, dá seguimento ao seu projeto perfeccionista e monumental de cinema, à sua afirmação de uma visão épica do mundo. E talvez exatamente por privilegiar essa mise en scène grandiosa, Passagem para a India não consiga matizar e aprofundar as consequências culturais em uma escala mais humana, mais íntima. Ainda que vejamos algumas alterações nos contextos de produção (filmagens em locação, o fato de um dos protagonistas ser indiano, mais atores asiáticos, etc.), é surpreendente constatar que estarão em jogo alguns velhos procedimentos da longa linhagem de representação da diferença cultural do cinema britânico: Alec Guiness, numa interpretação caricata e exagerada, escurecido pela maquiagem para viver um brâmane (FIG.13); os obrigatórios planos com nativos à National Geographic (FIG.14); óbvias alusões sexuais a partir de imagens da cultura local (FIG.15), entre outros inúmeros exemplos do caso clássico de orientalismo que é o filme. Contudo, faz-se necessário reconhecer certas distinções, pois se em Narciso Negro, o contato com o exótico transforma e transtorna os brancos, não importando muito o que aconteça aos “outros”, no filme de Lean, há um claro desdém pela condescendência britânica e fica bem explícito que a devastação decorre dos atos da mulher branca histérica (FIGs. 16 e 17) e que seus efeitos vão ser igualmente terríveis para os colonizadores e os colonizados implicados na história.
12
Ele não vê a Índia de cartazes de viagens e cartões postais escabrosos, mas a Índia de um aquarelista vitoriano como Edward Lear, que colocou pequenas figuras humanas enigmáticas aqui e ali em paisagens espetaculares que nunca pareciam estar completamente terminadas.
171
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
FIGURAS 13 a 18
Tanto o romance como o filme constituem uma ambígua instância de reflexão sobre as relações coloniais. Pois, se ambos reforçam uma crítica à presença britânica na Índia, ainda o fazem de modo condescendente perante Aziz, que termina romance e filme pedindo perdão e agradecendo a Adele por inocentá-lo no tribunal. O outro como o romântico e nobre, o outro resignado diante de sua sorte. Aziz se reencontra com Fielding, seu amigo inglês, depois de vários anos de distância, depois das muitas cartas sem resposta (depois da absolvição, Aziz rejeitou qualquer tipo de contato com os ingleses) (FIG. 12). A comparação com Narciso Negro, de fato, torna o final de Passagem para a India bem mais conciliador. Contudo, esse reencontro não significa uma reconciliação entre Oriente e Ocidente, pois Aziz pressente nunca mais estar com Fielding. Como bem percebe Edward Said: “We are left at the end with a sense of the pathetic distance still separating ‘us’ from an Orient destined to bear its foreignness as a mark of its permanent estrangement from the West” (SAID, 1978, p. 244).13 13 Ficamos ao final com uma sensação da distância patética que “nos” separa de um Oriente destinado a suportar a sua estranheza como uma marca de sua alienação definitiva perante o Ocidente.
172
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
“We’ll drink to Thatcher and your beautiful laundrette!” O filme de época da década de 1980 (com as suas pompas de produção, com o seu nacionalismo, com sua nostalgia patrimonialista, ainda que com suas ambiguidades e as críticas embutidas no revisionismo que lhe caracterizava) teve como contrapartida a emergência de um cinema que sublinhava e tentava dar conta (e em grande medida se opor) das enormes mudanças sofridas pela Grã-Bretanha thatcherista: a corrosão do estado de bem-estar social, a adesão ao neoliberalismo, as políticas das minorias, a radicalização do feminismo, as revoltas punks, e, as tensões raciais que começaram a explodir mais veementemente na primeira metade da década. Ou seja, ao contrário do filme heritage, essa outra facção do cinema britânico optou por um viés contemporâneo, sobretudo no que se refere aos seus temas.14 Neste período, aprofundou-se a reconfiguração nas relações entre raça e representação na cultura fílmica que o Free Cinema e a New Wave iniciaram: Minha Adorável Lavanderia (My Beautiful Laundrette, 1985) e Sammy e Rosie (Sammy and Rosie Get Laid, 1987), de Stephen Frears, Handsworth Songs (1986), de John Akomfrah, Mona Lisa (1986), de Neil Jordan, entre outros, tematizaram questões diretamente ligadas à situação multicultural, multirracial e pós-colonial.
14
Na década também se destacaram três diretores que optaram por privilegiar a forma sobre a narrativa, constituindo uma espécie de “expressionismo britânico” tardio: Terence Davies, Peter Greenaway e Derek Jarman.
173
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
FIGURAS 19 a 26
Minha Adorável Lavanderia15 (FIGs 19 a 26) se destaca neste conjunto por vários motivos, entre eles o seu contexto de produção e seu pioneirismo. Com baixo orçamento, foi filmado originalmente em 16 mm para a televisão, mas foi tão bem recebido pelos críticos no Edinburgh Film Festival que acabou sendo lançado internacionalmente em 35 mm nos cinemas. O filme ajudou a consolidar o canal de televisão Channel 4 como uma importante força no cinema britânico e deu consistência à já existente cooperação entre cinema e televisão no país. Minha Adorável Lavanderia também apresentou ao mundo o trabalho do escritor inglês de ascendência anglo-paquistanesa Hanif Kureishi, uma das mais influentes fontes literárias das reflexões sobre 15 Omar, filho de um imigrante paquistanês, começa um novo negócio ao reformar a lavanderia de Nasser, seu tio bem-sucedido, com a ajuda de seu amigo de infância, Johnny, um ex-membro da organização fascista. Trabalhando juntos, os dois se tornam amantes.
174
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
a Grã-Bretanha a partir da segunda metade do século XX. Seu roteiro teve uma importância fundamental no sucesso do filme e no estabelecimento de um novo olhar sobre a sociedade britânica. A colaboração Frears-Kureishi (que ainda fizeram juntos em 1987 Sammy e Rosie) abriu caminho para explorações e representações menos estereotipadas e mais sutis das relações anglo-asiáticas. O filme evoca certos aspectos da política da New Wave britânica:16 a alusão às questões de classe, a busca pelo retrato mais fiel da degradação thatcherista da sociedade britânica, a contenção formal. Também chamam a atenção certas similaridades com Um gosto de mel: a leveza, o lirismo, a recusa do panfletarismo, a instituição de outro tipo de política ligado às pequenas lutas, aos pequenos. Kureishi e Frears se apropriam de vários temas que estavam presentes no filme de 1962, mas estendem e torcem os modos de apresentá-los (como as máquinas de lavar em pleno funcionamento dos créditos de abertura (FIG. 19) e da sequência final (FIG. 26)). Ou seja, nesse retorcer, entram em cena algumas distinções. E tais distinções constituem o principal avanço dos anos 1980 em relação aos modos de representação da diferença cultural – entendida nas suas mais variadas acepções. A perspectiva multifacetada dos lugares de fala, sem uma predominância branca no relato, aprofunda as propostas políticas que já estavam empenhadas no cinema britânico dos anos 1960 através da precisa e urgente remissão ao entrelugar. Todos os personagens e situações apontam para o entrelugar da cultura contemporânea, tanto os paquistaneses, como os paqui-britânicos, de segunda ou terceira geração, como os brancos do filme, todos eles nesse espaço intermediário. O problema do entrelugar foi sendo complexamente e tecido em Minha adorável lavanderia. Foi constituído daquilo que está no cerne da experiência do imigrante: aliar o desejo de pertencimento à preservação das raízes e identidade asiáticas. Desde o casal protagonista, com todas as suas contradições: Omar se alia completamente à ideologia yuppie dominante renegando a formação de esquerda do seu pai (FIG.20); 16 Frears, aliás, foi assistente de direção de Lindsay Anderson, um dos principais representantes da New Wave nos anos 1960 e 1970.
175
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Johnny, simpatizante do National Front, passa a trabalhar para Omar e sua família. Já não se sabe muito bem quem é o colonizador e quem é o colonizado. As superstições “primitivas” do subcontinente aparecem através das mandingas feitas pela esposa de Nasser, contra Rachel, sua amante inglesa. Mas Kureishi e Frears fazem com que a feitiçaria funcione, deixam que este e outros momentos discretamente delirantes perpassem e desestabilizem sua narrativa outrossim linear. A violência é perpetrada ora pelos amigos punks de Johnny, ora pelos capangas de Salim, primo de Omar. O subúrbio do sul londrino é tomado de assalto por uma permanente tensão, é dominado por um constante estado de alerta, por convulsões inescapáveis (FIG.24). As posições estão sempre se intercambiando, o entrelugar é móvel, a condição de alteridade permeia tudo e todos. A polissemia deste retrato, desta representação de mundo, confere um estranhamento a mais no tratamento das questões relativas ao affair inter-racial e homossexual, imprime na própria forma do filme sua textura inusitada. Entre o realismo seco destinado a se tornar documento de época (com seus mullets, suas ombreiras e seus tons pastéis; com uma estrutura quase telenovelesca em vários aspectos) e a ironia lúdica e o utopismo cínico e desiludido (que deve algo a Fassbinder e seus enquadramentos: as sequências que precedem a inauguração da lavanderia são as mais emblemáticas desta dívida, FIGs. 21 a 23). Neste lugar talvez esteja o ponto mais ousado e expressivo de Minha adorável lavanderia. As ambivalências implicadas na(s) história(s) de amor do filme revelam novamente a longa distância entre os modos de representação do sexo inter-racial no cinema mainstream até a década de 1980 – e de certa forma até hoje – e aqueles que tiveram que ser arquitetados a partir dos imperativos lançados pelas transformações culturais e sociais ocorridas na Grã-Bretanha do final do século XX. Não só com respeito a Omar e Johnny, mas também com relação a Nasser e Rachel (FIGs. 21 a 23). Também com relação à figura de Tania, prima e “prometida” de Omar, que com sua partida desafia os modelos esperados de sua família, seu sexo, sua raça, sua cultura (FIG.25). O romance entre o 176
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
punk neonazista e o paqui aspirante a yuppie acontece a despeito de toda a diferença, de toda a violência, de toda tradição e de Margaret Thatcher, talvez aconteça mesmo por causa delas. Mais além da lavanderia Minha adorável lavanderia desbravou as sendas indicadas pelo contexto multicultural dos anos 1980, trazendo para o cinema britânico a necessidade de construção de novos talhes, mais fluidos, indefinidos, permeáveis e subversivos para a representação da diferença. E de fato muitos filmes subsequentes deram continuidade a esse projeto de reformulação e questionamento das figuras de alteridade no cinema britânico. Em Sammy e Rosie, por exemplo, a segunda colaboração da dupla Frears/Kureishi, outro casal inter-racial, desta vez heterossexual, protagoniza um relato sobre a tensa Londres contemporânea, uma cidade marcada relas revoltas raciais, pela explosão de sérios conflitos, mas também pela intensidade cultural e diversidade intelectual. Frears volta ao tema do amor entre diferentes raças em Coisas belas e sujas (Dirty Pretty Things, 2002) sugerindo uma intensificação e uma complexificação dos conflitos raciais e sociais na Grã Bretanha. Vale aqui mencionar mesmo que muito superficialmente, outro diretor formado pelo Free Cinema dos anos 1960, Ken Loach, que também vem explorando as questões raciais desde os anos 1990 a partir da matriz do realismo social – como em Sombras de um passado (Ladybird, Ladybird, 1994), A canção de Carla (Carla’s Song, 1996) e Pão e Rosas (Bread and Roses, 2000), e em Apenas um beijo (Ae Fond Kiss, 2004) a tematização do desejo pós-colonial vai ser aprofundada e mesclada à discussão religiosa. As décadas de 1990 e 2000 vão ampliar o discurso sobre raça no cinema britânico. E a emergência e consolidação de diretores de origem asiática como Mira Nair, Udayan Prasad, Gurinder Chadha demonstram a agudização e a urgência da temática inter-racial para a compreensão da sociedade britânica contemporânea e para a análise e desmistificação dos clichês multiculturalistas em vigor desde o final da década de 177
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
1980. Apesar de aparentemente repetir certos padrões de representação da união entre raça, hegemônicos desde a literatura do século XIX, e certos modelos fílmicos realistas em voga desde o final dos anos 1950, filmes como Minha adorável lavanderia, Meu filho, o fanático (My son the fanatic, 1997), de Udayan Prasad, Apenas um beijo, e até mesmo a inocente comédia Driblando o destino (Bend it Like Beckham, 2002), de Gurinder Chadha, reencenam transgressivamente – em diferentes graus e de distintas formas – as fantasias de sexo inter-racial presentes na cultura britânica pelo menos desde a era vitoriana. Ainda que de formas essencialmente ou aparentemente convencionais, e que às vezes muitos deles incorram numa sorte de multiculturalismo programático, oco, reacionário e comercial (caso de um filme como Slumdog Millionaire), alguns destes filmes transcenderam enormemente o didatismo ou sentimentalismo propostos pela tradição realista do cinema britânico, trazendo à tona um hibridismo imagético e narrativo que desafia e abala noções cristalizadas sobre raça e sexualidade. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ASHBY, Justine; HIGSON, Andrew (eds.). British Cinema: Past and Present. Londres: Routledge, 2000. BADLEY, Linda; PALMER, R. Barton; SCHNEIDER, Steven Jay (eds.). Traditions in World Cinema. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2006. DISSANAYAKE, Wimal; GUNERATNE, Anthony (orgs.). Rethinking Third Cinema. Londres: Routledge 2003. EBERT, Roger. “A passage to India”, Chicago Sun Times, 1984. Disponível em: http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19840101/ REVIEWS/401010367/1023 Acessado em: 12 de dezembro de 2010. GRANT, Catherine;e KUHN, Annette (eds.). Screening World Cinema. Londres/ Nova York: Routledge, 2006. KEHR, Dave. “Black Narcissus”, The Criterion Collection. Disponível em: http:// www.criterion.com/current/posts/94 Acessado em: 10 de dezembro de 2010. LANDY, Marcia. The Other Side of Paradise: British Cinema from an American Perspective. In: ASHBY, Justine; HIGSON, Andrew (eds.). British Cinema: Past and Present. Londres: Routledge, 2000, p. 63-79.
178
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
LEACH, Jim. British Film. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. MURPHY, Robert (ed.). The British Cinema Book. Londres: BFI Books, 2008. SAID, Edward. Orientalism. Western Conceptions of the Orient. Londres: Penguin, 1978. YOUNG, Robert J.. Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race. Londres: Routledge, 1995.
179
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
EFEITOS DE REAL EM CINCO CINEASTAS DO MUNDO Angela Prysthon “Claro que não podemos prestar testemunho de tudo. Espera-se que a coisa nos encontre. Espera-se algo que nos irá compelir, um encontro. é o filme que nos procura. Não é estar em casa e dizer: “Ah, que filme tão interessante! Aposto que consigo escrever um ensaio sobre ele”. Algo nos força a dizer. viemos doutro lugar, chegamos como cidadãos do cinema para falar sobre um filme, porque ele nos compeliu quando a nós se mostrou. é isto que nos dá o direito de nos levantarmos e falarmos sobre um filme.” Adrian Martin “i couldn’t think of it this way at the time, but i had seen how realism may be bolstered by the actual. Twenty years later, i tried it out for myself. Things that never happened can tangle with things that did, an imaginary being can hold hands with the flesh-and-blood real, he may live in your house, as a henry of my own once did, he may read all that you have read and even make love to your wife. The atheist may lie down with the believer, the encyclopedia with the poem. Everything absorbed and wondered at in the faithless months – science, maths, history, law and all the rest – you can bring with you and put to use when you return yet again to the one true faith.” ian McEwan “Poderia com efeito haver um pensamento minimalista do Neutro; esse minimalismo se situaria assim: um estilo de
181
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
conduta que tendesse a diminuir a superfície de contato com a arrogância do mundo (e não com o mundo, o afeto, o amor, etc.): nisso portanto, haveria um minimalismo: ético, mas não estético ou afetivo.” Roland Barthes, O neutro
Desde os anos 1990, após o apogeu do artificialismo autorreferente e metalinguístico do pós-modernismo cinematográfico da década de 1980, vem se falando insistentemente ora sobre uma espécie de reemergência do realismo, ora sobre a natureza essencialmente pornográfica do visual (JAMESON, 1992), ora sobre um tipo de retorno à estética baziniana, estruturada na integridade do tempo e do espaço. Podemos efetivamente pensar nesses rumores do cinema mundial contemporâneo como tendências muito gerais, como um conjunto quiçá desordenado e impreciso de estratégias estilísticas marcadas pelo minimalismo, pelo anticlímax, pelo despojamento, por uma ênfase naturalista. Apesar de muitos traços comuns, o realismo cinematográfico do final do século XX e início do XXI no contemporâneo não pode ser totalmente confundido com uma sorte de neoclassicismo fílmico, ou mesmo com um renascimento das concepções de realismo de Bazin ou das ideias de Kracauer sobre o cinema como amortização da realidade física. Alguns (o jargão crítico da revista Cahiers du Cinéma, por exemplo, cristaliza o termo) se referem a esse conjunto como “cinema de fluxo” (OLIVEIRA JR, 2010), outros como “minimalismo expressivo” (AGUILAR, 2006), ou mesmo a partir do genérico rótulo de “world cinema” ou cinema mundial. Para dar um pouco mais de materialidade, para infundir um pouco de luz em algumas áreas do retrato borrado desse cinema, decidi afunilar a discussão a partir de comentários sobre filmes e estratégias estilísticas de cinco cineastas contemporâneos. Ao eleger esse grupo de cineastas, o que me interessa sublinhar em primeiro lugar é a noção de que o cinema mundial contemporâneo está submetido a uma lógica transnacional, o que não significa exatamente a superação das questões dos cinemas nacionais, mas a evidência da necessidade de um instrumental analítico que leve em conta as transformações do imaginário geopolítico que ocorreram no cinema, tanto no sentido estético, como nas condições de produção. 182
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Seria impossível contemplar todos os cineastas que articularam novas formas de realismo no cinema contemporâneo, que deram corpo a esse minimalismo expressivo ou que o desafiaram ainda que atuando nas suas trincheiras. Dividi então o texto em segmentos, um para cada cineasta. Foi detectada nesse conjunto uma vaga lógica temática que se repetia nos vários diretores analisados: a memória, a história, a cidade, a música, a política, o nonsense e o absurdo, o cotidiano, o deslocamento, a inércia, o espetáculo e seus antídotos, entre outros. Mas esta também deixaria de dar conta de outros autores que trataram dos mesmos temas talvez até de formas mais relevantes, com abordagens mais ousadas ou sínteses mais completas. Então talvez seja mais adequado explicitar que o que me interessava mesmo seria revelar algumas conexões tácitas (e às vezes ínfimas e inconsistentes) entre estes diretores escolhidos, mostrar como esses artistas e seus filmes se comunicam entre si, usar como base precisamente as quiçá mais ralas e dispersas intuições, coincidências e afinidades. Porque possivelmente o que os une mais convincentemente sejam questões de gosto. Os cineastas reunidos neste ensaio fazem parte de um repertório relativamente recente das minhas preferências pessoais, descobertas que me fizeram retomar o interesse pelo cinema contemporâneo de forma mais efetiva. Se não estão todos aqui, os que estão reorientaram, definiram e propuseram muito diretamente caminhos de pesquisa e hipóteses de trabalho. Guerín e a persistência da memória De que matéria é feita a memória? Uma parte importante da filmografia de José Luis Guerín parece fazer e tentar responder a essa pergunta. Uma das possíveis respostas que os filmes oferecem é que a memória é feita de imagens e da incessante combinação entre elas. Temos corpos, objetos, lugares e sombras se revelando para o olhar melancólico e errante do cineasta, construindo uma ideia de memória que pode estar vinculada ao tempo de um personagem, de uma ruína, de um objeto, de um bairro, de toda uma cidade, mas, muito mais fundamentalmente estará ligada à memória da arte, da imagem, do cinema. 183
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Nesse sentido, Tren de sombras (1997) talvez seja o mais emblemático e experimental dos filmes do cineasta catalão. Uma espécie de ilusão fantasmagórica, Tren de sombras percorre a memória do cinema através da invenção e da exploração das imagens do advogado fictício Fleury, fotógrafo e cineasta amador dos primórdios do cinema. Diferentemente do que se poderia supor tratando-se de um tema como este, para Guerín, o passado não é um país estrangeiro, um exotismo sensacionalista, não se está diante de uma nostalgia inócua e pós-moderna. Pois, se o filme nos apresenta quase como um ensaio sobre o tempo, um debruçar-se sobre o passado, surpreende-nos a ênfase na materialidade das suas fantasmagorias. Ali, importa muito menos a veracidade desta ou daquela cena, não faz diferença tratar-se de uma memória inventada: para Guerín o crucial é a imagem em si, afinal é dela que brota a memória, este é o cerne do efeito do real no seu cinema. Alguns viram na obsessiva investigação dos arquivos pelo cineasta/ narrador, na incessante pesquisa sobre os filmes de família caseiros, nos fragmentos da vida e das imagens de Fleury, uma proximidade com Thomas, de Blow Up. Sim, essa proximidade está lá, no torce e retorce do falso found footage, no desgaste, no esgarçamento que vai ser feito nessas imagens. Provavelmente, porém, há mais semelhanças com o estranho e dedicado colecionador de L’hypothèse du tableau volé, de Raoul Ruiz. Pois, menos blasé que o fotógrafo de Antonioni e mais detetive obstinado como o personagem de Ruiz, o cineasta/narrador vai buscando a origem mesma das imagens, ele vai construindo e se encantando com sua delicada teia de combinações, vai desfazendo e refazendo narrativas. E obviamente não lhe interessa apenas a origem dos fragmentos de Fleury, ou de todos os fantasmas evocados naquelas cenas familiares em Thuit, nas histórias pessoais daqueles rolos de vida ordinária, mas a gênese do cinema, a própria história do cinema silencioso.
184
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Fig1: Tren de sombras; fig.2: En la ciudad de Sylvia; fig.3: En construcción.
História do cinema e da arte que também está presente na quiçá mais conhecida película de Guerín, En la ciudad de Sylvia (2007), com longas tomadas de um ponto fixo, repetindo e reformulando os planos dos Lumière, evocando travelogues; com a busca da mulher ideal (Madeleine hitchcockeana, Beatriz dantesca), com ecos de Bresson e pinceladas de Manet... Assim como seus outros filmes, este nos demanda uma dedicação contemplativa para que se possa deixar levar pela leve hipocondria do coração, pela nostalgia melancólica e pelas várias derivas experimentadas pelo personagem de Xavier Lafite. Deriva mnemônica, simultaneamente auxiliada e enevoada por objetos inconsistentes (um mapa improvisado rabiscado em um sous-verre, uma caixa de fósforos do bar Les aviateurs), rostos na multidão, becos e ruelas indistintos. Ele lembra, esquece, volta a lembrar. Deriva dos ouvidos, é bom ressaltar também, já que o filme amplifica, detalha, desenha a cidade de Estrasburgo às vezes de modo mais sonoro que visual: cada ruído, cada sussurro, cada rajada de vento, cada passo, cada canção compõe cuidadosamente uma peça da tessitura urbana. Porém En la ciudad de Sylvia trata, sobretudo, da deriva do olhar – um olhar eminentemente masculino, diga-se de passagem (o olhar do personagem de Lafite, o olhar do espectador como que seguindo o olhar desse protagonista hesitante, deixando-se perder pelas ruas, graffiti e pescoços femininos, os olhares que se encontram e se desviam por trilhos, ângulos, janelas e diagonais): “olhar especula para todos lados”, como dizia Mário de Andrade. Como percebeu agudamente Deleuze sobre o neorrealismo, o personagem torna-se uma espécie de espectador. “Por mais que se mexa, corra, agite, a situação em que está extravasa, de todos os lados, suas capacidades motoras, e lhe faz ver e ouvir o que não é mais 185
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
passível, em princípio, de uma resposta ou ação. Ele registra, mais que reage. Está entregue a uma visão, perseguido por ela ou perseguindo-a, mais que engajado em uma ação” (1990, p. 11). (Por isso, resulta ainda mais elucidativo ver En la ciudad de Sylvia acompanhado de Algunas fotos em la ciudad de Sylvia, coleção de stills mudos que podemos considerar como uma espécie de esboço para o filme, na qual fica bastante evidente essa entrega à imagem do protagonista.) O filme nos impele, assim, a olhar para o mundo (e para as mulheres, pois nesse universo o corpo masculino é quase irrelevante) languidamente, como que empreendendo uma cruzada contra a frivolidade nervosa do presente, como que se opondo enfaticamente a grande parte do cinema contemporâneo, esta parte que não nos deixa tempo para a contemplação com sua montagem frenética, seu frenesi narrativo, sua urgência discursiva. Apenas essa languidez poderia dar conta do seu incurável e contagioso romantismo, somente a delicadeza contemplativa desse olhar é capaz de revelar os preciosos, raros, frágeis e breves instantes de beleza do banal, do ordinário. Sylvia e outros filmes de Guerín reafirmam a vocação viajante do cinema e a ideia de trânsito sugerida pelo próprio ato de filmar, manifestam o desejo benjaminiano de flanêrie. O protagonista sem nome faz botânica no asfalto registrando, como os viajantes naturalistas do século XVII guardavam cuidadosamente flores e folhas nos seus herbários, os rostos e gestos das moças dos cafés e das paradas de bonde no seu caderno de desenhos. Os flâneurs de Guerín perambulam pela cidade com os olhos atentos ao detalhe, especialmente aos detalhes dos corpos humanos. A cidade (como uma espécie de entidade universal, já que Guerín parece afirmar desde sempre uma abolição de qualquer localismo), então, se abre como um baú, uma potência itinerante de memorabilia, de souvenirs, de ruínas e vestígios para os colecionadores de aparições, de arrebatamentos, de amores à última vista. Não é somente na ficção – embora a distinção não nos pareça de grande relevância na sua obra – que Guerín apresenta suas coleções de aparições e arrebatamentos que se encontram no cinema, nas memórias 186
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
e nas cidades. Os documentários, naturalmente, estabelecem de modo mais sistemático os elos com a materialidade urbana. En construcción (2001) (que junto com Los motivos de Berta (1983) foram os únicos de seus longas realizados na Espanha) mostra exatamente as transformações pelas quais passou a região do Raval, bairro no centro de Barcelona, conhecido popularmente como Barri Xino. Seu subtítulo, “Cosas vistas y oídas durante la construcción de un nuevo inmueble en ‘el Chino’, un barrio popular de Barcelona que nace y muere con el siglo”, já fornece indicações de que possivelmente seja seu filme mais “sociológico”, mas o seu modo de composição tem pouco de programático ou estritamente político: embora seja também um comentário crítico sobre a gentrificação de Barcelona, sua principal preocupação continua sendo o cinema, dizendo melhor, a materialidade imagética que o cinema confere ao mundo, assim que seu modo de empreender essa crítica vai ser permeado por suas referências cinematográficas de sempre: Lumière, Hitchcock, Hawks (Land of the Pharaohs aparecendo como uma citação direta na tela da TV de um dos moradores dos velhos sobrados do bairro), entre vários outros são novamente convocados para ajudar a compor os quadros que dão forma à história de resistência que conta En construcción, como são também os trechos de filmes antigos que abrem a película, particularmente a bela sequência do marinheiro cambaleante pelas ruas do Raval. Inclusive pela proximidade cronológica, a comparação entre En construcción e a trilogia de Fontainhas, especialmente No quarto da Vanda (2000), do português Pedro Costa, parece incontornável, já que os filmes lidam com experiências urbanas liminares, tratam da vida nua e da existência precária de pessoas claramente à margem. Porém, diferentemente do que afirma Jacques Rancière sobre Costa (2009, p. 80), em Guerín sim há um formalismo estetizante – não que este não seja político também nos termos definidos por Rancière –, mas certamente a meticulosa e harmônica concepção da beleza nos seus enquadramentos e sua adesão a certos princípios do cinema clássico afastam-se do estranhamento do real de Costa. Há uma natureza fotográfica nos seus filmes, uma tendência a pensá-los como conjuntos constituídos de instantâneos, quase como uma 187
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
coleção de pinturas ou fotografias (como se cada filme fosse precedido por “Algunas fotos” antes de ser filmado, em lugar de um storyboard). O plano, o enquadre, continua sendo a unidade básica para mostrar as ruínas (nos sentidos literal e figurado), a memória da cidade. Ainda que as pessoas sejam o elemento crucial para se entender o que vai acontecendo no bairro (e há personagens particularmente tocantes como o peão marroquino que gosta de recitar poesia ou o velho ex-marinheiro colecionador de quinquilharias aleatórias), em En construcción as imagens da cidade em si têm um protagonismo eloquente: as escavações arqueológicas do velho cemitério encontrado por acaso, os escombros dos sobrados derrubados, as placas dos velhos hotéis, os bares do porto em contraste com os novos prédios, os outdoors publicitários anunciando as pesetas necessárias para adentrar a Barcelona gentrificada. Seu penúltimo longa-metragem até o momento, Guest (2010), tem vários pontos de convergência com En construcción. Em Guest, a unidade urbana também é a base sobre a qual se dá a deriva do olhar do cineasta. No caso, as várias cidades que Guerín percorreu para participar dos festivais dos quais foi convidado (daí o título): Veneza, Nova York, Bogotá, Havana, Seul, São Paulo, Cali, Paris, Lisboa, Macau, Jerusalém... Os festivais são a premissa e o ponto de partida dessa lista heterogênea de lugares, mas o foco são as conversas que Guerín entabula com os seus moradores, quase sempre totalmente alheios até mesmo à ideia de cinema: habitantes de um cortiço em Havana, pregadores evangélicos no centro de São Paulo, poetas no centro de Bogotá, a imigrante filipina em Hong Kong. Que, assim como En construcción, traz à tona inevitavelmente uma série de temas políticos urgentes como imigração, religião, pobreza, etc., e de certo modo atrai as interpretações sociologizantes, sempre de pronto repudiadas por Guerín em entrevistas. Guest, embora atento aos espaços e aos detalhes (visuais e sonoros) urbanos e enfatizando a noção de itinerância implicada nesse movimento de viagens e deslocamentos, é um filme sobre pessoas nas cidades, retratos dessas pessoas, e retratos sempre mediados pela memória do cinema. Não por acaso, uma das citações cinematográficas (a mais direta delas) do filme é de Portrait of Jennie (1948), de William Dieterle. Porque, como afirmou o próprio 188
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Guerín, carregamos um acúmulo de imagens e imaginações das cidades do cinema e já não se faz possível obliterar essa memória. Ao contrário do que se poderia supor, entretanto, essa consciência das imagens, esse peso da memória fílmica, traz aos autores mais interessantes do cinema contemporâneo, um alargamento inusual da zona de atrito entre arte e vida, entre experiência e representação. Desenhando mapas labirínticos, o cinema de Guerín reconhece assim as memórias fotográficas e fílmicas como os fragmentos de um processo de arquivo incorporados porosamente no nosso trajeto lacunar pelo mundo, como parte fundante das nossas cartografias afetivas. Música como efeito de real em Claire Denis Uma mulher limpa o que parece ser o balcão de um bar. Dois marinheiros caminham na rua em frente. Um terceiro marinheiro acaba de selecionar uma canção no jukebox. “I may not always love you”... A sequência, que aparece mais ou menos na metade de Nénette et Boni (1996), mostra os personagens da mulher do padeiro (Valeria Bruni-Tedeschi) e seu marido (Vincent Gallo) num flashback ou numa fantasia (o filme não deixa claro) de Boni (Grégoire Colin), um dos protagonistas. A cena não tem propriamente uma função narrativa (até porque esta é quase sempre elusiva, não só neste filme, mas em todos os outros da diretora), mas se trata de um momento emblemático na constituição do estilo de Claire Denis, sua obstinada e sedutora tapeçaria de sons e imagens. Em Nénette et Boni, a canção dos Beach Boys (God only knows), as alusões a Pagnol e Demy (Lola, sobretudo), as maneiras como tais detalhes são postos em cena e as sobreposições de tais elementos demonstram exemplarmente esse entrelaçamento entre som e imagem. Nénette et Boni também marca o início da colaboração entre Denis e a banda inglesa Tindersticks (que iria se repetir em Trouble Every Day (2001), Vendredi Soir (2002), L’intrus (2004), 35 Rhums (2008) e White Material (2010)), parceria que sempre realçou a criação de paisagens sonoras muito fortes que, mais que complementar as imagens, servem 189
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
como base de um traço quase paradoxal da obra de Denis: o uso de artifícios sonoros, especialmente música, não para metamorfosear ou fugir do real, mas, ao contrário, para acentuá-lo, para torná-lo mais pleno de afeto. Pois, se por um lado seus filmes estão quase sempre norteados por um naturalismo enfático que propõe o cinema como duplo do real, por um sensualismo da imagem, pelo apreço pelas superfícies filmadas; por outro, deixam-se levar pela interioridade suscitada pela trilha sonora e pelo uso intenso e deliberado de música diegética e não diegética. A música (e especificamente o formato canção em vários momentos-chave de sua filmografia), que não é mero adendo ou reforço, ganha em alguns aspectos uma função similar àquela que ela ocupa em musicais, a de afirmação da subjetividade e de uma dimensão utópica, como já sugeriu Richard Dyer: Two of the taken-for-granted descriptions of entertainment, as “escape” and “wish-fulfillment”, point to its central thrust, namely, utopianism. Entertainment offers the image of “something better” to escape into, or something we want deeply that our day-to-day lives don’t provide. Alternatives, hopes, wishes – these are the stuff of utopia, the sense that things could be better, that something other than what is can be imagined and maybe realized.1 (DYER, 2002, p. 20)
Também como nos musicais, a canção pode funcionar, ainda em Nénette et Boni, por exemplo, como linha de fuga, como um híbrido entre o real e a imaginação, como transição entre as fantasias e o encontro real de Boni com a mulher do padeiro. A canção dos Tindersticks pontua um dos momentos-chave onde percebemos claramente como Boni se dá conta da melancolia do seu desejo, instante em que irrompe a sensação de irrealização, da incompletude, da vulnerabilidade perante o cotidiano, diante do real. Na maior parte dos planos vemos a mulher, mas há um 1
190
“Duas das descrições já naturalizadas de entretenimento, a saber, ‘fuga’ e ‘realização de desejos’, apontam para o seu ímpeto central, utopismo. O entretenimento oferece a imagem de um ‘lugar melhor’ para ir, ou algo que queremos profundamente e que nosso cotidiano não nos pode prover. Alternativas, esperanças, desejos – esse é o domínio da utopia, a noção de que as coisas podem ser melhores, que algo distinto do que está aí pode ser imaginado e talvez até realizado.” (tradução nossa)
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
rápido contracampo de Boni que revela que ao partir do momento em que ela fala, perdeu a aura de mistério. O que Judith Mayne interpreta como sendo uma espécie de transferência do seu desejo para o bebê ainda não nascido da irmã (2005, p. 76).
Fig.3: Nenette et Boni; fig.4: 35 Rhums; fig.5: Beau travail.
As relações entre música, imagens e afetos vão ser igualmente centrais em Vendredi Soir, filme que mostra os trajetos de uma mulher numa noite em Paris e seu encontro com um desconhecido: desde as canções incidentais no rádio do carro de Laure (Valérie Lemercier) ou com os Tindersticks novamente fornecendo climas e ambiências sonoras que sublinham o trabalho de câmera de Agnes Godard, outra colaboradora importante de Denis, que pontuam as sensações urbanas do trânsito engarrafado de Paris em greve de transportes públicos e ao mesmo tempo imprimindo uma furtiva sensação de leveza, de movimento, uma delicada instabilidade de desejos trazidas à tona pela combinação entre o usual realismo de “superfície” de Denis e, neste filme em particular, as incursões por quase imperceptíveis ilusões de ótica (pequenas animações, objetos que se deslocam repentinamente). A noção de que há algo de estranhamente fantástico no corriqueiro, no comum, de que algo mágico paira e flutua por sobre o mais corriqueiro dos acontecimentos é deliberadamente tecida, como indicou Dickon Hinchliffe, dos Tindersticks, ao comentar a faixa “Le Rallye”: One of the first things Claire said to me was that she wanted the music to feel like it was floating in the air, drifting on to the streets at night through people’s cars and windows and from cafes and restaurants to create this strange and slightly magical, eerie world. It was to say that a night like this only happens once a generation. I responded to that by using a
191
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
lot of high strings and celeste and piano.2 (HINCHLIFFE in BELL, 2011, p. 19)
Outra trilha do grupo Tindersticks, a do filme 35 Rhums, também pontua melancolicamente os trajetos dos seus personagens por uma Paris bem diferente daquela dos cartões-postais, bem distante da monumentalidade do lugares turísticos vistos e revistos no cinema. A Paris de 35 Rhums é a da periferia, dos trens de subúrbio, dos bares clandestinos, dos imigrantes de cor escura, definitivamente marcada pela consciência pós-colonial (algo evidenciado inclusive por cenas de debates universitários). O filme, uma espécie de refilmagem/homenagem a Pai e Filha (Yasujiro Ozu, 1949), concentra-se no cotidiano de alguns moradores de um banlieue parisiense – em sua maioria de origem africana – através de um pai, Lionel (Alex Descas), sua filha, Joséphine (Mati Diop), e os seus respectivos pretendentes, a taxista Gabrielle (Nicole Dogue) e o taciturno Noé (Grégoire Colin). A meticulosa combinação entre a trilha original e as canções incidentais faz da música um lugar essencial da mise en scène de Denis, quase como se os filmes fossem elaborados a partir de coreografias que potencializam e delineiam os corpos dos atores e os espaços da ação. Um momento exemplar desse conjunto coreográfico está mais ou menos na metade do filme. São detalhes que culminam na cena mais eloquente do filme e uma das mais fortes na profunda relação que Denis estabeleceu com a música desde o início de sua carreira. A cena em questão ocorre a um pouco mais da metade do filme, num bar onde os quatro se refugiam após o táxi de Gabrielle enguiçar a caminho de um espetáculo. Alguns poucos clientes do bar começam a dançar ao som da clássica canção do cubano Ernesto Lecuona, Siboney, entre eles Lionel e Gabrielle. Quase ao final da canção, Lionel convida a filha. Começa Nightshift, dos Commodores, Noé se aproxima e toma Jo dos braços do 2
192
“Uma das primeiras coisas que Claire disse foi que ela queria que a música soasse como estivesse flutuando no ar, se infiltrando nas ruas à noite pelos carros das pessoas, pelas janelas, cafés e restaurantes para criar esse mundo estranho e levemente mágico. Significava de certo modo que uma noite como essa acontece somente uma vez em cada geração. Respondi a isso usando muitas cordas, celesta e piano.” (tradução nossa)
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
pai. Os movimentos, passos, olhares, respiros e gestos dessa inusitada família são impecavelmente apresentados sem que uma palavra seja dita: o desejo de Noé, o gentil recato de Joséphine, o desconforto sutil de Lionel, a frustração contida de Gabrielle depois que Lionel começa a dançar com a bela dona do bar. Desta vez com a trilha sonora original composta por Eran Tzur, Beau Travail é quiçá o filme no qual Denis exercita mais efusivamente o jogo das referências musicais e mais elaboradamente o padrão coreográfico da disposição dos corpos, e mais uma incursão feita a partir do seu olhar pós-colonial. O filme mostra um grupo de soldados da Legião Estrangeira num posto da ex-colônia francesa de Djibuti, sob o comando dos sargentos Forestier e Galoup. Trata-se de uma adaptação livre de Billy Budd, novela de Herman Melville sobre um jovem marinheiro. Para fazê-la, Denis percorre não somente o original (conservando o plot básico de inveja, mesquinhez e traição), mas também a versão operística de Benjamin Britten (cujas árias aparecem em poucas sequências, mas estas são instantes bem cruciais – como a introdução do deserto africano no início do filme ou o duelo explicito entre o soldado Gilles Sentain (que corresponderia ao Billy Budd de Melville, interpretado pelo mesmo Grégoire Colin dos filmes já mencionados antes) e seu superior Galoup (Denis Lavant)), encena momentos importantes a partir de uma boa lista de canções que começa pelo sucesso pop turco Şimarik do cantor Tarkan – que introduz boa parte dos soldados na trama, passando por Safeway Cart de Neil Young e Crazy Horse – soldados rumo ao deserto, para culminar com o hino disco eurotrash da banda eletrônica Corona The Rhythm of the Night – Galoup na sua dança da morte. Mas é evidente, inclusive pelos exemplos comentados acima, que não só de canções, não apenas de música é formada a tessitura de referências de Denis. Seus filmes são sempre permeados por muitas outras obras de arte, outros filmes, livros. Ao comentar sua obra a partir de Beau Travail, Jonathan Rosenbaum fala dessas citações como talismãs, feitiços e afrodisíacos estéticos. Como a mulher do padeiro e os marinheiros em Nénette et Boni (e as piscadelas para Marcel Pagnol e Jacques Demy); Basquiat, Frantz Fanon, os motivos japoneses 193
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
e ozunianos – panelas de arroz, ideogramas e trens – de 35 Rhums; a obra filosófica de Jean Luc-Nancy em L’Intrus; a imprensa marrom em J’ai pas sommeil (1994) e até mesmo a presença do ator Michel Subor, não apenas como ator em três dos seus filmes, mas também no retorno de Bruno Forestier, o seu personagem de Le Petit Soldat (1960) de Jean-Luc Godard que reaparece em Beau Travail, entre outras citações e influências, a profusão desses pequenos detalhes, desses amuletos (apenas) aparentemente supérfluos, funciona também como uma espécie de sintoma estético de uma época que se destaca tanto pela variedade – geográfica e histórica – de referências, como pela consciência contemporânea forçosamente pós-colonial delas. Ou seja, em Denis, mais do que uma ênfase na adaptação (embora, de fato, vários dos seus filmes mais conhecidos sejam transposições literárias ou cinematográficas, alguns adaptações diretas) ou do que o afã pós-moderno das citações (já que há nos filmes essa presença constante da música – rock, pop ou erudita, já que é óbvia a evocação cinéfila de autores, atores e sequências clássicas, já que seu estilo é povoado de intertextos sonoros, literários e visuais), importam mesmo a interseção dos seus encantamentos e a malha dos afetos tecidos em imagens sonoras que desnudam um mundo bem mais complexo e nuançado do que aquele que o cinema narrativo convencional mostra. As estranhas e selvagens canções de Miguel Gomes “He thought he saw a Rattlesnake That questioned him in Greek: He looked again, and found it was The Middle of Next Week. ‘The one thing I regret’, he said, ‘Is that it cannot speak!’”3 (CARROLL, 1988, p. 514)
3
194
“Ele pensou ter visto uma Cascavel/ que lhe inquiria em Grego:/ Olhou novamente, e descobriu que era/ o Meio da Próxima Semana. ‘A única coisa de que me arrependo’, ele disse,/ ‘É que não pode falar!’” (tradução nossa)
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
O cinema português tem se consolidado nos últimos vinte anos como uma reserva de surpresas, de pequenos tesouros, de experimentos preciosos e fartas recompensas. Se até o início da década de 2000, tinha em Manoel de Oliveira praticamente o único representante de renome internacional (embora João César Monteiro fosse altamente reconhecido em círculos mais especializados), a partir de diretores como Pedro Costa, João Pedro Rodrigues, João Nicolau e Miguel Gomes, Portugal se caracterizou em alguns aspectos como uma vanguarda fílmica ou pelo menos como uma “onda” em um sentido vagamente similar àquele do “cinema iraniano” dos anos 1990 ou “cinema romeno” dos 2000. Inegavelmente o centenário Manoel de Oliveira continua sendo a principal referência portuguesa numa escala mundial, nem só do cinema, inclusive. Dos nomes das gerações subsequentes a Oliveira e João César Monteiro, todavia, Pedro Costa é talvez o mais influente e desafiador deles, apresentando uma trajetória impressionante, que foi do cinema mais narrativo dos primeiros filmes (O Sangue (1989), Casa de Lava (1995)) às quase-instalações simultaneamente documentais e vanguardistas (No quarto da Vanda (2000) e Juventude em Marcha (2006)). De fato, seus filmes se tornaram referência para algumas das experimentações mais ousadas no cinema atual, para uma boa parte dos entrecruzamentos entre documentário e ficção, e confundiram as fronteiras entre o que se considera estritamente cinema e as artes visuais, ainda que nunca tenha se constituído como cinema de artista no sentido tradicional. Podendo ser vista também como reflexo de todas essas influências precedentes do cinema português e evidentemente de outros realizadores do cinema mundial, a obra de Miguel Gomes me parece particularmente incisiva pelo modo através do qual adere, rechaça e transforma – tudo isso ao mesmo tempo – o realismo preponderante no cinema dito de arte contemporâneo e nas suas estratégias literárias de construção narrativa. Em todos os filmes de sua ainda relativamente curta carreira, ele conjurou um mundo onde música, invenção, humor e nonsense dão o tom. Gomes opera pelo menos em dois níveis, o de um realismo convencional e o de uma subversão imperiosa desse realismo, seja através da exploração 195
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
dos limites entre ficção e real, seja no jogo com a linguagem fílmica ou mesmo no processamento de suas citações cinéfilas. Após iniciar no cinema com uma série de curta-metragens pontuados por certo estranhamento, um humor esdrúxulo e algum nonsense (entre eles Inventário de Natal (2000) e 31 (2001)), Gomes dirige seu primeiro longa-metragem: A cara que mereces (2004). Utilizando-se de elementos do musical e dos contos de fadas, o filme é uma incursão num universo infantil já desenhado em Inventário de Natal e especialmente em Kalkitos (2002). Para Gomes, a infância (em alguns dos curtas e mais elaboradamente no primeiro longa) é um estágio do qual os adultos têm dificuldade de se liberar ou mais extremamente se recusam a deixar. Uma sorte de Branca de Neve e os sete anões perverso e ensandecido, A cara que mereces está dividido em um prólogo e duas partes. Assim como no conto dos Grimm, o ponto de partida é o espelho e este em particular vaticina: “Até os trinta anos tens a cara que Deus te deu depois tens a cara que mereces”. Somos assim, no prólogo, apresentados a Francisco, que faz as vezes de Branca de Neve na sua função de “protagonista” e Vera, sua namorada, que descreve algumas características do parceiro na canção que pontua os créditos de abertura. A primeira parte, intitulada “Teatro”, é a mais realista das duas. Nela, Francisco, professor de música e animador infantil, está às voltas com o trabalho que detesta, um acidente de automóvel, rusgas com um adolescente apaixonado por sua namorada e a frustrada festa de seus 30 anos. A canção da abertura ricocheteia numa cena de transição na qual Francisco, cheio de curativos decorrentes da sua ida ao hospital depois do acidente, chega a uma espécie de sítio ou casa de campo a princípio vazio. Essa cena de transição (de certa maneira espectral, mas ainda no registro realista linear que caracterizou a primeira parte) dá lugar novamente ao espelho que abriu o filme e que serve de prenúncio à segunda e mais longa parte, chamada “Sarampo”. Aí, a narrativa realista é substituída por um mergulho numa outra ordem de realidade. Não se trata de uma metafórica volta à infância ou de um mundo mágico paralelo, antes é como 196
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
se tivéssemos acedendo a um outro filme, com uma lógica independente. Conhecemos nele os sete anões (Nicolau, Gross, Harry, Copi, Simões, Travassos e Texas) sete novos personagens, crianças em corpos adultos; aprendemos dele (desse outro filme, dessa nova parte) um conjunto de regras arbitrárias e aleatórias, mas absolutamente rigorosas. Na segunda parte a imagem de Francisco desaparece por completo, embora ele permaneça como narrador para os sete amigos, ditando as regras que devem ser seguidas para a sua convalescença: “eu estou doente, vocês são sete para que eu fique bom”. A sua voz em off ecoa até o final, mas o filme abandona seu protagonista, importando-se apenas com o jogo dos sete, o jogo passa a ser o filme, cada obsessão irrisória (e são muitas nos sete em questão), cada aventura, cada passo do jogo infantil se torna um fim em si mesmo, sem nenhum propósito ulterior, sem nenhum significado oculto. Se há um modelo para o jogo apresentado nessa segunda parte de A cara que mereces, este parece ser o Rivette de Céline et Julie vont en bateau (1977), encarnação fílmica do nonsense tipicamente carrolliano. Num determinado momento do filme, dois personagens conversam e um deles manifesta uma crescente irritação para com as digressões que conduzem a história que está sendo contada a caminhos inesperados e aparentemente aleatórios. À irritação de seu interlocutor, aquele que está narrando, responde: é preciso ter paciência para escutar uma história. De certo modo, não é outra coisa que o filme de Miguel Gomes nos pede com sua lógica pouco convencional. (RAMALHO, 2012)
Fig. 7: A cara que mereces; fig.8: Aquele querido mês de agosto; fig. 9: Tabu.
Contudo, é com Aquele querido mês de agosto (2008), seu segundo longa-metragem, realizado num verão em vilarejos bem pequenos na região central de Portugal, que Gomes vai experimentar mais inten197
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
samente as possibilidades de jogo entre o real e o ficcional. A partir de uma intrincada e desgovernada estrutura metalinguística, o filme, que aparentemente foi concebido como uma ficção, começa como um documentário semietnográfico sobre grupos musicais populares e os moradores das redondezas de Arganil, metamorfoseia-se em um romance adolescente entre a cantora e um dos músicos de uma das bandas, intercalados por cenas com os próprios realizadores (Gomes, os produtores, técnicos, etc.) ora discutindo os rumos do próprio filme (seus problemas de financiamento, a impaciência dos produtores com o diretor, a escolha dos atores), ora aproveitando as delícias do ócio (jogos, caçadas, cervejas). “Entre o controle e o rigor formal e a deriva imaginativa, Aquele querido mês de agosto se faz em uma zona de indeterminação” (FELDMAN, 2009). A zona de indeterminação mencionada por Feldman torna o filme mais intrigante, mais inesperado, já que a cada momento somos desafiados a repensar os gêneros, a recategorizar o que estamos vendo. Aquele querido mês de agosto, pois, rebela-se contra si mesmo. Paradoxalmente o excesso de artifícios tinge de realidade a ficção e vice-versa. Como já foi dito acima, Gomes é um cineasta que simultaneamente abraça e se afasta do naturalismo dominante no cinema mundial contemporâneo, quase como se estivesse indeciso ou com uma certa birra e hesitando, não quisesse seguir as tendências do cinema dito de arte, mas tivesse que segui-las, ainda que processando-as e modificando-as. Apresenta os moradores e visitantes de Arganil, as bandas de Pimba (tipo de música dos bailes de verão do interior de Portugal), as histórias e as conversas dessas pessoas da maneira nonsense que caracterizou seu longa anterior. E filma sua ficção com rigor documental, com a naturalidade realista derivada dos dramas sociais contemporâneos. Ainda assim, diferentemente de A cara que mereces, Aquele querido mês de agosto resiste a uma estruturação mais evidente, mais ordenada. Embora seja perceptível a linha tênue entre o eixo mais documental da película e o melodrama banal de sua contraparte ficcional – que começa a um pouco mais da metade do filme, não há uma divisão clara entre primeira e segunda partes. Muitas vezes não fica claro o que é encenação e o que é real. 198
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
A cena quiçá mais reveladora de todo o filme seja a final, protagonizada pela equipe, incluindo o realizador, o próprio Gomes e o diretor de som, Vasco Pimentel. Nesse momento, no qual começam a rolar também os créditos, na qual fica bem evidente esse senso de invenção formal pretendido pelo filme. Pimentel, como personagem e como captador de som é interpelado pelos seus colegas de equipe a explicar os sons fantasmas que inseriu na trilha. Gomes, inclusive, pergunta (encenadamente?) irritado: “Como é que é possível ter sons que não estão lá? (...) E agora? Como é que é possível? Tecnicamente é possível?”. Ao que Pimentel contesta: “Possível é, tecnicamente não é. (...) Eu vou às coisas. (...) Eu posso querer coisas, e elas vão ter comigo e não vão ter com vocês. Agora, técnica isso não acrescenta nada. Eu é que vou lá, vou e quero tanto que vou lá”. Parece-me então que, para além da invenção formalista e do jogo com os gêneros cinematográficos, esse idiossincrático musical, com suas prosaicas canções sobre o verão, casos de amor, traições, festas populares e religiosidade de onde não estão ausentes o ridículo ou o patético; esse bizarro documentário sobre os arcaicos modos de vida da gente provinciana portuguesa; essa brincadeira autorreflexiva sobre o próprio cinema, é uma efusiva ode à alegria marcada por um imperioso humanismo no qual “se quer tanto que se vai às coisas”. De certo modo, Tabu, seu mais recente e bem-sucedido (o que se pode ao menos suspeitar pelos vários prêmios prestigiosos recebidos e pela recepção majoritariamente positiva por parte da crítica) longametragem, levou Gomes a um retorno mais estruturado, menos livre, e certamente menos audacioso que Aquele querido mês de agosto, ainda que mantendo a voluntariosa excentricidade que define seu estilo. Assim como em A cara que mereces, o filme também está dividido em duas partes (Paraíso Perdido e Paraíso, como a divisão proposta por Tabu (1931) de F.W. Murnau, só que com a ordem invertida), as quais são precedidas por um prólogo. Estamos nesse início em um “filme dentro do filme”, na verdade um pequeno excerto do que parece ser uma aventura colonial, que a protagonista da primeira parte, assiste. Essas primeiras cenas mostram um estranho homenzinho na África, um taciturno e melancólico – assim adjetivado pelo narrador – explorador português assombrado pelo fan199
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
tasma da esposa e perseguido por um enorme crocodilo. Este rápido e inusitado começo fornece pistas que só serão decifradas nas duas partes que se seguem. O paraíso perdido da primeira parte trata principalmente de Pilar, uma solteirona lisboeta católica de meia-idade, envolvida em causas religiosas e sociais. Um pintor (com quem Pilar tem um relacionamento platônico), e uma vizinha idosa, Aurora, junto com sua empregada caboverdiana, Santa, perfazem o círculo de convivência da sua monótona existência. A morte de Aurora estabelece o ponto de partida para o encontro com Gian Luca Ventura (e não parece uma simples coincidência que esse tenha o prenome italianizado de Godard e o mesmo sobrenome de um personagem central do cinema português contemporâneo, no caso o Ventura de Juventude em Marcha, de Pedro Costa), figura misteriosa que se torna o narrador da segunda parte. A monotonia realista da primeira dá lugar à evocação romântica e à aventura experimental da história em primeira pessoa contada por Ventura. O foco de Paraíso, a segunda parte, é a história de Ventura e Aurora, jovens amantes nos turbulentos anos 1960 no sopé do fictício Monte Tabu, em uma África sob vários aspectos “de fantasia”. Nesta espécie de museu imaginário do colonialismo português, que casa a memória portuguesa com uma memória universal do colonialismo (é uma África aventurosa e idealizada, “exótica” como a de um filme americano, da RKO por exemplo), Aurora e Ventura vivem uma história de amor ilícito e terminal, um filme mudo narrado a posteriori, sem voz (excepto a voz das canções) mas com muitos sons (os sons da selva, cuidadosa e arbitrariamente colocados – o trabalho de som é espantoso, a fotografia é extraordinária). Tudo está condenado desde o princípio, o no future deles é o mesmo no future de Portugal em África. Correm para lado nenhum, em caminhadas pela savana, em movimentos de câmara que parecem querer encontrar os travellings de Murnau no Sunrise – às vezes param para fitar o espectador olhos nos olhos, misto de desafio e pedido de compaixão, como nenhuma personagem de cinema clássico ousaria. (OLIVEIRA, 2012)Tabu tem, portanto, muito do élan literário de A cara que mereces, especialmente no prólogo e na segunda parte; 200
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
compartilha com Aquele querido mês de agosto o entusiasmo minucioso pela música no uso criativo de canções pop e da trilha sonora escancaradamente romântica, mas neste filme, de fato, as referências são muito mais diretamente cinematográficas. Desde o homônimo de Murnau e Flaherty (de onde não vem apenas o título e subtítulos, mas sobretudo a bem-sucedida combinação entre melodrama e travelogue, entre romance e geografia, entre mise en scène e composições paisagísticas) e outros exemplos do cinema canônico (Ophüls, Ford, Borzage, entre outros), passando pelas séries de aventuras estilo Tarzan ou Hatari, até os épicos colonialistas estilo Out of Africa (Gomes mencionou em uma entrevista que Tabu seria uma espécie de Out of Africa disfuncional (in WIGON, 2012)), o Oliveira de Amor de Perdição e as fontes usuais que compõem seu repertório de influências e proximidades (Rivette, Godard, Wes Anderson, Monteiro, etc) – embora neste último filme tenham prevalecido as referências mais clássicas. Como foi dito antes, a recepção a Tabu por parte da crítica foi predominantemente positiva, mas foram também apontadas algumas objeções fortes, especialmente no que se refere à política depreendida do filme. Alguns críticos observaram um excessivo distanciamento das questões coloniais implicadas no filme e de certo modo condenaram os artifícios (vistos como ingênuos ou simplistas) que, nesse ponto de vista, contribuiriam para uma falsificação do real, para a construção de uma visão escapista, nostálgica e conformista com relação à brutalidade do imperialismo europeu (SCOTT, 2012; COMOLLI, 2012; FRENCH, 2012). Parece-me, entretanto, que, apesar de privilegiar a evocação de um universo cinéfilo e de, assim como nas suas obras anteriores, estar mais preocupado com a construção de um estilo narrativo singular, com marcar seu próprio tom, às vezes contaminados por uma sorte de hiperfabulação, Gomes não passa ao largo da política, menos ainda é ingênuo ou escapista no seu olhar para o colonialismo, ou mesmo para as questões políticas contemporâneas. Ao contrário, o olhar político sobre o colonialismo e sobre o póscolonialismo aparece desde o início, desde o prólogo com seu crocodilo melancólico e o ridículo e infeliz explorador. Nos detalhes transpiram 201
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
um discurso crítico e uma noção de história: o catolicismo engajado de Pilar, a velha Aurora e sua paranoia racista, Santa lendo Robinson Crusoé, os sintomas de um país em crise, a passeata contra um genocídio indeterminado, os africanos no “Paraíso” da segunda parte, o exotismo de quadrinhos, o modo como é filmada a morte de Mário. Tabu inventa uma África para falar da Europa contemporânea, de Portugal, da saudade portuguesa (saudade das colônias, do colonialismo, saudade de ser império). Essas fantasias nostálgicas, esse romantismo deslavado, contudo, revelam-se intencionalmente artificiais, como se só a partir do falso, do postiço fosse possível desenhar a fina e melancólica ironia que encobre sua narrativa. Não se está diante de uma mera brincadeira pós-moderna com o repertório cinéfilo ou mesmo de um jogo de linguagem fílmica. Com sua história de amor fracassado (ou antes amores fracassados, já que temos também Mário compondo um triângulo com o casal principal ou mesmo o amigo pintor de Pilar como seu pretendente frustrado) e suas canções melosas, Tabu é uma sofisticada e bela demonstração de como o frívolo pode ser um modo de ler a história a contrapelo, de como o artifício pode se revelar um protesto contra o contingente, de como a ironia pode ser um signo de resistência, de como o supérfluo pode comunicar o político, de como o cinema está sempre pensando à nossa frente. Elia Suleiman e as crônicas contra a desaparição “Se hibridismo é heresia, blasfemar é sonhar. Sonhar não com o passado ou o presente, e nem com o presente contínuo; não é o sonho nostálgico da tradição nem o sonho utópico do progresso moderno; é o sonho da tradução, como sur-vivre, como ‘sobrevivência’, como Derrida traduz o ‘tempo’ do conceito benjaminiano da sobrevida da tradução, o ato de viver nas fronteiras.” (BHABHA, 1998, p. 311)
No seu primeiro filme, Introdução ao fim de um argumento (1990), um videodocumentário codirigido por Jayce Salloum, o cineasta palestino Elia Suleiman monta uma colagem de cenas de filmes, programas de televisão, anúncios, noticiários. A intenção era demonstrar através 202
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
dessa justaposição os ridículos, equívocos e limites nos modos de representação dos árabes nos mídia americanos (Suleiman se encontrava exilado em Nova York naquele momento): “After being disgusted with... misrepresentations of the Palestinians, I decided to go and get my tools and equipment and learn something about how to defend this gut feeling” 4 (SULEIMAN in DABASHI, 2006, p. 149). No segundo, um curta-metragem chamado Homenagem por assassinato (1992), ele se coloca em cena pela primeira vez. À espera de uma chamada telefônica do locutor de rádio que vai entrevistá-lo sobre a Guerra do Golfo e o filme que está fazendo. O locutor não consegue completar a ligação. Suleiman olha fotografias de família, lê o fax enviado pela amiga Ella Shohat, escuta piadas sobre os palestinos na secretária eletrônica. No curta já há vários elementos que apareceriam depois nos seus filmes mais conhecidos: a ironia, a política que emerge de modo sutil, a sua peculiar e enigmática expressão facial. Porém, no contexto específico daquele momento (do cineasta e do mundo árabe) o cerne parece ser a discussão sobre o exílio, os diferentes deslocamentos e temporalidades implicados nele. A própria Shohat (que no filme também lê em voz over seu fax para Suleiman) faz uma análise de Homenagem por assassinato a partir do conceito de exílio: Homage by assassination invokes the diverse spatialities and temporalities that mark the exilic experience. A shot of two clocks, in New York and Nazareth, points to the double timeframe lived by the diasporic subject, a temporal doubleness underlined by an intertitle saying that the filmmaker’s mother, due to the Scuds attacks, is adjusting her gas mask at that very moment.5 (SHOHAT, 2006, p. 309) 1 5
“A partir de minha repulsa pelas representações deturpadas dos palestinos, decidi tomar minhas ferramentas e equipamento e aprender algo sobre como defender esse sentimento visceral.” (tradução nossa) “Homenagem por assassinato invoca as espacialidades e temporalidades diversas que marcam a experiência do exílio. Um plano de dois relógios, um em Nova York e outro em Nazaré, aponta para a dupla moldura temporal vivida pelo sujeito diaspórico, uma duplicidade temporal sublinhada por um intertítulo informando que a mãe do cineasta, devido aos ataques com os mísseis Scud, está ajustando a sua máscara de gás naquele momento.” (Tradução nossa)
203
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Mas é em Crônica de uma desaparição (1996) que Suleiman estabelece de maneira mais definitiva sua inusual gramática. Através do uso enfático da frontalidade, de conjuntos de sketches, das suas pequenas coleções de gags, de cenas absurdas, vinhetas com minúsculos acontecimentos cotidianos, retratos de família, vizinhos belicosos, quase próximo ao cinema de João César Monteiro na sua estrutura, mas, ao contrário da eloquência sardônica do irreverente português, aqui as vinhetas e crônicas serão pontuadas pela presença de sua persona silenciosa e sobriamente burlesca, confessamente inspirada no humor triste de Jacques Tati e Buster Keaton. O cineasta apresenta uma narrativa que efetivamente se rebela contra a estrutura narrativa em si. O filme, que não tem exatamente um plot ou personagens bem delineados, está estruturado em duas partes diferentes, “Nazaré, diário pessoal” (a parte mais doméstica, mais “cômica”) e “Diário político de Jerusalém” (a mais ideológica e brechtiana das duas). Ou seja, o filme lança as bases do que podemos chamar “poética do absurdo do cotidiano” na obra de Suleiman. A profusão de episódios banais, de crônicas do cotidiano, é meticulosamente coreografada (a partir da repetição, da circularidade, sobretudo) a fim de mostrar como vivem os palestinos sob a ocupação sionista. As oficinas e seus mecânicos bigodudos, as velhas fofoqueiras, gamão digital e narguilé, os pescadores noturnos, The Holyland Souvenirs, livros que caem “do céu” (“está chovendo cultura”, diz um personagem), o padre que compara o mar morto a um esgoto, uma palestina que fala hebraico e tenta alugar um apartamento em Jerusalém, os intertítulos irônicos, a invasão da casa do cineasta pela polícia israelense ao som de um cha-cha-cha cantado pela soprano peruana Yma Sumac, enquanto Suleiman termina placidamente de comer um prato de espaguete... Hamid Nabashi fala no cinema de Suleiman como um “elogio à frivolidade”, uma frivolidade que se desenha como resistência ao espetáculo patético, violento e obsceno que define a situação na Palestina: Elia Suleiman goes back to Palestine after a sojourn in Europe and the United States. But what does that return mean exactly? Nothing. There is nothing to return to, there is nothing to return
204
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
from. Time and space begin to collapse in Elia Suleiman’s vision of his homeland and in its place a furious frivolity begins to take over. The result is a reflection on the texture of a manner of exile that no longer means anything – because there is no home to claim, because the world has in its entirety become Palestine.6 (DABASHI, 153)
Fig. 10: Crônica de uma desaparição; fig. 11: Intervenção divina; fig.12: O que resta do tempo.
Crônica de uma desaparição marca também o início de uma trilogia, da qual Intervenção divina (2002) seria a segunda obra. Com este filme, vencedor do prêmio do júri em Cannes, Suleiman se tornaria não apenas mundialmente conhecido, mas uma figura-chave da cultura do Oriente Médio em geral e da causa palestina em particular. Contudo, é preciso realçar que essa aderência geopolítica local não é nem simples militância, nem discurso panfletário. A política encampada por Suleiman, especialmente em Intervenção divina, escapa às categorizações usuais do cinema político através da ironia, do nonsense e do burlesco perante o horror do contexto palestino. Tais elementos reconfiguram a própria noção de política, perfazem um sofisticado chamado à resistência. Suleiman opta pela singularidade, pelo absurdo e pelo inusitado que emergem do real, que brotam desse árido cotidiano sem esperança dos territórios ocupados e que dão forma à complexidade da situação – tanto que essa forma se revela necessariamente híbrida, ambígua e desconcertante. Em comparação com a primeira parte da trilogia, Intervenção divina possivelmente adense os traços estilísticos já existentes no filme anterior 6
“Elia Suleiman retorna à Palestina depois de uma temporada na Europa e nos Estados Unidos. Mas o que é que o retorno significa exatamente? Nada. Não há um lugar para voltar, não há lugar de onde vir. Tempo e espaço começam a entrar em colapso na visão que Elia Suleiman tem de sua terra natal e em seu lugar vem uma frivolidade furiosa. O resultado é uma reflexão sobre a textura de uma forma de exílio que já não significa nada – porque não há casa para reclamar, porque o mundo em sua totalidade se tornou a Palestina.” (tradução nossa)
205
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
(o formato da coleção de crônicas, os planos e contraplanos frontais, a trilha sonora pop “exótica”, a repetição minimalista) traga mais elementos convencionais no sentido de um plot, mesmo que este não seja linear: trata de três personagens centrais, E.S. (o sempre mudo e enigmático cineasta), sua namorada e o pai de E.S.. Os dois primeiros vivem um romance complicado, difícil, marcado por checkpoints, por fronteiras, por road blocks.7 O terceiro personagem tem problemas financeiros, pequenas querelas com os vizinhos e sofre um ataque cardíaco. E.S. se divide entre os furtivos encontros com a namorada e o cuidado com o pai. Essa relativa adesão a um formato narrativo mais típico, menos fragmentado, apenas deu uma base à estrutura episódica, forneceu um fio para tecer a malha das vinhetas. Em Intervenção divina estão as sequências até agora mais célebres da carreira de Suleiman: desde a perseguição de um franzino Papai Noel em Nazaré no início do filme, passando pela explosão de um tanque de guerra por um caroço de damasco jogado por E.S. pela janela do carro, ou pelo plano do balão com a face de Arafat estampada sobrevoando o checkpoint, pelo confronto entre E.S. e um israelense num sinal de trânsito ao som de “I put a spell on you” cantada por Natacha Atlas, até a apoteótica e enigmática transformação da namorada em guerreira ninja contra os soldados israelenses. Ou seja, que o filme não se furtou à profusão de referências, à “furiosa frivolidade” ou às ênfases alegóricas ou nonsense que caracterizaram a obra de Suleiman até então. Confrontando perplexidade e ironia, o ridículo e o sublime, o horror e o cômico, o real e o surreal, Intervenção divina elabora uma excepcional síntese sobre a questão palestina no contemporâneo. Mais do que isso, sabotando o realismo com o absurdo, com o delírio, ele equipara forma e conteúdo para criar uma nova visão do mundo (porque não é apenas a Palestina que está em jogo ali, não se tratam de problemas circunscritos ao Oriente Médio), elabora um desafio estético, ético e político ao firmar seu eloquente elogio à resistência; resistência ao poder, à violência, à desaparição. Todo o filme (e de fato toda a sua obra, mas Intervenção 7
206
Kay Dickinson sugere inclusive que Intervenção divina seria um representante do que chama de “Palestinian Road (Block) Movie” (DICKINSON, 2010, p. 147).
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
divina talvez enfatize a questão de modo mais brilhante) parece apontar para a necessidade da resistência, para a sua urgência, a sua importância, ainda que indique também seus limites – porque ela se dá no território simbólico, porque ela é efetuada através da ironia, porque é por demais inconsistente no plano efetivo da política mundial. Suleiman concluiu a trilogia com O que resta do tempo (2010),8 seu filme mais convencional, ao considerarmos os padrões do cinema narrativo. Trata-se da história da criação de Israel a partir do ponto de vista dos palestinos, em especial de Fuad Suleiman, pai do cineasta. Dividido vagamente em quatro episódios e subtitulado “Crônica de um presente ausente”, O que resta do tempo é simultaneamente um filme de época e um relato das memórias pessoais de Fuad (o filme foi inspirado pelos seus diários) – o passado – mescladas às lembranças e experiências do próprio Elia – o presente. Começa com uma espécie de prólogo no qual o indefectível E.S. pega um táxi no aeroporto em direção à casa dos pais. O que resta do tempo se apresenta então como um documento alternativo, como um exercício audiovisual de “história a contrapelo”. Tal exercício vai sendo realizado a partir da alternância da imbricação permanente entre a história coletiva e os relatos individuais, tanto os de E.S. e dos vários personagens secundários, como nos outros filmes, mas, no caso desta última peça da trilogia, sobretudo a história de Fuad. Em que pese sua estrutura menos elíptica, persiste ainda em O tempo que resta o uso insólito da tessitura do real para criar imagens potentes de indignação e revolta, permeadas de humor, ironia, melancolia e frustração quase que em igual medida. Tomemos por exemplo, uma das primeiras sequências: em 1948, o prefeito de Nazaré e um funcionário estão num automóvel com uma bandeira branca hasteada e um pequeno avião amarelo os persegue com movimentos que lembram a clássica cena de Intriga Internacional, de Alfred Hitchcock, talvez com uma tonalidade mais humorística, mais desastrada. O efeito é ambíguo, desorientador, traz certa graça e ao mesmo tempo uma leve tristeza, um desespero discreto, 8
Entre Intervenção divina e O que resta do tempo, Suleiman contribuiu com dos episódios do filme ônibus Cada um com seu cinema (2007), espécie de homenagem coletiva aos 60 anos do festival de Cannes. Em 2012, dirigiu um dos episódios de 7 Dias em Havana.
207
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
que de certo modo define a filmografia de Suleiman como um todo. O que, aliás, tem uma relação direta no modo através do qual é construído o personagem de Fuad. As reminiscências do filho desenham o pai como um misto de herói, revolucionário, galã (o ator que o interpreta é o belo Saleh Bakri), fumante inveterado, pai de família e vizinho atencioso. O mais central, porém, neste retrato é a dignidade e a humanidade com as quais Fuad lida com a brutalidade dos primeiros conflitos na criação de Israel, com as quais permanece na resistência durante décadas e com as quais desiste da luta na meia-idade. E se elas já estavam presentes nos outros filmes e outros personagens da trilogia, inclusive em E.S., neste último aparecem de maneira inequívoca, marcada, talvez porque o peso (pessoal e histórico) do personagem do pai contrasta com a taciturna e insuportável leveza de E.S., talvez porque o filme seja mais “maduro” esteticamente. Mas, se por um lado, ao concluir a trilogia, Suleiman tenha chegado a essa maior gravidade, a esse maior rigor formal (em alguma medida ajudado por financiamentos mais expressivos, pela possibilidade de realizar sequências e planos mais elaborados), é possível que também tenha perdido algo daquela urgência anárquica dos anteriores, tenha desistido de explodir tanques de guerra com sementes de damasco, de confrontar a polícia israelense com estranhos mambos latinos ou ninjas superpoderosas. Parece ser apenas uma questão de sobrevivência agora, como se entrevê e se ouve na cena final de O que resta do tempo, na qual apáticos pacientes de hospital esperam ao som de uma estranha versão de “Stayin’ Alive”. O mundo de Jia Zhang-Ke Tradicionalmente o cinema asiático tem sido um terreno fértil para a experimentação no realismo. Desde pelo menos o japonês Yasujiro Ozu que é impossível pensar o realismo fílmico sem em algum momento aludir ao cinema oriental e sem se debruçar sobre a própria obra de Ozu: Hou Hsiao-Hsien, por exemplo, principal figura da Nova Onda taiwanesa, realiza no Japão a tocante homenagem ao mestre japonês, Café Lumière (2003). Já o cineasta chinês Jia Zhang-Ke reverencia Ozu no seu texto “O 208
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
mundo se encontra sobre o tatame”, enxergando nele um padrão fílmico para o Oriente: “Au cours de son itineraire cinématographique, Ozu a fait éclore la beauté du cinéma japonais dont parlait Akira Kurosawa. Cette beauté est finalement devenue le modèle esthétique du cinéma oriental.”9 (JIA, 2012, p. 102). A emergência e ênfase no cotidiano que permeiam uma parcela considerável da filmografia asiática contemporânea só confirmam o legado do cineasta japonês, como desenvolve Denilson Lopes sobre o «efeito Ozu» no cinema contemporâneo: Na busca do cotidiano e do comum, apesar de e com todos os problemas, conflitos, confrontos que nos invadem, nos pesam, nos modificam, nos desafiam, é que Ozu aparece como ponto de partida. Um outro cotidiano, um outro comum não só dilacerado por violências, mas também e sobretudo por possibilidades de encontro, ao mesmo tempo concreto, material, corpóreo e atravessado, ainda que muitas vezes sutilmente, pelos fluxos informacionais e midiáticos. (LOPES, 2012, p. 94)
Contudo nem sempre essa influência se dá de modo muito direto, ou numa dimensão estritamente formal. O que talvez una Ozu a uma leva expressiva de diretores asiáticos desde o início da década de 1990 seja de fato o gosto pelos acontecimentos corriqueiros, o interesse pelas pequenezas da existência, um olhar contemplativo para o mundo, a tendência em mostrar a história a partir dos ângulos menos grandiosos, menos oficiais. Nesse sentido, da profusão de nomes asiáticos ligados a uma estética do cotidiano que se assomou nos festivais internacionais nas duas últimas décadas, o de Jia� tem uma especial ressonância: se na época dos seus primeiros filmes, Jia se beneficiou da enorme celebridade internacional de outros cineastas chineses como Wong Kar-wai, Ang Lee e Edward Yang, como aliás ele fez questão de reconhecer,� foi sua obra que deu conta da China contemporânea mais complexa9
“Ao longo de seu itinerário cinematográfico, Ozu trouxe à tona a beleza do cinema japonês da qual falava Akira Kurosawa. Essa beleza se tornou finalmente o modelo estético do cinema oriental.” (tradução nossa)
209
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
mente, em dimensões simultaneamente macrossociais e individuais, subjetivas. Persistentemente vinculado ao cinema independente e de arte, censurado no seu país no início da carreira, o cineasta revelou as transformações ocorridas na China nos últimos trinta anos sem recorrer a épicos históricos, minuciosas reconstruções de época ou ainda relatos diretos sobre acontecimentos reais. E ao mesmo tempo seus filmes são profundamente precisos no seu diagnóstico sobre o passado e presente chinês, apresentam em igual medida densidade histórica, sensibilidade subjetiva e apuro estético.
Fig. 13: Plataforma; fig.14: O Mundo; fig. 15: 24 City.
Depois de alguns curtas e do seu primeiro longa-metragem, Xiao Wu, o pickpocket (1998), Jia alcança uma enorme visibilidade com Plataforma (2000), filme de mais de duas horas e meia sobre uma trupe de músicos e dançarinos em Fenyang, província de Shanxi, terra natal do diretor no interior da China ao longo de quase três décadas. Plataforma chamou a atenção dos críticos e dos festivais pela desenvoltura com a qual o espaço e seus personagens são desenhados, pela maneira física como demonstra o passar do tempo (tanto o tempo real do próprio filme, como o tempo histórico). Nos mais de vinte anos que se desenrolam no filme, Jia vai captando a Revolução Cultural, a gradual abertura da China ao capitalismo, a passagem irremediável do maoismo ao consumismo, vendo suas marcas nas mudanças da paisagem, nas bocas de sino, nos aparelhos de som portáteis, nos acordes de sintetizador da canção pop Genghis Khan, apresentando a história como experiência viva, como um processo orgânico. Para compor essa história, Jia tece longos planos-sequências, com o som fora de campo exercendo um papel fundamental, e a absoluta predominância de planos abertos, de grandes distâncias e poucos closes, como se 210
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
enfatizando insistentemente o lugar do indivíduo e dos objetos no espaço, deixando os seus (não) atores mais livres para a interação com os outros e com o mundo. O que não quer dizer que o sujeito e os detalhes não tenham importância na sua visão de mundo. Antes seria o contrário, já que essa perspectiva os coloca permanentemente em atrito, em contato. Mas o mais fundamental é que tal estratégia serve para realçar o profundo senso de deslocamento no mundo, de perplexidade diante do contemporâneo, de alienação diante da história. Jonathan Rosenbaum, entre outros, vê no modo através do qual Jia posiciona suas figuras no espaço uma conexão com Antonioni: “Jia, with his choreographed wide-screen long takes in long shot, may be the best cinematic composer of figures in landscapes since Michelangelo Antonioni. And as with Antonioni, the disconnections count more than the connections.”10 (ROSENBAUM, 2005). Contudo, o filme que colocaria Jia na posição de grande diretor chinês contemporâneo seria o seu quarto longa-metragem, O mundo (2004), que também foi o seu primeiro filme a ser liberado pela censura na China. O que não deixa de ser levemente irônico, como também é irônico o fato de o próprio parque temático ter financiado parte do filme, que é uma avaliação ainda mais trágica sobre o presente chinês, que é um comentário ainda mais pessimista sobre o capitalismo tardio na China que seus filmes anteriores e, como bem indica a ambição do título, extensivo ao mundo inteiro. O mundo se passa num parque temático em Beijing, no qual reproduções em miniatura de pontos turísticos de todo o planeta podem ser visitados em algumas horas. E é um deleite para os olhos ver os travellings que nos levam das pirâmides do Egito ao Taj Mahal passando pela Torre Eiffel, Stonehenge, Manhattan (com as Torres Gêmeas do World Trade Center ainda de pé), Vaticano e Torre de Pisa; é um mistério depararmo-nos com as pequenas animações inseridas entre algumas sequências; é surpreendente vislumbrar a miríade de cores e brilhos (tecidos, luzes, estampas e figuras do mundo, objetos do mundo) oferecidas no filme – mais do que em qualquer outro do diretor. Porém é mais que um efeito visual ou um impacto imagético o que Jia pretende 10
“Jia, com seus grandes longos planos-sequência coreografados, talvez seja o melhor compositor cinemático de figuras na paisagem desde Michelangelo Antonioni. E como com Antonioni, as desconexões contam mais que as conexões.” (tradução nossa)
211
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
com seu sight seeing kitsch, com sua apoteose de consumo turístico, com sua evocação às grandes exposições do século XIX. Não à toa há esse descompasso de escala: as versões das maravilhas do mundo e dos monumentos da humanidade do parque de Beijing são ligeiramente menores que sua contraparte real, os humanos são de certo modo gigantes nesse mundo, seus dramas, alegrias e tristezas acabam sobressaindo no contraste com o artificial e espetacular cenário. Todavia, o statement mais enfático que Jia pretendeu com O mundo parece ser mesmo vinculado à noção do trabalho. Pois seus sujeitos são os trabalhadores do mundo (do parque em particular e do capitalismo transnacional em geral), um mundo desterritorializado, um mundo em mutação no qual a tecnologia ocupa um lugar preponderante (celulares, telas de cristal líquido, transportes ultramodernos). E interessa ao cinema de Jia sobretudo demonstrar o quão corrompidas e precárias são essas relações de trabalho: desde o sequestro dos passaportes das russas que vieram trabalhar no parque ao regime de semi-internato de todos os performers, dos refeitórios embolorados aos banheiros enferrujados, às fábricas onde operários produzem cópias de Armani, Gucci, Chanel e Prada em regime semiescravo. Tudo redunda numa espécie de distopia sufocante da qual não há muita escapatória, a não ser talvez o triste desfecho que espera a protagonista Tao (Tao Zhao, atriz de quase todos os filmes de Jia) e seu noivo Taisheng (Thaisheng Chen) ao final do filme. De certa maneira, esse entorno distópico abarca todos os filmes de Jia. Seja pelo atrito entre natureza e tecnologia, entre tradição e modernidade, entre a prosperidade e o subdesenvolvimento, entre a riqueza e a miséria que o ritmo frenético da industrialização da China trouxe em igual medida. Prazeres desconhecidos (2003), sobre três jovens descontentes numa cidade industrial de Shanxi; Em busca da vida (Natureza Morta seria mais próximo do sentido original) (2006), sobre uma cidade em vias de desaparição por causa de uma represa e pessoas à procura de cônjuges há muito desaparecidos; Inútil (2007), um documentário sobre a indústria da moda através do foco numa estilista: todos esses filmes se embrenham na China moderna para encontrar suas contradições, suas promessas e seus enganos. 212
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
Nos últimos anos, Jia tem tornado mais turvas as fronteiras entre o ficcional e o real, com a alternância de depoimentos verdadeiros e encenados, com a presença simultânea de atores e não atores em cena, algo que ao longo da sua carreira sem dúvida ele já vinha experimentando. Contudo, estes últimos filmes levam a crer que ele está desenvolvendo de modo mais elaborado o formato híbrido entre documentário e cinema narrativo, consolidando uma espécie de novo gênero – que não é nem mock documentary, nem apenas uma repetição dos primórdios do documentário (como Flaherty e Nanook, por exemplo), mas talvez a constatação de que as fronteiras entre uma coisa e outra nunca fizeram muito sentido mesmo e que é preciso avançar na exploração dos seus limites, realçando o que há de natural no artifício e o que há falso, de postiço no real (algo que, no Brasil, Eduardo Coutinho vem realizando também há várias décadas). Além de Inútil e do seu mais recente longametragem, Memórias de Xangai (2010), realizou o sublime 24 City (2008), sobre a transformação do que nos anos 1950 era uma fábrica secreta de aviões militares em indústria de bens de consumo nos anos 1970 e mais recentemente em condomínio privado em Chengdu, no Sudoeste da China. Compreendendo três gerações de personagens e misturando as memórias de personagens reais com relatos ficcionais, seu filme é sobre esses personagens, sobre a cidade, mas sobretudo sobre a China e sua entrada no capitalismo, sua corrida desenfreada para o desenvolvimento, sua tentativa de conciliação entre a tradição e o capital, entre a ordem e o consumo. À guisa de síntese Nos filmes narrativos mais tradicionais, os efeitos do real como que se constituem enquanto pequenos “luxos”, props, estratégias de imersão narrativa para reproduzir uma ilusão de realidade; nos filmes dos cineastas apresentados neste ensaio (que são cineastas muito diferentes entre si, mas que fazem parte de uma mesma cartografia do cinema mundial contemporâneo, quase poderíamos dizer de um mesmo universo afetivo), tais efeitos ocupam uma dimensão privilegiada, ou mesmo fazem parte 213
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
do real, e às vezes, de modo muito perturbador, acabam por miná-lo, por destituí-lo, reimaginá-lo e reconstruí-lo. Nos últimos anos, a própria discussão sobre o cotidiano, sobre o real e suas apropriações no cinema, tanto o de ficção, como o documentário, dá a impressão de uma superexposição, de um esgarçamento pelo excesso de uso. Por outro lado, e vários dos filmes mais recentes desses cineastas o demonstram exemplarmente, a sensibilidade do banal e as opções estéticas realistas ainda se constituem como uma sorte de resistência, de embate contra a banalização do espetáculo, contra o esvaziamento da imagem. Então, pareceu-nos profundamente necessário avaliar quais os impactos dessa estética de modo mais contundente. E se há um sem-número de cineastas e filmes relevantes (alguns até bem mais cruciais no sentido de um lugar periférico, de um lugar marginal no mundo, de um entrecruzamento de mundos) para entender como o cinema contemporâneo foi ressignificando o conceito de efeito de real, foi reproblematizando o próprio realismo, pensamos nessa e arbitrária pequena lista como parte intrigante, desafiadora e elucidativa, sem dúvida um pequeno detalhe, um plano bem fechado quiçá, na composição desse esboço de retrato do cinema mundial contemporâneo. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARTHES, Roland. O neutro. São Paulo: Martins Fontes, 2003. ____________. O rumor da língua. Lisboa: Edições 70, 1984. BELL, James. Nine Shots of Tindersticks, Sight and Sound, Maio de 2011, p. 18-19. BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo [Obras escolhidas III]. São Paulo: Brasiliense, 1989. CARROLL, Lewis. The complete works, Londres: Penguin, 1988. DABASHI, Hamid. In Praise of Frivolity: on the Cinema of Elia Suleiman. In: DABASHI, Hamid (org.). Dreams of a Nation. On Palestinian Cinema. Londres/ Nova York: Verso, 2006, p.131-161. DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 1990. ____________. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974.
214
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
DIAS, André. O destinatário que testemunha. Uma conversa com o crítico Adrian Martin, Ainda não começámos a pensar/We have yet to start thinking, 2009. Disponível em: http://aindanaocomecamos.blogspot.co.uk/2009/01/o-destinatrioque-testemunha-uma.html Acessado em: 09 de março de 2012. DICKINSON, Kay. The Palestinian Road Block Movie in IORDANOVA, Dina; FELDMAN, Ilana. A alteração como princípio (ou como a terceira margem do rio Alva), Cinética, julho de 2009. Disponível em: http://www.revistacinetica.com.br/ mesdeagostoilana.htm. Acessado em: 17/01/2013. FRENCH, Philip. Tabu, a review, The Observer, 9 de setembro de 2012. Disponível em: http://www.guardian.co.uk/film/2012/sep/09/tabu-review-french-portuguese. Acessado em: 22 de janeiro de 2013. MARTIN-JONES, David; VIDAL, Belén (org.). Cinema at the Periphery. Detroit: Wayne State University Press, 2010, p. 137-155. HUGUES, Darren. Rediscovering the Quotidian: José Luis Guerín’s Guest, Mubi, 15 de dezembro de 2010. Disponível em: http://mubi.com/notebook/posts/ rediscovering-the-quotidian-jose-luis-guerins-guest. Acessado em: 21/06/2012. JAMESON, Fredric. Signatures of the visible. Londres/New York: Routledge, 1992. JIA ZHANG-KE. Dits et écrits d’un cineaste chinois. 1996-2011. Paris: Capricci, 2012. KONSTANTARAKOS, Myrto. New Argentine Cinema. In: BADLEY, Linda; PALMER, R. Barton; SCHNEIDER, Steven Jay (eds.). Traditions in World Cinema. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2006. LOPES, Denilson. No coração do mundo. Paisagens transculturais. Rio de Janeiro: Rocco, 2012. McEWAN, Ian. When faith in fiction falters – and how it is restored. The Guardian, 16 de fevereiro de 2013. Disponível em: http://www.guardian.co.uk/books/2013/ feb/16/ian-mcewan-faith-fiction-falters. Acessado em: 16 de fevereiro de 2013. MASIELLO, Francine. El arte de la transición. Buenos Aires: Norma, 2001. MAYNE, Judith. Claire Denis. Urbana/Chicago: University of Illinois Press, 2005. NACIFY, Hamid. An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton: Princeton University Press, 2001. OLIVEIRA JR., Luiz Carlos Gonçalves de. O cinema de fluxo e a mise en scène. São Paulo: USP, 2010. Dissertação de mestrado. OLIVEIRA, Luís Miguel. Lágrimas de crocodilo. Ípsilon, 2012. Disponível em: http://ipsilon.publico.pt/cinema/filme.aspx?id=301730
215
retratos das margens. do terceiro cinema ao cinema periférico
RAMALHO, Fábio Allan Mendes. A cara que mereces. Dissenso, 2012. Disponível em: http://dissenso.wordpress.com/2012/02/23/a-cara-que-mereces-portugal-2004de-miguel-gomes/#comment-174 RANCIÈRE, Jacques. The Emancipated Spectator. London: Verso, 2009. ROSENBAUM, Jonathan. Unsatisfied Men: Beau Travail. Goodbye Cinema, Hello Cinephilia. Chicago/London: University of Chicago Press, 2010, p. 213-218. ____________. The World in a Beijing Theme Park. The Chicago reader, 29 de julho de 2005. Disponível em: http://www.jonathanrosenbaum.com/?p=5930 SANJURJO, Mariana. Derivas de la identidad em la filmografía de Martín Rejtman. In: MOORE, María José; WOLKOWICZ, Paula (orgs.). Cines al margen. Nuevos modos de representación en el cine argentino contemporáneo. Buenos Aires: Libraria, 2007, p. 137-150. SARLO, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. SCOTT, A. O. Remembrance of Passions (and Follies) Lost. Miguel Gomes’s “Tabu”. The New York Times, 26 de dezembro de 2012. SHOHAT, Ella. Taboo memories, diasporic voices. Durham: Duke University Press, 2006. WIGON, Zachary. The Pact: Miguel Gomes on Cinema and Tabu. Filmmaker Magazine, 2012. Disponível em: http://filmmakermagazine.com/61331-the-pactmiguel-gomes-on-cinema-and-tabu/
216


![Teoria contemporânea do cinema [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/teoria-contemporanea-do-cinema-2.jpg)

![Mikhalkov: cinema e ideologia frente ao desmoronamento soviético [1]](https://dokumen.pub/img/200x200/mikhalkov-cinema-e-ideologia-frente-ao-desmoronamento-sovietico-1.jpg)
![Os advogados vão ao cinema [1ª ed.]
9788520944028](https://dokumen.pub/img/200x200/os-advogados-vao-ao-cinema-1nbsped-9788520944028.jpg)