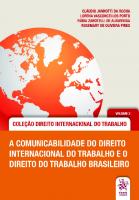Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentado pelos autores do anteprojeto (Volume 1) [10 ed.] 978-85-309-3558-0
Trata-se de obra consagrada, de marcante e frequente referência pelos operadores do Direito em matéria consumerista e em
1,141 159 48MB
Portuguese Pages 971 Year 2011
Polecaj historie
![Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentado pelos autores do anteprojeto (Volume 1) [10 ed.]
978-85-309-3558-0](https://dokumen.pub/img/200x200/codigo-brasileiro-de-defesa-do-consumidor-comentado-pelos-autores-do-anteprojeto-volume-1-10nbsped-978-85-309-3558-0.jpg)
- Author / Uploaded
- Ada Pellegrini Grinover
- Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin
- Daniel Roberto Fink
- José Geraldo Brito Filomeno
- Nelson Nery Junior e Zelmo Denari
- Categories
- Jurisprudence
- Law
Citation preview
G ru p o E ditoria l N a c io n a l
O
GEN | Grupo Editorial Nacional reúne as editoras Guanabara Koogan, Santos, LTC, Forense, Método e Forense Universitária, que publicam nas áreas científica, técnica e profissional.
Essas em presas, respeitadas no m ercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras que têm sido decisivas na form ação acadêm ica e no aperfeiçoam ento de várias gerações de profissionais e de estudantes de Adm inistração, Direito, Enferm agem, Engenharia, Fisioterapia, M edicina, O dontologia e m uitas outras ciências, tendo se tom ado sinônim o de seriedade e respeito. N ossa m issão é prover o m elhor conteúdo científico e distribuí-lo de m aneira flexível e conve niente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas. N osso com portam ento ético incondicional e nossa responsabilidade social e am biental são refor çados pela natureza educacional de nossa atividade, sem com prom eter o crescim ento contínuo e a rentabilidade do grupo.
CÓDIGO BRASILEIRO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
Co m entado
pelo s
Au t o r e s
do
A n t e p r o je t o
Ada Pellegrini Grinover Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin Daniel Roberto Fink José Geraldo Brito Filomeno Nelson Nery Junior Zelmo Denari
I
Volum e
DIREITO MATERIAL (Arts. l.o a 80 e 105 a 108)
10.a Edição
R evista, atualizada e reform ulada
E d itara
FORENSE Rio de Janeiro 2011
9.» edição - 2007 10.“ edição - 2011
© Copyright A da Pellegrini Grinover, Antônio H erm an de Vasconcellos e Benjam in, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filom eno, N elson N ery Junior e Zelm o Denari C1P - Brasil. Catalogação na Fonte. Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ. C61
Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto / Ada Pellegrini Grinover... [et al]. - 10. ed. revista, atualizada e reformulada - Rio de Janeiro: Forense, 2011, vol. I, Direito Material (arts. 1.° a 80 e 105 a 108). Inclui Bibliografia ISBN 978-85-309-3558-0 1. Brasil. [Código de Defesa do Consumidor (1990)]. 2. Defesa do consumidor - Brasil. 07-0804.
CDU: 34:366(81)(094.46)
O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998). Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de repro dução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98). A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição, aí compreendidas a impressão e a apresentação, a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo. Os vícios relacionados à atualização da obra, aos conceitos doutrinários, às concepções ideológicas e referências indevidas são de responsabilidade do autor e/ou atualizador. As reclamações devem ser feitas até noventa dias a partir da compra e venda com nota fiscal (interpretação do art. 26 da Lei n. 8.078, de 11.09.1990). Reservados os direitos de propriedade desta edição pela EDITORA FORENSE LTDA.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Endereço na Internet: http://www.forense.com.br - e-mail: [email protected] Travessa do Ouvidor, 11 - Térreo e 6" andar - 20040-040 - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (0XX21) 3543-0770 - Fax: (0XX21) 3543-0896 Impresso no Brasil Printed in Brazil
ÍNDICE GERAL I -
Nota dos autores à 10.a edição ........................................................... VII Nota da editora à 10.a edição .............................................................. IX Apresentação e estrutura da obra ...................................................... XI Prefácio à l.a edição........................................................................... XIII
- índice sistemático do Código de Defesa do Consumidor Volume I - Direito Material (Arts. 1.° a 80 e 105 a 108) .......... XV - INTRODUÇÃO (Ada Pellegrini Grinover e Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin) ......................................................................... I - Trabalhos de Elaboração - Anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor ........................................................................................ II - Visão geral do Código ...................................................................
1 1 4
- LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 - Código de De fesa do Consumidor - Comentado pelos Autores do Anteprojeto (Arts. 1.° a 80 e 105 a 108)......................................................................... 9 - Bibliografia ............................................................................................. 847 - Apêndice .................................................................................................. 865 Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 .......................................... 865 Decreto n° 2.181, de 20 de março de 1997 ....................................... 898 - índice Alfabético-Remissivo do Código de Defesa do Consumidor e microssistema dos processos coletivos........................................... 919
NOTA DOS AUTORES À 10.a EDIÇÃO I Inovando em relação às anteriores, nesta 10.a edição do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentado pelos Autores do Anteprojeto, os comentários foram divididos em dois volumes: o Volume I, dedicado ao direito material, e o Volume II, ao direito processual. Em relação aos processos individuais, são poucas as normas especiais, sendo a parte substancial do Volume II destinada ao estudo do minissistema brasileiro de processos coletivos, integrado pela Lei da Ação Civil Pública e pelas disposições processuais do Código de Defesa do Consumidor. A separação dos textos beneficia o consumidor, que poderá adquirir os dois volumes separadamente, de acordo com seus interesses e sua con veniência, e também a própria obra, por possibilitar maior visibilidade às disposições do minissistema brasileiro de processos coletivos, que ficavam de algum modo perdidas no volume único. A divisão atende, inclusive, à postura contemporânea que aponta para a existência de um verdadeiro direito processual coletivo, com princípios e institutos próprios, constituindo disciplina processual autônoma; e assume relevância no momento em que se apresenta à ribalta um novo projeto de lei sobre a ação civil pública (Projeto de Lei n° 5.139/2009, da Câmara dos Deputados), que pode retomar seu curso nesta legislatura. Na expectativa de que as alterações realizadas na estrutura atendam aos objetivos propostos, contamos com a apreciação do público em geral. Se alguma imperfeição permaneceu, pedimos à benevolência do leitor que a releve, certos de que serão compreendidos em seu intuito maior, que é o de fornecer ao público em geral, e especialmente aos operadores do Direito e aos estudantes, uma obra que permita entender melhor o Código de Defesa do Consumidor e torná-lo operante e eficaz na prática de todos os dias. OS AUTORES
NOTA DA EDITORA À 10.“ EDIÇÃO I Prezado leitor, Reputamos que esta obra, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentado pelos Autores do Anteprojeto, tomou-se emblemática bem como de marcante e frequente referência pelos operadores do Direito em matéria consumerista. Em razão da notável aceitação que a obra sempre teve perante o mercado, antes mesmo dos primeiros sinais do esgotamento da 9.a edição, convocamos os autores para que preparassem suas atualizações. Os professores Doutores Nelson Nery Junior e Min. Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin não puderam encarregar-se da atualização de seus textos, de modo que os Professores José Geraldo Brito Filomeno e Ada Pellegrini Grinover assumiram a tarefa, da qual se desincumbiram com competência e brilhantismo. Desta forma, o leitor, ao consultar os escritos dos professores doutores Nelson Nery Junior e Antônio Herman Vasconcelos e Benjamin, fica ciente de que as atualizações assim se deram: a) Os comentários aos artigos 29 a 45, de autoria do Dr. Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, foram atualizados pelo Prof. José Geraldo Brito Filomeno; b) Os comentários aos artigos 46 a 54, de autoria do Prof. Nelson Nery Junior, foram também atualizados pelo Prof. José Geraldo Brito Filomeno; c) Os comentários aos artigos 109 a 119, de autoria do Prof. Nelson Nery Junior, foram atualizados pela Profa. Ada Pellegrini Grinover. Boa leitura! Rio de Janeiro, março de 2011 A EDITORA
APRESENTAÇÃO I E ESTRUTURA DA OBRA I 1. Os autores dos comentários
Os autores dos comentários ora apresentados ao leitor foram os membros da comissão do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, nomeados por seu então presidente, Dr. Flávio Flores da Cunha Bierrenbach. Aos cinco membros - Ada Pellegrini Grinover, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe e Zelmo Denari - uniram-se, neste trabalho, os dois assessores que mais colaboraram para a elaboração do anteprojeto e que acompanharam sua evolução até a promulgação da lei: Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin e Nelson Nery Junior. Daí a afirmação de que esses comentários são escritos e apresentados pelos autores do Anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, compreendendo-se na expressão toda a sua evolução. 2. A repartição dos comentários entre seus autores
A matéria foi repartida de acordo com a participação de cada um na redação do Código. Embora o resultado final seja o produto de um trabalho conjunto, que contou com a colaboração de todos, foi possível destacar as partes em que foi maior o envolvimento de um ou outro. Assim sendo, a parte introdutória do Volume I desta obra foi redi gida por Ada Pellegrini Grinover e Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin; no Título I (“Dos Direitos do Consumidor”), couberam a José Geraldo Brito Filomeno os três primeiros capítulos (“Disposições Gerais”, “Da Política Nacional das Relações de Consumo” e “Dos Direitos Básicos do Consumidor”). Deste mesmo título, foram atribuídos aos comentários
CDC - Volume I
de Zelmo Denari os capítulos quarto e sétimo (“Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos Danos” e “Das Sanções Ad ministrativas”); a Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin o capítulo quinto (“Das Práticas Comerciais”), e a Nelson Nery Junior, o sexto (“Da Proteção Contratual”). O Título II (“Das Infrações Penais”) coube por in teiro a José Geraldo Brito Filomeno. Finalmente, considerando a estrutura adotada a partir da 10.a edição, que traz no Volume I as normas materiais de Direito do Consumidor, e no Volume II as normas do microssistema de processos coletivos, os Títulos IV e V (“Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor” e “Da Convenção Coletiva de Consumo”), atribuídos a Daniel Roberto Fink, passaram a integrar o Volume I, apenas nesse ponto deixando-se de seguir a ordem dos artigos do Código de Defesa do Con sumidor. No volume II da obra, o Título III (“Da Defesa do Consumidor em Juízo”) foi dividido entre Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover, ficando com aquele os capítulos primeiro e terceiro (“Disposições Gerais” e “Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços”), e com esta os capítulos segundo e quarto (“Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos” e “Da Coisa Julgada”); e, finalmente, o Título VI (“Disposições Finais”) foi atribuído a Nelson Nery Junior. O leitor encontrará no início de cada título e capítulo os nomes dos autores dos comentários e atualizadores, quando houver.
3. Técnica e objetivos dos comentários
Antes dos comentários aos artigos do Código, o leitor encontrará obser vações introdutórias a cada título e capítulo. A numeração dos comentários é feita de acordo com a chamada existente em cada artigo, para possibili tar o imediato relacionamento do conteúdo do artigo com seu respectivo comentário. Entendeu-se oportuno comentar também os artigos vetados, para evidenciar o real alcance do veto, frequentemente superado pela in terpretação sistemática do Código ou pela existência de outros dispositivos que cuidam da mesma matéria e que permaneceram intactos. Sem fugir ao rigor científico da ciência jurídica conceituai, os autores dos comentários pretenderam escrever obra que também preenchesse as suas finalidades práticas. Esperam, ainda, ter conseguido imprimir aos comentários uma visão unívoca e uma certa uniformidade, buscadas pela revisão conjunta do texto.
XII
PREFÁCIO À l.a EDIÇÃO I Minha presença no pórtico deste livro tem uma explicação. É que a sua gênese se prende à iniciativa do Conselho de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, no sentido de ser elaborado projeto de lei que dispusesse sobre a defesa do consumidor. Os autores do livro são os autores do projeto de lei que veio a ser elaborado, submetido ao Congresso Nacio nal e convertido em lei. Seus nomes me foram sugeridos pelo presidente do Conselho, Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, antigo representante de São Paulo na Câmara dos Deputados. Os juristas convidados prontamente anuíram em prestar esse serviço ao País e o fizeram de maneira exemplar. O Diário Oficial de 4 de janeiro de 1989 estampava o anteprojeto já enri quecido pela crítica dos componentes em sucessivas ocasiões. Pouco depois, eu deixava o Ministério da Justiça, mas os trabalhos da comissão presidida pela professora Ada Pellegrini Grinover não se inter romperam, antes prosseguiram com igual intensidade e se prolongaram durante a tramitação parlamentar. Pode-se dizer, sem favor, que desde a primeira formulação, ainda no Ministério da Justiça, até a promulgação da Lei n° 8.078, em 11 de setembro de 1990, a comissão, designada em 1988, não cessou de funcionar e, com desvelo, cuidou de fazer com que seu trabalho fosse o menos imperfeito e mais útil à sociedade brasileira. Depreendendo-se de seus autores com a promulgação da lei, nem por isso se deram eles por desobrigados. Entenderam que lhes cabia ainda expô-la em todos os seus aspectos, desde a inspiração que modelou o sistema adotado, até as suas disposições mais miúdas, em uma palavra, fazer-lhe a exegese completa e exaustiva, de maneira a facilitar sua aplicação em todos os termos e propósitos, com a pretensão de garantir a prevalência do seu pensamento original. Por isto, este livro não é apenas um livro de ciência. Também é um livro de amor. O amor, mais do que a ciência, assegura a fidelidade aos princípios norteadores da lei, intensamente vividos por seus autores - autores do livro e autores da lei. Essa relação doutrinária e afetiva assegura a esta
CD C - Volume I
obra uma situação singular em relação a quantas forem escritas a respeito da importante inovação legislativa, que, após a Resolução n° 39/248, de 9 de abril de 1985, da Assembleia-Geral da ONU e depois das leis editadas na Espanha, em Portugal, no México, em Quebec, na Alemanha, nos Estados Unidos, se tomara evidente que entre nós não poderia tardar. A própria Constituição dela fez menção, inserindo entre os direitos individuais esta norma: “O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor”, art. 5o, XXXII. E não ficou nisso. Determinou noutro passo que “o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Cons tituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor”, art. 48, do ADCT. Agora começa, em verdade, a verdadeira vida da lei. Ela se encarregará de mostrar os seus acertos e, quiçá, suas imperfeições. A jurisprudência exer cerá o papel de acrisolar os textos, em confronto com a realidade social. A doutrina cumprirá o ofício de esclarecer e apurar conceitos e preceitos. A mim compete agradecer duas vezes aos autores deste livro, que há de marcar época no tratamento do tema relevante: a impagável colaboração que me deram quando Ministro da Justiça, bem como a honra de escrever para ele esta página inaugural. Brasília, junho de 1991 PAULO BROSSARD
XIV
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Comentado pelos Autores do Anteprojeto INTRODUÇÃO Ada Pellegrini Grinover e Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin... I - TRABALHOS DE ELABORAÇÃO - Anteprojeto de Código de Defesa do Consum idor........................................................................ 1. Escorço histórico...................................................................................... 2. Os vetos presidenciais............................................................................ II - VISÃO GERAL DO CÓDIGO ...................................................... 1. A necessidade de tutela legal do consumidor................................... 2. O modelo intervencionista estatal........................................................ 3. A base constitucional do Código......................................................... 4. Código ou lei?.......................................................................................... 5. A importância da codificação............................................................... 6. As fontes de inspiração........................................................................... 7. Estrutura básica do Código..................................................................
1 1 1 2 4 4 5 6 6 7 7 8
LEI N* 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 Título I - DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR José Geraldo Brito Filomeno............................................................................ 9 1. Código do Consumidor: uma filosofia de ação antes de tudo 9
CD C - Volume I
2. Desfazimento de mitos e direitos básicos......................................... 10 3. Microssistema jurídico de caráter inter e multidisciplinar 11 4. Consumo sustentável............................................................................. 12 Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS José Geraldo Brito Filomeno............................................................................ Art. Io.......................................................................................................... Art. 2o.......................................................................................................... Art. 3o.......................................................................................................... [1] Fundamento constitucional................................................................... [2] Conceito de consumidor ....................................................................... [3] A coletividade de consumidores ......................................................... [4] Conceito de fornecedor ......................................................................... [5] Produto como objeto das relações de consumo .............................. [6] Serviços como objeto das relações de consum o.............................. [7] Relações locatícias................................................................................... [8] Relações trabalhistas.............................................................................. Capítulo II - DA POLÍTICA NACIONAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO José Geraldo Brito Filomeno............................................................................ A rt 4o............................................................................................................ [1] Política nacional de relações de consumo ........................................ [2] Vulnerabilidade do consum idor.......................................................... [3] Ação governamental.............................................................................. [4] Harmonização dos interesses dos consumidores e fornecedores .. [5] Educação e informação ......................................................................... [6] Controle de qualidade e mecanismos de atendimento pelas pró prias empresas ......................................................................................... [7] Conflitos de consumo e juízo arbitrai ............................................... [8] Coibição e repressão de abusos no mercado ................................... [9] Racionalização e melhoria dos serviços públicos............................ [10] Estudo das modificações do mercado ............................................. XVI
13 13 13 13 13 23 42 47 51 52 64 66
71 71 72 73 74 79 86 89 91 100 110 118
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Art. 5o........................................................................................................ [1] Instrumentos para execução da política nacional das relações de consumo: a assistência jurídica integral........................................... [2] Promotorias de justiça de defesa do consumidor .......................... [3] Delegacias especializadas..................................................................... [4] Juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas .... [5] Associações de consumidores............................................................. [6] Órgãos de atendimento da União, Estados, Distrito Federal e Municípios ............................................................................................. [7] Fiscalização de preços pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios .............................................................................................
119 119 123 133 134 139 141 142
Capítulo III - DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR José Geraldo Brito Filomeno........................................................................ 145 A rt 6o........................................................................................................ 145 [1] Direitos do consum idor....................................................................... 146 [2] Proteção da vida, saúde e segurança ................................................ 153 [3] Educação do consum idor.................................................................... 153 [4] Informação sobre produtos e serviços.............................................. 154 [5] Publicidade enganosa e abusiva, práticas comerciais condenáveis . 155 [6] Cláusulas contratuais abusivas ........................................................... 155 [7 e 8] Prevenção e reparação de danos individuais e coletivos e acesso à justiça............................................................................................ 156 [9] A inversão do ônus da prova ............................................................. 157 [9a] Verossimilhança .................................................................................. 162 [9b] Hipossuficiência .................................................................................. 164 [10] Participação dos consumidores na formulação de políticas que os afetem ............................................................................................... 167 [11] Prestação de serviços públicos ......................................................... 168 Art. 7o........................................................................................................ [1] Fontes dos direitos do consum idor................................................... [2] Regulamentação do Código do C onsum idor................................. [3] Solidariedade em face dos danos infligidos ....................................
172 173 176 176 XVII
CD C - Volume I
Capítulo IV - DA QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS, DA PREVENÇÃO E DA REPARAÇÃO DOS DANOS Zelmo Denari................................................................................................ 179 Seção I - Da proteção à saúde e segurança................................................179 1. A saúde e a segurança dos consumidores...................................... 179 Art. 8o........................................................................................................ 182 [1] Riscos à saúde e segurança................................................................. 182 [2] Deveres do fabricante .......................................................................... 183 Art. 9o........................................................................................................ 184 [1] Nocividade e periculosidade............................................................... 184 [2] Natureza da informação ...................................................................... 185 A rt 10........................................................................................................ 186 [1] Alto grau de nocividade ou periculosidade.................................... 186 [2] Nocividade futura ................................................................................. 187 [3] Divulgação.............................................................................................. 188 A rt 11. Vetado........................................................................................ 188 Seção II - Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço 1. Relação de consumo e de responsabilidade.................................... 2. Modelos de responsabilidade............................................................. 3. Responsabilidade por danos.............................................................. 4. Responsabilidade objetiva................................................................... A rt 12 ...................................................................................................... [1] Responsáveis .......................................................................................... [2] Responsabilidade e seus elementos ................................................... [3] Tipologia dos defeitos.......................................................................... [4] Produtos defeituosos ............................................................................ [5] Riscos de desenvolvimento ................................................................. [6] Inovações tecnológicas......................................................................... [7] Causas excludentes ............................................................................... [8] Caso fortuito e força maior ................................................................ XVIII
189 189 190 193 194 196 196 198 199 201 201 203 203 206
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A rt 13 ...................................................................................................... [1] Responsabilidade do comerciante...................................................... [2] Direito de regresso ............................................................................... Art. 14........................................................................................................ [1] Danos no fornecimento de serviços ............................................... [2] Serviço defeituoso................................................................................. [3] Responsabilidade objetiva ecausas excludentes ............................ [4] Serviços públicos................................................................................... [5] Profissionais liberais ............................................................................. Art. 15. V etado...................................................................................... Art. 16. V etado...................................................................................... Art. 17........................................................................................................ [1] Propagação do d an o ............................................................................
207 207 208 209 209 210 211 212 213 215 215 216 216
Seção III - Da responsabilidade por vício do produto e do serviço 1. Responsabilidade por vício.............................................................. Art. 18........................................................................................................ [1] Sujeição passiva..................................................................................... [2] Vício de qualidade ................................................................................ [3] A disciplina das sanções...................................................................... [4] Redução ou ampliação do prazo de saneamento ............................ [5] Imediatização das reparações ............................................................. [6] Produtos in natura ............................................................................... Art. 19........................................................................................................ [1] Vícios de quantidade............................................................................ [2] Sanções alternativas.............................................................................. Art. 20........................................................................................................ [1] Vícios do serviço................................................................................... [2] Serviços e danos morais ...................................................................... [3] Reexecução por terceiros.....................................................................
217 217 221 222 223 224 225 226 227 227 228 229 229 230 230 231 XIX
CD C - Volume I
Art. 21........................................................................................................ [1] Consertos e reparações ........................................................................ Art. 22........................................................................................................ [1] Responsabilidade do Poder Público .................................................. [2] Continuidade dos serviços.................................................................. [3] Falta do serviço público ...................................................................... [4] Teoria do risco ...................................................................................... [5] Causas excludentes ............................................................................... A rt 23........................................................................................................ [1] Ignorância dos vícios .......................................................................... Art. 24........................................................................................................ [1] Garantia de boa qualidade................................................................. Art. 25........................................................................................................ [1] Cláusulas de exoneração...................................................................... [2] Responsáveis solidários........................................................................
231 232 232 232 232 235 235 237 237 237 237 237 238 238 238
Seção IV - Da decadência e da prescrição............................................. 1. Direitos subjetivos: noção.................................................................. 2. A decadência e a prescrição.............................................................. 3. Decadência na construção civil......................................................... Art. 26........................................................................................................ [1] Alcance terminológico ......................................................................... [2] Prazos decadenciais .............................................................................. [3] Termo inicial de decadência............................................................... [4] Vícios ocultos e decadência ................................................................ [5] Causas obstativas .................................................................................. [6] Inteligência do veto .............................................................................. Art. 27........................................................................................................ [1] Responsabilidade por danos e prescrição ........................................ [2] Suspensão da prescrição ......................................................................
239 239 240 241 243 244 244 244 245 246 247 247 248 250
Seção V - Da desconsideração da personalidade jurídica..................... 250 1. Antecedentes doutrinários................................................................ 250 xx
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
2. Antecedentes legislativos..................................................................... 3. Considerações finais............................................................................ Art. 28........................................................................................................ [1] Hipóteses materiais de incidência ..................................................... [2] Pressupostos inéditos ........................................................................... [3] Faculdade do ju iz .................................................................................. [4] Legitimidade passiva ............................................................................ [5] Agrupamentos societários ................................................................... [6] Sociedades consorciadas ...................................................................... [7] Sociedades coligadas ............................................................................ [8] Reexame do § 5o ................................................................................... Capítulo V - DAS PRÁTICAS COMERCIAIS Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin.......................................... 1. As fontes deste capítulo...................................................................... 2. O conceito de práticas comerciais.................................................... 3. A importância das práticas comerciais na sociedade de consumo... 4. Práticas comerciais e marketing........................................................ 5. O conceito de marketing..................................................................... 6. As diversas manifestações do marketing......................................... 7. As duas faces principais do marketing: a publicidade e as pro moções de vendas................................................................................ 8. O marketing no Código de Defesa do Consumidor..................... 9. Três momentos obrigacionais do marketing no CDC.................. 10. O desafio: compatibilizar marketing e defesa do consumidor.. 11. As práticas comerciais, o marketing e a publicidade................. Seção I - Das disposições gerais................................................................. Art. 29........................................................................................................ [1] O código e seus múltiplos conceitos de consumidor ................... [2] Um conceito exclusivo de consumidor para as práticas comer ciais .......................................................................................................... [3] A suficiência da exposição..................................................................
251 252 253 253 254 254 254 255 255 256 256 259 259 259 262 263 264 265 266 266 268 268 270 271 271 271 271 272
Seção II - Da oferta.......................................................................................272 1. Oferta e marketing............................................................................. 272 XXI
CD C - Volume I
Art. 30........................................................................................................ 274 [1] A origem do dispositivo..................................................................... 274 [2] O princípio da vinculação ................................................................. 274 [3] O pressuposto da veiculação ............................................................. 276 [4] O pressuposto da precisão da inform ação...................................... 276 [5] A responsabilidade do fornecedor.................................................... 277 [6] Fundamentos econômicos e jurídicos da responsabilidade civil em matéria publicitária ....................................................................... 277 [7] Da oferta clássica à oferta publicitária ............................................. 280 [8] O formalismo da oferta no direito tradicional .............................. 281 [9] A força obrigatória da oferta no direito tradicional ...................... 282 [10] Bases do novo paradigma da oferta publicitária .......................... 284 [11] Inaplicabilidade do art 429 do Novo Código Civil às relações de consum o........................................................................................... 286 Art. 31........................................................................................................ 288 [1] Dois tipos básicos de inform ação...................................................... 288 [2] O dever de informar ........................................................................... 289 [3] O caráter enumerativo do dispositivo ............................................. 291 [4] A informação em português.............................................................. 292 [5] Os dados integrantes do dever de inform ar.................................... 293 [6] As embalagens e rotulagem ................................................................ 293 [7] O destinatário da n o rm a..................................................................... 293 [8] Preço e código de barras..................................................................... 295 [9] Informações nos produtos refrigerados............................................ 295 Art. 32........................................................................................................ 296 [1] O dever de fornecimento de peças de reposição enquanto durar a fabricação do produto ...................................................................... 297 [2] O dever de fornecimento de peças de reposição após o encerra mento da fabricação do produto ....................................................... 297 Art. 33........................................................................................................ 297 [1] O fornecimento por telefone ou reembolso postal ....................... 297 [2] A vulnerabilidade especial do consumidor na oferta telefônica ou por reembolso ....................................................................................... 297 [3] Fornecimento pela internet................................................................. 298 [4] Chamada onerosa ao consum idor..................................................... 298 XXII
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Art. 34........................................................................................................ 299 [1] A responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos dos prepostos ...................................................................................................... 299 [2] A isenção contratual ............................................................................ 299 Art. 35........................................................................................................ 299 [1] Recusa de cumprimento da oferta ..................................................... 300 [2] Os sujeitos responsáveis .................................................................. 302 [3] A enganosidade ..................................................................................... 303 [4] Recusa de cumprimento sob o argumento de equívoco no anún cio ............................................................................................................ 304 [4.1] A fonte da vinculação contratual é a declaração publicitária, e não a vontade publicitária ............................................................... 305 [4.2] A publicidade é negócio jurídico unidirecional, destituído de qualquer negociação e sob controle exclusivo do anunciante ... 307 [4.3] Se os benefícios econômicos principais da publicidade são do anunciante, a assunção de seus riscos também com ele deve ficar........................................................................................................ 307 [4.4] A teoria do erro tem aplicação reduzida no direito do consu midor .................................................................................................... 309 [4.5] No regime geral do direito do consumidor, o equívoco inocente não exime a responsabilidade civil do fornecedor...................... 310 [4.6] Só o anunciante tem os meios contratuais para acionar a agência e o veículo............................................................................................ 311 [4.7] Liberalidades em matéria de preço, principalmente em economias inflacionárias, são comuns no mercado ......................................... 312 [5] Irretratabilidade da oferta publicitária.............................................. 313 Seção III - Da publicidade........................................................................ 1. A importância da publicidade........................................................... 2. Dever de informar e publicidade...................................................... 3. Publicidade e controle......................................................................... 3.1. O sistema exclusivamente estatal.............................................. 3.2. O sistema exclusivamente privado........................................... 3.3. O sistema misto............................................................................. 4. Publicidade, controle legal e garantias constitucionais................ 5. O conceito de publicidade.................................................................
316 316 317 318 318 319 320 320 322 XXIII
CDC - Volume I
6. Publicidade x propaganda.................................................................. 7. Os diversos tipos de publicidade: institucional e promocional.. 8. Patrocínio ............................................................................................. 9. Os dois grandes momentos de uma campanha publicitária 10. Entendendo a gênese de uma criação publicitária..................... 10.1. A criação publicitária................................................................. 10.2. Análise da criação publicitária................................................. 10.2.1. O briefing......................................................................... 10.2.2. A reflexão estratégica..................................................... 10.2.3. A criação propriamente dita......................................... 11. Da criação à produção...................................................................... 12. A necessidade de um novo tratamento jurídico para a publi cidade brasileira................................................................................. 13. A situação anterior ao Código de Defesa do Consumidor 14. O controle da publicidade no Código de Defesa do Consumi d o r........................................................................................................ 15. Influência estrangeira no Código.................................................... 16. A regulamentação legal da publicidade no Código: civil, ad ministrativa e penal........................................................................... 17. Os princípios gerais adotados pelo Código................................. 17.1. O princípio da identificação da publicidade................. 17.2. O princípio da vinculação contratual da publicidade 17.3. O princípio da veracidade da publicidade................... 17.4. O princípio da não abusividade da publicidade.......... 17.5. O princípio da inversão do ônus da prova.................. 17.6. Princípio da transparência da fundamentação da publi cidade......................................................................................... 17.7. Princípio da correção dodesviopublicitário....................... 17.8. Princípio da lealdadepublicitária.......................................... 18. A regulamentação penal da publicidade...................................... Art. 36........................................................................................................ [1] A origem do dispositivo...................................................................... [2] O princípio da identificação da publicidade ................................... [2.1] O merchandising................................................................................. [2.2] O teaser................................................................................................ XXIV
324 325 326 326 326 326 327 327 328 328 329 329 330 331 332 332 333 333 333 334 334 334 334 335 335 336 336 336 337 338 339
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
[3] O princípio da transparência da fundamentação ......................... 339 Art. 37........................................................................................................ 341 [1] A origem do dispositivo...................................................................... 342 [2] A proibição da publicidade enganosa e abusiva............................ 342 [3] A publicidade enganosa....................................................................... 343 [3.1] Os diversos tipos de publicidade enganosa................................. 345 [3.2] O elemento subjetivo ........................................................................ 345 [3.3] Capacidade de enganar e erro real ................................................ 346 [3.4] O consumidor desinformado e ignorante é protegido.............. 347 [3.5] Os consumidores mais frágeis são especialmentetutelados 348 [3.6] A impressão to ta l............................................................................... 348 [3.7] A publicidade enganosa comissiva................................................. 349 [3.7.1] O exagero publicitário ................................................................... 349 [3.7.2] O anúncio ambíguo ....................................................................... 350 [3.7.3] Alegações expressas e alegações im plícitas............................... 351 [3.8] A publicidade enganosa por omissão ........................................... 351 [3.8.1] O conceito de dado essencial....................................................... 352 [3.8.2] Alguns exemplos concretos .......................................................... 352 [3.8.3] As demonstrações sim uladas........................................................ 353 [3.8.4] A língua portuguesa....................................................................... 353 [4] A publicidade abusiva.......................................................................... 354 [4.1] O conceito de publicidade abusiva ................................................ 355 [4.2] Alguns exemplos de publicidade abusiva...................................... 356 [4.2.1] A publicidade discriminatória.................................................... 356 [4.2.2] A publicidade exploradora do medo ou superstição............. 356 [4.2.3] A publicidade incitadora de violência...................................... 357 [4.2.4] A publicidade antiambiental....................................................... 357 [4.2.5] A publicidade indutora de insegurança ................................... 357 [4.2.6] A publicidade dirigida aos hipossuficientes ............................ 357 [4.2.7] Publicidade abusiva por correio eletrônico ............................... 359 [5] A questão da publicidade comparativa ........................................... 361 [6] Controle da publicidade de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias ..................................................................... 362 [6.1] Fundamentos constitucionais do controle ................................... 362 xxv
CDC - Volume I
[6.2] Liberdade e abuso na publicidadede tabaco ................................ [6.3] A Lei Murad ....................................................................................... [6.4] A Lei S erra.......................................................................................... [6.5] Controle tríplice da adequação legal da publicidade de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e medicamentos ........................ [6.6] Regra geral de restrição da forma de comunicação na publici dade de tabaco ................................................................................... [6.7] Limites de conteúdo na publicidadede tabaco ............................ [6.8] A publicidade de estilo de vida ...................................................... [6.9] Outras proibições............................................................................... [6.10] Patrocínio de atividade cultural ou esportiva ............................ [6.11] Sanções administrativas.................................................................. [7] A responsabilidade civil da agência, do veículo e da celebridade .. [8] A contrapropaganda ............................................................................. Art. 38........................................................................................................ [1] A inversão do ônus da prova na publicidade ................................. [2] A fonte do dispositivo ......................................................................... [3] A extensão da inversão........................................................................ [4] Outras hipóteses de inversão do ônus da prova em matéria pu blicitária .................................................................................................. [5] Desnecessidade de declaração judicial da inversão....................... [6] O decreto regulamentador .................................................................. [7] Conteúdo da inversão ..........................................................................
363 364 365 365 366 366 367 368 368 368 369 370 371 371 372 372 373 373 373 374
Seção IV - Das práticas abusivas.................................................................374 1. As práticas abusivas no Código........................................................ 374 2. O conceito de prática abusiva........................................................... 374 3. Classificação.......................................................................................... 376 4. A impossibilidade de exaustão legislativa...................................... 376 5. As sanções............................................................................................. 377 Art. 39........................................................................................................ 378 [1] O elenco exemplificativo das práticas abusivas............................. 379 [1.1] Corte de energia e água ................................................................... 380 [1.2] Circulação e uso não autorizados de informações prestadas por consumidores...................................................................................... 380 XXVI
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
[2] Condicionamento do fornecimento de produto ou serviço ........ [3] Recusa de atendimento à demanda do consum idor..................... [4] Fornecimento não solicitado .............................................................. [5] O aproveitamento da hipossuficiência do consumidor ................ [6] A exigência de vantagem excessiva ................................................... [7] Serviços sem orçamento e autorização do consumidor ................ [8] Divulgação de informações negativas sobre o consum idor [9] Produtos ou serviços em desacordo com as normas técnicas .... [9.1] A normalização .................................................................................. [9.2] Normalização e regulamentação ..................................................... [9.3] A norma .............................................................................................. [9.4] A obrigatoriedade da norma ........................................................... [9.5] A atividade de controle .................................................................... [9.6] O sistema brasileiro de normalização........................................... [9.7] A associação brasileira de normas técnicas................................. [9.8] O SINMETRO, o CONMETRO e o INMETRO ........................ [9.9] Os diversos tipos de normas brasileiras........................................ [10] Recusa de venda direta...................................................................... [11] Elevação de preço sem justa causa ................................................. [12] Reajuste diverso do previsto em lei ou no contrato ................... [13] A inexistência ou deficiência de prazo para cumprimento da obrigação .............................................................................................. Art. 40........................................................................................................ [1] A falta de orçamento como prática abusiva.................................... [2] A exigência de orçamento prévio ...................................................... [3] A validade da proposta de preço....................................................... [4] O orçamento como verdadeiro contrato .......................................... [5] Os serviços de terceiro ........................................................................ Art. 41........................................................................................................ [1] O tabelamento de preços .................................................................... [2] As opções do consumidor ..................................................................
382 383 383 384 384 384 385 385 386 388 389 390 390 391 391 391 393 393 393 394 394 395 395 395 396 396 396 396 396 396
Seção V - Da cobrança de dívidas...............................................................397 Art. 42 ...................................................................................................... 397 XXVII
CDC - Volume I
Art. 42-A .................................................................................................. 397 [1] A fonte de inspiração da seção .......................................................... 397 [2] A cobrança de dívidas de consumo .................................................. 398 [3] O objeto do dispositivo ....................................................................... 399 [4] Os contatos do credor com terceiros................................................ 400 [5] As práticas proibidas ............................................................................ 400 [5.1] As proibições absolutas .................................................................... 401 [5.1.1] A am eaça.......................................................................................... 401 [5.1.2] A coação e o constrangimento físico ou moral ....................... 401 [5.1.3] O emprego de afirmações falsas, incorretas ou enganosas .... 402 [5.2] As proibições relativas .................................................................... 403 [5.2.1] A exposição do consumidor a ridículo ...................................... 403 [5.2.2] A interferência no trabalho, descanso ou la zer....................... 403 [6] As perdas e danos ................................................................................ 404 [7] As sanções administrativas ................................................................. 405 [8] As sanções penais ................................................................................. 405 [9] A repetição do indébito....................................................................... 406 [9.1] O regime do Código Civil ............................................................... 406 [9.2] Pressupostos da sanção no regime do CDC ............................... 407 [9.2.1] O pressuposto da cobrança de dívida ........................................ 407 [9.2.2] O pressuposto da extrajudicialidade da cobrança................... 408 [9.2.3] O pressuposto da qualidade de consumo da dívida cobrada .... 410 [9.3] A suficiência de culpa para a aplicação da sanção ..................... 410 [9.4] Cobrança indevida por uso de cláusulas ou critérios abusivos .. 411 [9.5] Os juros e a correção monetária .................................................... 411 [9.6] O valor da sanção ............................................................................. 412 [10] Identificação do fornecedor .............................................................. 412
XXVIII
Seção VI - Dos bancos de dados e cadastros de consumidores
414
Art. 43........................................................................................................ [1] Fontes de inspiração desta seção ....................................................... [2] Evolução histórica e organização dos bancos de dados brasilei ros ............................................................................................................ [3] Duas questões teóricas prévias...........................................................
414 414 416 417
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
[4] Direitos constitucionais do cidadão e o caráter invasivo dos arquivos de consumo ........................................................................... [5] Arquivos sobre consumidores e sociedade de consum o.............. [6] Necessidade de controle dos arquivos de consum o....................... [7] Natureza jurídica dos arquivos de consumo ................................... [8] Venda de cadastros de consumidores e práticas abusivas ........... [9] Antinomia entre regulação privada e estatal dos bancos de dados. Prevalência das normas constitucionais e legais em detrimento dos estatutos de caráter autorregulamentar e contratual ............. [10] Irrelevância, para fins de controle, da origem oficial das infor mações coletadas .................................................................................. [10.1] Limitações legais à coleta de dados ............................................. [10.2] Medidas judiciais e administrativas adotadas ............................ [11] Modalidades de arquivos de consumo disciplinadas pelo CDC ... [12] Pressupostos de legitimidade dos arquivos de consumo ........... [12.1] O pressuposto teleológico .............................................................. [12.2] Pressupostos substantivos .............................................................. [12.2.1] Inquestionamento do débito e registro .................................... [12.2.2] O tipo de informação arquivada ............................................... [12.3] Pressupostos procedimentais ........................................................ [12.3.1] Acessibilidade limitada ................................................................ [12.3.2] Linguagem dos arquivos de consumo ...................................... [12.3.2.1] Direito à informação veraz...................................................... [12.3.2.2] Direito à informação objetiva ................................................. [12.3.2.3] Direito à informação clara....................................................... [12.3.2.4] Direito à informação de fácil compreensão ........................ [12.4] Pressupostos tem porais................................................................... [12.4.1] Fundamentos para a tutela temporal do devedor ................. [12.4.2] A vida útil da informação .......................................................... [12.4.3] Prazo genérico de cinco anos .................................................... [12.4.4] O prazo específico da ação de cobrança................................. [12.4.4.1] Prescrição da ação de cobrança.............................................. [12.4.4.2] Prescrição da ação cam biária.................................................. [12.4.4.3] Prescrição vintenária: uma questão superada..................... [12.4.5] Destinatário da norma do art. 43, § 5o ....................................
419 421 430 432 434 434 435 438 440 443 447 448 451 452 456 458 458 459 460 460 460 460 461 461 463 463 464 465 466 467 469 XXIX
CDC - Volume I
[12.4.6] Expurgo de dados inviabilizadores do crédito. Conceito de informação negativa explícita e implícita ............................... 469 [12.4.7] Termo inicial do prazo................................................................ 471 [12.4.8] Efeitos jurídicos do decurso do prazo .................................... 472 [13] Direitos básicos do consumidor objeto de arquivo ..................... 472 [13.1] Direito de comunicação do assento ............................................. 474 [13.1.1] Caracterização do direito ............................................................ 474 [13.1.2] O sentido do vocábulo ‘abertura” ............................................ 476 [13.1.3] Dever que não abriga exceções ................................................ 477 [13.1.4] Momento da comunicação ....................................................... 478 [13.1.5] Forma de comunicação ao consum idor................................. 479 [13.1.6] Conteúdo da comunicação ....................................................... 480 [13.1.7] Responsáveis pela comunicação ................................................ 481 [13.1.8] Consequências cíveis, administrativas e penais para o descumprimento do dever de com unicar...................................... 482 [13.2] Direito de acesso ............................................................................ 482 [13.2.1] Caracterização do direito ............................................................ 483 [13.2.2] Campo de aplicação do direito de acesso ............................... 483 [13.2.3] Rapidez e gratuidade do acesso................................................. 484 [13.3] Direito à correção............................................................................ 485 [13.3.1] Caracterização do direito ............................................................ 485 [13.3.2] Prazo para a correção.................................................................. 486 [13.3.3] Sentido do vocábulo correção.................................................... 486 [13.3.4] ônus probatório ........................................................................... 487 [13.4] Despesas no exercício dos direitos de acessoe de retificação .. 487 [14] Responsabilidade civil dos arquivos de consumo ....................... 488 [14.1] Sujeitos responsáveis ....................................................................... 490 [14.2] Comportamentos infrativos ........................................................... 495 [14.3] Danos indenizáveis.......................................................................... 495 [14.3.1] Danos patrimoniais ...................................................................... 495 [14.3.2] Danos morais ................................................................................ 496 [14.4] Regime jurídico da responsabilidade civil pela inscrição, ma nutenção e comunicação indevidas do registro......................... 497 [14.5] ônus da prova e inversão .............................................................. 498 [15] Sanções administrativas..................................................................... 500 xxx
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
[16] Sanções penais..................................................................................... [17] Instrumentos processuais .................................................................. [17.1] Habeas data ...................................................................................... [17.2] Antecipação de tutela e medidas cautelares ............................... Art. 44........................................................................................................ Art. 45. V etado........................................................................................ [1] Os arquivos de consumo estatais....................................................... [2] A atualização dos arquivos estatais ................................................... [3] Sentido da expressão “reclamações” .................................................. [4] Conteúdo dos arquivos estatais.......................................................... [5] O dever de divulgação das informações .......................................... [6] Os requisitos da divulgação ................................................................ [7] O direito de acesso às informações .................................................. [8] A aplicação subsidiária das regras dos arquivos de consumo privados .................................................................................................. [9] Prazo máximo ....................................................................................... [10] O cumprimento forçado das obrigações de arquivar e divulgar [11] Uso em publicidade comparativa .................................................... Capítulo VI - DA PROTEÇÃO CONTRATUAL Nelson Nery Junior........................................................................................ Introdução.................................................................................................. 1. Ideologia e filosofia do Código de Defesa do Consumidor 1.1. Relações de consumo................................................................ 2. Dirigismo contratual e decadência do voluntarismo: morte do contrato?................................................................................................ 3. A boa-fé como princípio basilar das relações jurídicas de con sumo....................................................................................................... 4. A oferta como elemento vinculante do dever de prestar: exe cução específica da obrigação de contratar.................................... 5. Formas de contratação........................................................................ 6. Comportamentos socialmente típicos.............................................. 7. Contratos de adesão............................................................................ 8. Cláusulas gerais dos contratos........................................................... 9. Proteção contra cláusulas abusivas................................................... 10. Controle das cláusulas gerais dos contratos................................
501 502 502 505 505 505 505 506 507 507 508 508 509 509 510 510 510 511 511 511 511 517 521 522 525 526 528 530 533 537 XXXI
CDC - Volume I
11. Contratos bancários........................................................................... 12. Modificação das cláusulas contratuais por excessiva onerosidade...................................................................................................... 13. Interpretação dos contratos de consumo..................................... 14. Responsabilidade derivada dos contratos de consumo............. 15. Aplicação da disciplina contratual do Código de Defesa do Consumidor a outras relações jurídicas........................................ Seção I - Disposições gerais........................................................................ Art. 46........................................................................................................ [1] Relações de consumo ........................................................................... [2] Conhecimento prévio do consumidor sobre o conteúdo do con trato ......................................................................................................... [3] Redação clara e compreensível........................................................... Art. 47........................................................................................................ [1] Cláusulas contratuais............................................................................ [2] Interpretação mais favorável ao consum idor................................... Art. 48........................................................................................................ [1] Escritos, pré-contratos e contrato prelim inar................................. [2] Imposição ao fornecedor do dever de prestar ............................... [3] Execução forçada da obrigação de fazer .......................................... [4] Procedimento da execução específica ............................................... A rt 49........................................................................................................ [1] Direito de arrependimento ................................................................. [2] Prazo de reflexão .................................................................................. [3] Contagem do prazo de reflexão......................................................... [4] Relação de consumo fora do estabelecimento com ercial............. [5] Elenco exemplificativo ......................................................................... [6] Devolução das quantias pagas............................................................ [7] Despesas de envio, frete e outros encargos ..................................... A rt 50........................................................................................................ [1] Caráter complementar da garantia contratual................................. [2] Padronização do termo de garantia .................................................. XXXII
540 549 551 551 553 554 554 554 555 557 558 558 558 560 560 561 561 561 562 562 562 562 563 564 565 565 566 566 566
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
[3] Conteúdo e forma do termo de garantia......................................... 567 [4] Preenchimento e entrega do termo de garantia ............................ 567 [5] Manual de instrução ............................................................................ 568 Seção II - Das cláusulas abusivas................................................................568 A rt 51........................................................................................................ 568 [1] Cláusulas abusivas ................................................................................ 570 [2] Nulidade das cláusulas abusivas......................................................... 571 [3] Elenco exemplificativo das cláusulas abusivas................................. 573 [4] Proteção do consumidor nos contratos de consumo ................... 576 [5] Cláusula de não indenizar nos contratos de consumo ................ 576 [6] Cláusula de renúncia ou disposição de direitos ............................ 577 [7] Cláusula de limitação da indenização e o consumidor-pessoa jurídica.................................................................................................... 579 [8] Reembolso da quantia paga pelo consumidor ............................... 579 [9] Transferência de responsabilidades a terceiros ............................... 579 [10] Obrigações iníquas e vantagem exagerada .................................... 580 [11] Cláusula incompatível com a boa-fé e a equidade ..................... 580 [12] Cláusula-surpresa................................................................................ 582 [13] Inversão prejudicial do ônus da prova ........................................... 585 [14] Arbitragem compulsória.................................................................... 586 [15] Representante im posto....................................................................... 591 [16] Outro negócio jurídico pelo consumidor ...................................... 595 [17] Opção exclusiva do fornecedor........................................................ 596 [18] Alteração unilateral do preço ........................................................... 596 [19] Cancelamento unilateral do contrato.............................................. 596 [20] Ressarcimento unilateral dos custos de cobrança ....................... 596 [21] Modificação unilateral do contrato ................................................. 597 [22] Violação de normas ambientais ....................................................... 597 [23] Desacordo com o sistema de proteção ao consumidor ............. 598 [24] Renúncia à indenização por benfeitorias necessárias .................. 598 [25] Presunção relativa da vantagem exagerada.................................... 599 [26] Ofensa aos princípios fundamentais do sistema .......................... 599 [27] Ameaça do objeto ou do equilíbrio do contrato.......................... 599 XXXIII
CDC - Volume I
[28] [29] [30] [31]
Onerosidade excessiva para o consum idor.................................. 600 Conservação do contrato .................................................................. 601 Resolução por ônus excessivo a uma daspartes ........................... 601 Controle administrativo das cláusulas contratuais gerais pelo Ministério Público .............................................................................. 601 [32] Representação ao Ministério Público para o ajuizamento de ação visando ao controle judicial das cláusulas contratuais gerais .... 602 [33] Diretiva n° 93/13, de 5.4.93, do Conselho da Europa (Comunidade Econômica Europeia)........................................................................... 603 [34] Cláusulas abusivas. Rol estabelecido pela Portaria n° 4, de 13.3.98, Da SDE-MJ ........................................................................... 611 [35] Cláusulas abusivas estipuladas na Portaria n° 3/99, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça ............................ 613 [36] Cláusulas abusivas estipuladas na Portaria n° 3/01, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça ............................ 615 Art. 52........................................................................................................ 617 [1] Crédito ao consum idor...................................................................... 617 [2] Informação prévia e adequada......................................................... 618 [3] Preço em moeda corrente nacional ................................................ 618 [4] Montante e taxa efetiva de juros ..................................................... 618 [5] Acréscimos legais ................................................................................ 619 [6] Número e periodicidade das prestações......................................... 620 [7] Total a pagar, com e sem financiamento......................................... 620 [8] Multa moratória .................................................................................. 620 [9] Liquidação antecipada do débito financiado ............................... 621 [10] Multa civil ............................................................................................ 622 Art. 53........................................................................................................ 622 [1] Compra e venda a prestação ............................................................ 622 [2] Alienação fiduciária em garantia ..................................................... 623 [3] Nulidade de pleno direito ................................................................. 623 [4] Perda total das prestações pagas...................................................... 624 [5] Restituição das parcelas quitadas..................................................... 624 [6] Desconto da vantagem econômica auferida com a fruição 624 [7] Consórcio de produtos duráveis ...................................................... 625 [8] Desconto da vantagem auferida e dos prejuízoscausados ao grupo .. 625 xxxiv
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
[9] Contratos de consumo expressos em moeda corrente nacional . 625 [10] Natureza jurídica e conceito de cláusula penal ............................. 626 [10.1] Conceito (códigos civis brasileiros não a conceituaram) 627 [10.2] Cláusula penal como pré-estimativa alternativa de perdas e danos .................................................................................................... 628 [10.3] Dificuldades de pré-estimativa de perdas e danos e critérios utilizados (questão da justa indenização) ..................................... 628 [10.4] Fórmulas de estimativa de perdas e danos (partes, meios judiciais ou determinação legal).................................................... 630 [10.5] Vantagens da pré-estimativa.......................................................... 631 [10.6] Cláusula penal moratória e compensatória ............................... 632 [10.7] Cláusula penal compensatória:limites ........................................ 633 [10.8] Cláusula penal moratória .............................................................. 634 [10.9] Insuficiência da cláusula penal (danos a demonstrar em ação autônoma) .......................................................................................... 637 [10.10] Alcance do art 53 do Código do Consum idor........................ 638 [10.11] Entendimento jurisprudencial...................................................... 640 Seção III - Dos contratos de adesão........................................................ 651 Art. 54........................................................................................................ 651 [1] Definição de contrato de adesão ....................................................... 651 [2] Inserção de cláusula no form ulário................................................... 652 [3] Cláusula resolutória alternativa.......................................................... 652 [4] Escolha é direito do consum idor....................................................... 653 [5] Contrato de adesão escrito e verbal.................................................. 653 [6] Redação clara em caracteres ostensivos e legíveis......................... 653 [7] Destaque para as cláusulas limitativas de direito do consumidor 655 [8] Controle administrativo das cláusulas gerais dos contratos de adesão pelo Ministério Público........................................................... 655 Capítulo VII -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS...................... 657 Zelmo Denari................................................................................................ 657 1. Normas gerais de consumo................................................................ 657 2. Decreto n° 2.181 de 1997.................................................................... 658 Art. 55......................................................................................................... 663 [1] Normas gerais de consumo ................................................................ 664 xxxv
CDC - Volume I
[2] Normas de consumo ............................................................................ [3] Comissões permanentes ...................................................................... [4] Notificação dos fornecedores.............................................................. [5] Revisão periódica das normas de consumo .................................... A rt 56........................................................................................................ [1] Modalidades desanções administrativas......................................... A rt 57........................................................................................................ [1] Graduação da m u lta............................................................................. [2] Fundos especiais ................................................................................... [3] Aplicação da m u lta............................................................................... Art. 58........................................................................................................ [1] Sanções por vício .................................................................................. Art. 59........................................................................................................ [1] Sanções subjetivas................................................................................. [2] Intervenção administrativa.................................................................. [3] Reincidência........................................................................................... Art. 60........................................................................................................ [1] Imposição de contrapropaganda ........................................................ [2] Execução da medida ............................................................................ Título II - DAS INFRAÇÕES PENAIS José Geraldo Brito Filomeno........................................................................ 1. Da defesa do consumidor no âmbito penal................................... 2. Desinformação e desinteresse individual......................................... 3. Parâmetros para a defesa do consumidor no âmbito penal 4. Dilema inicial da comissão elaboradora do anteprojeto............. 5. Da legislação comparada.................................................................... 5.1. A lei mexicana e infrações contra o consumidor................. 5.2. A lei venezuelana de proteção ao consumidor e infrações.. 5.3. Infrações e sanções na lei espanhola de proteção ao con sumidor.......................................................................................... 5.4. O novo Código Penal espanhol................................................ 6. Conclusões............................................................................................. 7. Críticas à concepção penal do Código........................................... xxxvi
664 665 665 665 666 666 667 668 668 668 669 669 669 670 670 670 671 671 671 673 673 673 674 676 679 681 682 683 685 688 689
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Art. 61........................................................................................................ Art. 62. V etado........................................................................................ Art. 63........................................................................................................ Art. 64........................................................................................................ Art. 65........................................................................................................ [1] A advertência do art. 61 ..................................................................... [2] Colocação no mercado de produtos ou serviços impróprios ..... [3] Omissão de dizeres ou sinais ostensivos.......................................... [4] Culpa ....................................................................................................... [5] Omissão na comunicação às autoridades com petentes................ [6] Execução de serviços perigosos ......................................................... [7] O concurso material do parágrafo único do art. 65 ..................... Da publicidade enganosa e seus efeitos (Introdução aos comen tários aos arts. 66 a 69)........................................................................ 1. Dos abusos na publicidade................................................................ 2. Tentativa de criminalização da publicidade/oferta enganosa ou abusiva.................................................................................................... 3. Anteprojeto do Código Penal (Portaria n° 790, de 27.10.87).... 4. Inserção de tipo específico na Lei n° 1.521/51.............................. 5. Publicidade enganosa como “concorrência desleal”..................... 6. Críticas ao sistema de publicidade enganosa como concorrência desleal......................................................................................................... 7. Tipo criado pela Lei n° 8.137/90...................................................... 8. Criminalização da publicidade enganosa........................................ Art. 66........................................................................................................ Art. 67........................................................................................................ Art. 68........................................................................................................ Art. 69........................................................................................................ [1] Falsidade, engano e omissão em informações sobre produtos e serviços ................................................................................................... [2] Patrocínio ............................................................................................... [3] Culpa ....................................................................................................... [4] Elaboração ou promoção de publicidade sabidamente enganosa ou abusiva ..............................................................................................
691 691 692 692 692 692 698 715 716 716 720 722 722 722 724 724 724 725 727 730 731 733 733 733 733 733 748 748 749 XXXVII
CDC - Volume I
[5] O veto ao parágrafo ú n ico .................................................................. 751 [6] Elaboração ou promoção de publicidade tendenciosa .................. 752 [7] Veto ao parágrafo único ...................................................................... 753 [8] Omissão na organização de dados que dão base à publicidade .. 754 [9] Conclusões quanto aos abusos na publicidade ............................... 756 Art. 70........................................................................................................ 756 [1] Emprego de peças e componentes de reposição usados .............. 756 Art. 71........................................................................................................ 760 [1] Meios vexatórios na cobrança de dívidas doconsum idor 760 A rt 72........................................................................................................ 769 [1] Impedimento de acesso a banco de dados ...................................... 769 Art. 7 3 ....................................................................................................... 771 [1] Omissão na correção de dados incorretos...................................... 771 Art. 74........................................................................................................ 774 [1] Omissão na entrega de termos de garantia..................................... 775 Art. 75........................................................................................................ 776 [1] Da responsabilidade e concurso de pessoas.................................... 776 Art. 7 6 ....................................................................................................... 779 [1] Circunstâncias agravantes ................................................................... 780 Art. 77........................................................................................................ 781 [1] Penas de multa ...................................................................................... 782 A rt 78........................................................................................................ 783 [1] Outras penas.......................................................................................... 783 [2] Da responsabilidade penal da pessoa jurídica ............................... 787 A rt 79........................................................................................................ 794 [1] Da fiança ................................................................................................ 795 A rt 80........................................................................................................ 796 [1] Intervenção de assistentes de acusação e ação penal subsidiá ria ............................................................................................................ 796 XXXVIII
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Título IV - DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CON SUMIDOR Daniel Roberto Fink..................................................................................... Art. 105...................................................................................................... [1] instrumentos do sistema ..................................................................... Art. 106...................................................................................................... [1] Os órgãos de defesa do consumidor e a efetiva realização da política nacional de relações de consumo ...................................... [2] Departamento de proteção e defesa do consumidor ..................... [3] Atribuições ............................................................................................. [3.1] Planejamento, elaboração, proposta, coordenação e execução da política nacional de proteção aoconsum idor............................... [3.2] Recebimento, análise, avaliação e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ..................... [3.3] Prestação aos consumidores de orientação permanente sobre seus direitos e garantias..................................................................... [3.4] Informação, conscientização e motivação do consumidor através dos diferentes meios de comunicação ........................................... [3.5] Solicitação à polícia judiciária de instauração de inquérito po licial para a apreciação de delitos contra os consumidores, nos termos da legislação vigente............................................................ [3.6] Representação ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições ... [3.7] Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores ................................. [3.8] Solicitação do concurso de órgãos e entidades da União, Esta dos, Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxílio na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços.............................................................................. [3.9] Incentivo, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, à formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduaise municipais ........ [3.10] Desenvolvimento de outras atividades compatíveis com suas finalidades .........................................................................................
801 802 802 803 804 806 807 807 812 812 812 813 813 814 814 815 815 xxxix
CDC - Volume I
[4] Os vetos .................................................................................................. 815 [5] Apoio técnico-científico....................................................................... 816 Título V - DA CONVENÇÃO COLETIVA DE CONSUMO Daniel Roberto Fink...................................................................................... Art. 107...................................................................................................... [1] Conceito, objeto e natureza jurídica................................................... [2] Condições e requisitos.......................................................................... [3] Desligamento do fornecedor................................................................ A rt 108. Vetado....................................................................................... [1] Sanções convencionais...........................................................................
843 843 844 844 845 845 845
BIBLIOGRAFIA........................................................................................... 847 APÊNDICE.................................................................................................... 865 Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990........................................... 865 Decreto n° 2.181, de 20 de março de 1997......................................... 898 ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E MICROSSISTEMA DOS PROCESSOS COLETIVOS.................................................................................................. 919
XL
CONTEÚDO DO VOLUME II - Processo Coletivo (Arts. 81 a 104 e 109 a 119) INTRODUÇÃO I - Da defesa do consumidor em juízo Ada Pellegrini Grinover II - Do processo individual de defesa do consumidor Kazuo Watanabe III - Direito processual coletivo Ada Pellegrini Grinover
LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 Título III - DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS Kazuo Watanabe (Arts. 81 a 90) Capítulo II - DAS AÇÕES COLETIVAS PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS Ada Pellegrini Grinover (Arts. 91 a 100) Capítulo III - DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FOR NECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS Kazuo Watanabe (Arts. 101 e 102) Capítulo IV - DA COISA JULGADA Ada Pellegrini Grinover (Arts. 103 e 104) Título VI - DISPOSIÇÕES FINAIS Nelson Nery Junior (Arts. 109 a 119) XLI
CDC - Volume I
BIBLIOGRAFIA APÊNDICE Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 Decreto n° 2.181, de 20 de março de 1997 Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América Projeto de Lei n° 5.139/2009 Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E MICROSSISTEMA DOS PROCESSOS COLETIVOS
XLII
INTRODUÇÃO Ada Pellegrini Grinover Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin
I - TRABALHOS DE ELABORAÇÃO - ANTEPROJETO DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 1. Escorço histórico
Antes mesmo da promulgação da Constituição de 1988, o então presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, Dr. Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, constituiu comissão, no âmbito do referido Conselho, com o objetivo de apresentar Anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor, previsto, com essa denominação, pelos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. A comissão foi composta pelos seguintes juristas: Ada Pellegrini Grinover (coordenadora), Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe e Zelmo Denari. Durante os trabalhos de elaboração do anteprojeto, a coordenação foi dividida com José Geraldo Brito Filomeno, e a comissão contou com a assessoria de Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Eliana Cáceres, Marcelo Gomes Sodré, Mariângela Sarrubo, Nelson Nery Junior e Régis Rodrigues Bonvicino. Também contribuíram com valiosos subsídios diversos promotores de Justiça de São Paulo. A comissão ainda levou em consideração trabalhos anteriores do CNDC, que havia contado com a colaboração de Fábio Konder Comparato, Waldemar Mariz de Oliveira Júnior e Cândido Dinamarco. Finalmente, a comissão apresentou ao ministro Paulo Brossard o pri meiro anteprojeto, que foi amplamente divulgado e debatido em diversas capitais, recebendo, assim, críticas e sugestões. Desse trabalho conjunto, longo e ponderado resultou a reformulação do anteprojeto, que veio a ser publicado no DO de 4 de janeiro de 1989, acompanhado do parecer da comissão, justificando o acolhimento ou a rejeição das propostas recebidas.
CDC - Volume I - Ada Pellegrini Grinover / António Herman de Vasconcellos e Benjamin
Diversos projetos haviam sido apresentados, quando o Congresso Na cional constituiu Comissão Mista destinada a elaborar Projeto do Código do Consumidor. Presidiu a Comissão Mista o sen. José Agripino Maia, sendo seu vice-presidente o sen. Carlos Patrocínio e relator o dep. Joaci Goes. Distinguindo com sua confiança os membros da comissão do CNDC, por intermédio de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin e Nelson Nery Junior, o relator da comissão incumbiu-os de preparar uma consolidação dos trabalhos legislativos existentes, a partir do quadro comparativo organizado pela PRODASEN. Verificados, assim, os pontos de convergência e divergência, pudemos preparar um novo texto consolidado, que tomou essencialmente por base o Projeto Michel Temer - que espelhava a fase mais adiantada dos trabalhos da comissão - e o Substitutivo Alckmin, que oferecia algumas novidades interessantes. Para debate dos pontos polêmicos do Código e apresentação de su gestões, a Comissão Mista realizou ampla audiência pública, colhendo o depoimento e as sugestões de representantes dos mais variados segmentos da sociedade: indústria, comércio, serviços, governo, consumidores, cida dãos. A absoluta transparência e a isenção do relator da Comissão Mista criaram um clima de conciliação, em que se pôde chegar ao consenso, adotando-se posições intermediárias, que atendiam a todos os interessados. É mister salientar, nesta fase, a importante obra de mediação e colaboração do Dr. Bruno Onurb. E, finalmente, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) veio coroar o trabalho legislativo, ampliando o âmbito de incidência da Lei da Ação Civil Pública, ao determinar sua aplicação a todos os interesses difusos e coletivos, e criando uma nova categoria de direitos ou interesses, individuais por natureza e tradicionalmente tratados apenas a título pessoal, mas conduzíveis coletivamente perante a justiça civil, em função da origem comum, que denominou direitos individuais homogêneos. 2. Os vetos presidenciais
O Projeto do Congresso Nacional sofreu nada menos que 42 vetos. Alguns foram o resultado de lobbies que não haviam conseguido sensibilizar a Comissão Mista e que, vencidos nas audiências públicas, voltaram à carga na instância governamental. Outros parecem trair a pouca familiaridade dos assessores com as técnicas de proteção ao consumidor. Outros, ainda, recaíram em pontos verdadeiramente polêmicos, sendo até certo ponto justificáveis. Mas o que vale salientar é que o balanço geral dos vetos aponta a existência de alguns verdadeiramente lamentáveis: por exemplo, aqueles que
INTRODUÇÃO
suprimiram todas as multas civis, criadas para compensar a suavidade das sanções penais e universalmente reconhecidas como instrumento idôneo de punição no campo das relações de consumo (arts. 16, 45 e 52, § 3o); ou aquele que se insurgiu contra a participação dos consumidores e dos órgãos instituídos para a sua defesa na formulação das políticas de consumo, tão consentânea com os princípios da democracia participativa traçados pela Constituição (art. 6o, inc. IV; art. 106, incs. X e XI); ou ainda o que impediu a instituição de um novo tipo de mandado de segurança contra atos de particulares, preconizado em nível de Constituição e relegado para criação em lei ordinária, sede apropriada à matéria (art. 85). Outros são compreensíveis, por recaírem em assuntos polêmicos e não totalmente pacificados, como, por exemplo, a retirada do mercado de produtos nocivos, mesmo quando adequadamente utilizados (art. 11); ou a atribuição do controle administrativo abstrato e preventivo das cláusulas gerais de todos os contratos de adesão ao Ministério Público (art. 54, § 5o). Outros vetos são irrelevantes, por incidirem sobre dispositivos didá ticos, cuja ausência não acarreta qualquer consequência maior: é o caso dos parágrafos do art. 5o; do § Io do art 28; do § 2o do art. 55; do § 2o do art. 82; do § Io do art. 102; do inc. XII do art. 106. E, finalmente, a grande maioria é totalmente ineficaz, por ter ficado o assunto regulado em outros dispositivos não vetados; assim ocorre, por exemplo, com as sanções para a publicidade enganosa, objeto de veto no § 4o do art. 37 e nos parágrafos do art. 60, mas decorrentes do caput do art 37 e da previsão do inc. XII do art. 56; com o direito à compensação ou à restituição em favor do devedor inadimplente nos contratos de com pra e venda mediante pagamento em prestações, vetado no § Io do art. 53, mas extraído do preceito sobre a nulidade de cláusulas que estabele çam a perda total (caput do dispositivo); a cominação de sanções penais para certas modalidades de publicidade enganosa (parágrafos únicos dos arts. 67 e 68), que decorrem do conceito do caput do art. 67; a previsão de processo visando ao controle abstrato e preventivo das cláusulas con tratuais gerais (art. 83, parágrafo único), absorvida pela ampla dicção do caput; a aplicabilidade do habeas data à tutela dos direitos e interesses dos consumidores (art. 86), que continua mantida pelo § 4o do art. 43; a aplicabilidade da matéria processual à defesa de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, vetada no art. 89, mas permanecendo íntegra no art 90 c/c art. 110, IV. À doutrina e à jurisprudência caberá o trabalho de construção em torno do verdadeiro alcance dos vetos. Mas, seja como for, o Código de Defesa do Consumidor está aí, a significar um indiscutível avanço, graças ao qual o Brasil passa a ocupar um lugar de destaque entre os países que legislaram ou estão legislando sobre a matéria. 3
CDC - Volume I - Ada Pellegrini Grinover / António Herman de Vasconcellos e Benjamin
II - VISÃO GERAL DO CÓDIGO 1. A necessidade de tutela legal do consumidor
A proteção do consumidor é um desafio da nossa era e representa, em todo o mundo, um dos temas mais atuais do Direito. Não é difícil explicar tão grande dimensão para um fenômeno jurídico totalmente desconhecido no século passado e em boa parte deste. O homem do século XX vive em função de um modelo novo de associativismo: a sociedade de consumo (mass consumption society ou KonsumgeseUschaft), caracterizada por um número crescente de produtos e serviços, pelo domí nio do crédito e do marketing, assim como pelas dificuldades de acesso à justiça. São esses aspectos que marcaram o nascimento e desenvolvimento do Direito do Consumidor como disciplina jurídica autônoma. A sociedade de consumo, ao contrário do que se imagina, não trouxe apenas benefícios para os seus atores. Muito ao revés, em certos casos, a posição do consumidor, dentro desse modelo, piorou em vez de melhorar. Se antes fornecedor e consumidor encontravam-se em uma situação de re lativo equilíbrio de poder de barganha (até porque se conheciam), agora é o fornecedor (fabricante, produtor, construtor, importador ou comerciante) que, inegavelmente, assume a posição de força na relação de consumo e que, por isso mesmo, “dita as regras”. E o Direito não pode ficar alheio a tal fenômeno. O mercado, por sua vez, não apresenta, em si mesmo, mecanismos eficientes para superar tal vulnerabilidade do consumidor. Nem mesmo para mitigá-la. Logo, imprescindível a intervenção do Estado nas suas três esferas: o Legislativo, formulando as normas jurídicas de consumo; o Executivo, implementando-as; e o Judiciário, dirimindo os conflitos decorrentes dos esforços de formulação e de implementação. Por ter a vulnerabilidade do consumidor diversas causas, não pode o Direito proteger a parte mais fraca da relação de consumo somente em relação a alguma ou mesmo a algumas das facetas do mercado. Não se busca uma tutela manca do consumidor. Almeja-se uma proteção integral, sistemática e dinâmica. E tal requer o regramento de todos os aspectos da relação de consumo, sejam aqueles pertinentes aos próprios produtos e serviços, sejam outros que se manifestam como verdadeiros instrumentos fundamentais para a produção e circulação destes mesmos bens: o crédito e o marketing. É com os olhos postos nessa vulnerabilidade do consumidor que se funda a nova disciplina jurídica. Que enorme tarefa, quando se sabe que essa fragilidade é multifária, decorrendo ora da atuação dos monopólios e oligopólios, ora da carência de informação sobre qualidade, preço, cré-
INTRODUÇÃO
dito e outras características dos produtos e serviços. Não bastasse tal, o consumidor ainda é cercado por uma publicidade crescente, não estando, ademais, tão organizado quanto os fornecedores.1 Toda e qualquer legislação de proteção ao consumidor tem, portanto, a mesma ratio, vale dizer, reequilibrar a relação de consumo, seja reforçando, quando possível, a posição do consumidor, seja proibindo ou limitando certas práticas de mercado. 2 .0 modelo intervencionista estatal
A “purificação” do mercado pode ser feita por dois modos básicos. O primeiro é meramente “privado”, com os próprios consumidores e fornecedores autocompondo-se e encarregando-se de extirpar as práticas perniciosas. Seria o modelo da autorregulamentação, das convenções cole tivas de consumo e do boicote. Como já alertamos, tal regime não se tem mostrado capaz de suprir a vulnerabilidade do consumidor. O segundo modo é aquele que, não descartando o primeiro, funda-se em normas (aí se incluindo, no sistema da commom lawy as decisões dos tribunais) imperativas de controle do relacionamento consumidor-fomecedor. É o modelo do intervencionismo estatal, que se manifesta particularmente em sociedades de capitalismo avançado, como os Estados Unidos e países europeus. Nenhum país do mundo protege seus consumidores apenas com o modelo privado. Todos, de uma forma ou de outra, possuem leis que, em menor ou maior grau, traduzem-se em um regramento pelo Estado daquilo que, conforme preconizado pelos economistas liberais, deveria permanecer na esfera exclusiva de decisão dos sujeitos envolvidos. O modelo do intervencionismo estatal pode se manifestar de duas formas principais. De um lado, há o exemplo, ainda majoritário, daqueles países que regram o mercado de consumo mediante leis esparsas, específicas para cada uma das atividades econômicas diretamente relacionadas com o consumidor (publicidade, crédito, responsabilidade civil pelos acidentes de consumo, garantias etc.). De outra parte, existem aqueles ordenamentos que preferem tutelar o consumidor de modo sistemático, optando por um “código”, como conjunto de normas gerais, em detrimento de leis esparsas. Este modelo, pregado pelos maiores juristas da matéria e em vias de se tornar realidade na França, Bélgica e Holanda, foi o adotado no Brasil, que surge como o pioneiro da codificação do Direito do Consumidor em todo o mundo. 1 Eike von Hippel, Verbraucherschutz. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1986, p. 3. 5
CDC - Volume I - Ada Pellegrini Grinover / António Herman de Vasconcellos e Benjamin
3. A base constitucional do Código
A opção por uma ‘codificação” das normas de consumo, no caso brasileiro, foi feita pela Assembleia Nacional Constituinte. A elaboração do Código, portanto, ao contrário da experiência francesa, decorrente de uma simples decisão ministerial, encontra sua fonte inspiradora diretamente no corpo da Constituição Federal. De fato, a Constituição, ao cuidar dos Direitos e Garantias Fundamentais, estabelece, no inc. XXXII do art. 5o, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. O legislador maior, entretanto, entendeu que tal não bastava. Assim, mais adiante, no art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, determina que o “Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor”. 4. Código ou lei?
O Brasil tem hoje um Código de Defesa do Consumidor ou uma mera lei geral? A indagação merece ao menos uma rápida abordagem. Não resta a menor dúvida de que o texto constitucional, expressamen te, reconheceu que o consumidor não pode ser protegido - pelo menos adequadamente - com base apenas em um modelo privado ou em leis esparsas, muitas vezes contraditórias ou lacunosas. O constituinte, clara mente, adotou a concepção da codificação, nos passos da melhor doutrina estrangeira, admitindo a necessidade da promulgação de um arcabouço geral para o regramento do mercado de consumo. Ora, se a Constituição optou por um Código, é exatamente o que temos hoje. A dissimulação daquilo que era Código em lei foi meramente cosmética e circunstancial. É que, na tramitação do Código, o lobby dos empresários, notadamente o da construção civil, dos consórcios e dos supermercados, prevendo sua derrota nos plenários das duas Casas, buscou, por meio de uma manobra procedimental, impedir a votação do texto ainda naquela legislatura, sob o argumento de que, por se tratar de Código, necessário era respeitar um iter legislativo extremamente formal, o que, naquele caso, não tinha sido observado. A artimanha foi superada rapidamente com o contra-argumento de que aquilo que a Constituição chamava de Código assim não o era. E, dessa forma, o Código foi votado com outra qualidade, transfor mando-se na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Mas, repita-se, não obstante a nova denominação, estamos, verdadeiramente, diante de um Código, seja pelo mandamento constitucional, seja pelo seu caráter
INTRODUÇÃO
sistemático. Tanto isso é certo que o Congresso Nacional sequer se deu ao trabalho de extirpar do corpo legal as menções ao vocábulo Código (arts. Io, 7o, 28, 37, 44, 51 etc.). 5. A importância da codificação
Muitos são os benefícios da codificação, e não é nosso intuito analisá mos detalhadamente aqui. De qualquer modo, é importante ressaltar que o trabalho de codificação, realmente, além de permitir a reforma do Direito vigente, apresenta, ainda, outras vantagens. Primeiramente, dá coerência e homogeneidade a um determinado ramo do Direito, possibilitando sua autonomia. De outro, simplifica e clarifica o regramento legal da matéria, favorecendo, de uma maneira geral, os destinatários e os aplicadores da norma.2 6. As fontes de inspiração
O Código, como não poderia deixar de ser, foi buscar sua inspiração em modelos legislativos estrangeiros já vigentes. Os seus redatores, contudo, tomaram a precaução de evitar, a todo custo, a transcrição pura e simples de textos alienígenas. A ideia de que o Brasil - e o seu mercado de consumo - tem peculia ridades e problemas próprios acompanhou todo o trabalho de elaboração. Como resultado dessa preocupação, inúmeros são os dispositivos do Código que, de tão adaptados à nossa realidade, mostram-se arredios a qualquer tentativa de comparação com esta ou aquela lei estrangeira. Mas aqui e ali é possível identificar-se a influência de outros ordenamentos. Na origem dos direitos básicos do consumidor está a Resolução n° 39/248, de 9 de abril de 1985, da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas. A maior influência sofrida pelo Código veio, sem dúvida, do Projet de Code de la Consommation, redigido sob a presidência do professor Jean Calais-Auloy. Também importantes no processo de elaboração foram as leis gerais da Espanha (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuariosy Lei n° 26/1984), de Portugal (Lei n° 29/81, de 22 de agosto), do México (Lei Federal de Protección al Consumidor, de 5 de fevereiro de No mesmo sentido, Françoise Maniet, “La Codification du Droit de la Consommation, um Mythe ou une Nécessité?” Conferência proferida no I Congresso Internacional de Direito do Consumidor, São Paulo, 29 de maio - 2 de junho de 1989. 7
CDC - Volume I - Ada Pellegrini Grinover/ Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin
1976) e de Quebec (Loi sur la Protection du Consommateury promulgada em 1979). Visto agora pelo prisma mais específico de algumas de suas matérias, o Código buscou inspiração, fundamentalmente, no Direito comunitário europeu: as Diretivas nos 84/450 (publicidade) e 85/374 (responsabilidade civil pelos acidentes de consumo). Foram utilizadas, igualmente, na formu lação do traçado legal para o controle das cláusulas gerais de contratação, as legislações de Portugal (Decreto-Lei n° 446, de 25 de outubro de 1985) e Alemanha (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäfts bedingungen - AGB Gesetz, de 9 de dezembro de 1976). Uma palavra à parte merece a influição do Direito norte-americano. Foi ela dupla. Indiretamente, ao se usarem as regras europeias mais modernas de tutela do consumidor, todas inspiradas nos cases e Statutes americanos. Diretamente, mediante análise atenta do sistema legal de proteção ao con sumidor nos Estados Unidos. Aqui foram úteis, em particular, o Federal Trade Commission Acty o Consumer Product Safety Acty o Truth in Lending Acty o Fair Credit Reporting Act e o Fair Debt Collection Practices Act. 7. Estrutura básica do Código
O Código apresenta estrutura e conteúdo modernos, em sintonia com a realidade brasileira. Entre suas principais inovações cabe ressaltar as seguintes: formulação de um conceito amplo de fornecedor, incluindo, a um só tempo, todos os agentes econômicos que atuam, direta ou indiretamente, no mercado de consumo, abrangendo inclusive as operações de crédito e securitárias; um elenco de direitos básicos dos consumidores e instrumentos de im plementação; proteção contra todos os desvios de quantidade e qualidade (vícios de qualidade por insegurança e vícios de qualidade por inadequa ção); melhoria do regime jurídico dos prazos prescricionais e decadências; ampliação das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades; regramento do marketing (oferta e publicidade); controle das práticas e cláusulas abusivas, bancos de dados e cobrança de dívidas de consumo; introdução de um sistema sancionatório administrativo e penal; facilitação do acesso à justiça para o consumidor; incentivo à composição privada entre consumidores e fornecedores, notadamente com a previsão de convenções coletivas de consumo.
8
LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências
Título I DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR José Geraldo Brito Filomeno
1. Código do Consumidor: uma filosofia de ação antes de tudo
Embora se saiba ser em princípio desaconselhável constar definições em uma lei (“omnia definitio periculosa esf), são elas essenciais no Código Brasileiro do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990). E isso até por razões didáticas, preferindo-se então definir “consumidor*', mas do ponto de vista exclusivamente econômico, dando-se ainda máxima amplitude à outra parte do que se convencionou denominar relações de consumo, ou seja, o fornecedor de produtos e serviços, como se verá oportunamente. Trata ainda o Código de uma “política nacional de relações de consumo”, justificando nossa assertiva já feita no pórtico do presente tópico no sentido de que se trata em última análise de uma “filosofia de ação”, exatamente porque não se trata tão somente do consumidor, senão da almejada har monia das sobreditas “relações de consumo”. Assim, embora se fale das necessidades dos consumidores e do respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômi cos, melhoria da sua qualidade de vida, já que sem dúvida são eles a parte vulnerável no mercado de consumo, justificando-se dessarte um tratamento desigual para partes manifestamente desiguais, por outro lado se cuida de compatibilizar a mencionada tutela com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, viabilizando-se os princípios da ordem econômica de que trata o art. 170 da Constituição Federal, e educação - informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e obrigações. Nesse sentido é que tem fundamental importância, como será tam bém tratado noutro passo destes comentários, o incentivo à criação pelos
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
fornecedores de meios eficientes do controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos; e aqui estão inseridos, porque de relevância manifesta, os cha mados “departamentos ou serviços de atendimento aos consumidores como uma via de duas mãos”. Ou mais precisamente: no atendimento de reclamações, mas também no recebimento de sem dúvida valiosas sugestões dos próprios consumidores, beneficiando-se com isso ambas as partes das relações de consumo. Mas não é só. Mencionada harmonia que se visa a alcançar mediante a implementação e efetiva execução do Código de Defesa do Consumidor também é buscada, ainda sob a inspiração do art. 170 da Constituição da República, pela coibição de abusos como a concorrência desleal nas práticas comerciais, pela racionalização dos serviços públicos e pelo estudo constante das modificações do mercado de consumo. 2. Desfazimento de mitos e direitos básicos
É mister que se diga, entretanto, que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor não é uma panaceia para todos os males que o afligem, e não é por ele ter sido criado que deixaram de existir outras normas re lativas às relações de consumo, e existentes nos Códigos Civil, Comercial, Penal etc., bem como na legislação esparsa, a menos que com ele sejam incompatíveis, dentro do princípio geral da revogação de uma lei antiga por outra nova, como é o caso, por exemplo, dos “vícios redibitórios”, que receberam disciplina totalmente nova, a começar pela dicotomia operada entre aqueles propriamente ditos (rebatizados de “vícios do produto e do serviço”), e os chamados “defeitos do produto e do serviço”, estes decorrentes do simples fato de sua colocação no mercado de consumo, e cada qual com tratamento diferenciado. A matéria “proteção e defesa do consumidor” é por si só vasta e complexa, donde ser na prática impossível a previsão de tudo que diga respeito aos direitos e deveres dos consumidores e fornecedores. Por isso mesmo é que o novo Código vale muito mais pela perspectiva e diretrizes que fixa para a efetiva defesa ou proteção do consumidor, bem como pelo devido equacionamento da harmonia buscada, do que pela exaustão das normas que tendem a esses objetivos, como já visto, apontando ainda para a utilização de certos instrumentos. E por instrumentos de defesa há que se entender não apenas os insti tucionais, como, por exemplo, a assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente, a criação de promotorias de justiça de proteção ao consumidor, de delegacias especializadas, mormente na investigação de crimes 10
Título
I - DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
contra as relações de consumo, de juizados especiais de pequenas causas bem como para o julgamento de demandas onde também são sobreditas relações discutidas, concessão de estímulos à criação de associações de consu midores etc., como também normas e leis das mais variadas fontes e tipos, e não apenas as do Código, ganhando aquelas, porém, ainda que de forma esquemática, uma sistematização em face da mesma diretriz imposta. Outro mito que precisa ser desfeito desde logo é o de que os direitos básicos do consumidor previstos no art. 6o do novo Código são a grande novidade. Em verdade, constam já de resolução da ONU, de 1985, que fala em direito de proteção à vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços, educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, informação clara e ade quada sobre os mesmos, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, meios coercitivos ou desleais, cláusulas abusivas em contratos, principalmente de adesão, modificação de suas cláusulas, prevenção e reparação de danos, acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Talvez a grande novidade, isto sim, seja o direito previsto no inc. VIII do mencionado art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, quando fala da inversão do ônus da prova, a seu favor, mas apenas no processo civil quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Digno de nota igualmente é o disposto no art. 7o do mencionado Código, ora comentado, que trata das fontes dos direitos do consumidor, igualmente da maneira mais ampla possível. 3. Microssistema jurídico de caráter inter e multidisciplinar
Pelo que se pode observar, por conseguinte, trata-se de uma lei de cunho inter e multidisciplinar, além de ter o caráter de um verdadeiro microssistema jurídico. Ou seja: ao lado de princípios que lhe são próprios, no âmbito da cha mada ciência consumerista, o Código Brasileiro do Consumidor relaciona-se com outros ramos do Direito, ao mesmo tempo em que atualiza e dá nova roupagem a antigos institutos jurídicos. Por outro lado, reveste-se de caráter multidisciplinar, eis que cuida de questões que se acham inseridas nos Direitos Constitucional, Civil, Penal, Processuais Civil e Penal, Administrativo, mas sempre tendo por pedra de toque a vulnerabilidade do consumidor ante o fornecedor, e sua condição de destinatário final de produtos e serviços, ou desde que não visem a uso profissional. n
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Sem essa conotação, aliás, não haveria necessidade desse microssistema jurídico, já que os Códigos Civil e Penal, por exemplo, já disciplinam as relações jurídicas fundamentais entre as pessoas físicas e jurídicas. Só que pessoas tais são encaradas como iguais, ao contrário do Código do Consumidor, que dispensa tratamento desigual aos desiguais. 4. Consumo sustentável
Declarado pela Resolução ONU n° 153/1995, o chamado consumo sustentável exsurge como nova preocupação da ciência consumerista. Com efeito, o próprio consumo de produtos e serviços, em grande parte, pode e deve ser considerado como atividade predatória dos recursos naturais. E, como se sabe, enquanto as necessidades do ser humano, sobretudo quando alimentado pelos meios de comunicação em massa e pelos proces sos de marketing são infinitas, os recursos naturais são finitos, sobretudo quando não renováveis. A nova vertente, pois, do consumerismo, visa exatamente a buscar o necessário equilíbrio entre essas duas realidades, a fim de que a natureza não se veja privada de seus recursos o que, em consequência, estará a ameaçar a própria sobrevivência do ser humano neste planeta. É o que se verá em passo oportuno destes comentários.
12
Capítulo I DISPOSIÇÕES GERAIS José Geraldo Brito Filomeno
Art. 1°
O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. [1]
Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [2] Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pes soas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. [3]
Art. 3o Fornecedor é toda
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonaliza dos, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [4] § 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou ima terial. [5] § 2oServiço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [6][7][8]
COMENTÁRIOS
[1] FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL - Como se observa do pró prio enunciado do art. Io do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, sua promulgação se deve a mandamento constitucional expresso. Assim, a
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
começar pelo inc. XXXII do art. 5o da mesma Constituição, impõe-se ao Estado promover; na forma de lei, a defesa do consumidor. Referida preocupação, como já mencionado em passo anterior, é também encontrada no texto do art. 170 que cuida da “ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa”, tendo por fim “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, e desde que observados determinados princípios fundamentais, encontrando-se dentre eles exatamente a defesa do consumidor (cf. inc. V do mencionado art. 170 da Constituição Federal). O art. 150, que trata das limitações do poder de tributar por parte do Poder Público e no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municí pios, estabelece em seu § 5o que a “lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”. Ainda em nível constitucional, a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor aparece no inc. II do art. 175 da Carta federal, quando alude a “usuários” de serviços públicos por intermédio de concessão ou permissão do Poder Público, dizendo que “incumbe ao Po der Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. E seu parágrafo único diz que a lei disporá sobre “os direitos dos usuáriosny no caso, e à evidência, “usuários-consumidores” dos mencionados serviços públicos concedidos ou permitidos.1 Por fim, o art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispunha - já que dispositivo de eficácia já exaurida de forma categó rica, que: “O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor”, prazo esse já ! Lei Federal n° 8.987, de 13.02.1995, dispôs sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no referido art. 175 da Constituição Federal. A Lei n° 9.472, de 16.07.1997, dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcio namento do órgão regulador - ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações - , e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional n° 8, de 1995. A Lei n° 9.691, de 22.07.1998, altera a Tabela de Valores de Fiscalização por Estação, objeto da Lei n° 9.472/1997. E o Decreto n° 2.338, de 07.10.1997, aprova o regulamento da ANATEL. Em matéria de gás e petróleo, a Lei n° 9.478, de 06.08.1997, dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, c institui o Conselho Nacional de Política Energética. E, conforme redação dada ao seu art. 7o pela Lei n° 11.097/2005, a ANP passa a ser sigla de “Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustívcis”, que é uma autarquia sob regime especial, com sua estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos cm comissão, além de funções de con fiança. No que toca à energia elétrica, a Lei n° 9.427, de 26.12.1996, instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, autarquia sob regime especial, aprova sua estrutura regimental, e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e funções de confiança. Consultcm-sc, ainda, a Lei n° 9.074, de 07.07.1995, que estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos, e o Decreto n° 1.717, de 24.11.1995, que estabelece procedimentos para prorrogação de concessões dos serviços públicos de energia elétrica. 14
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
de há muito ultrapassado quando foi finalmente promulgado o texto da Lei n° 8.078, de 11 setembro de 1990, sabendo-se que a Constituição o fora em 5 de outubro de 1988. Referida conquista, é mister salientar-se, deveu-se ao “movimento consumerista brasileiro”, apesar de sua inicial fragilidade, e sempre em franca ascensão, sobretudo após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, e da implementação do chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, além do fortalecimento e criação de novas entidades públicas não governa mentais de relevo nessa área. Com efeito, esse movimento, desde a década de 1980, mediante a realização de encontros nacionais de entidades de defesa e proteção do consumidor, tem contribuído decisivamente para a implementação das diretrizes dessa defesa e proteção, no plano constitucional, inclusive. Assim é que, em 1985, no Rio de Janeiro, ao ensejo da realização do sexto encontro das referidas entidades, foram aprovadas moções concretas no sentido de que se incluíssem, no texto constitucional então em vigor (Emenda Constitucional n° 1, de 1969), dispositivos que contemplassem a preocupação estatal com a defesa e proteção do consumidor, e mediante emendas constitucionais. Em 1987, quando os constituintes estavam no início das discussões sobre tal assunto, novas propostas foram extraídas de outro encontro nacional daquelas entidades de defesa do consumidor, desta feita o de n° 7, realizado estrategicamente em Brasília, em abril do referido ano. As mencionadas propostas foram consubstanciadas em anteprojeto formalmente protocolado junto àquela Assembleia Nacional Constituinte, recebendo o n° 2.875, em 8.5.87. No caso, foram feitas sugestões de modificações da redação dos en tão arts. 36 e 74 do anteprojeto elaborado pela chamada Comissão Afonso Arino, merecendo destaque a menção expressa já aos direitos fundamentais ou básicos dos consumidores, como o relativo ao consumo de produtos e serviços, à segurança, à escolha, à informação, de ser ouvido, à indenização, à educação para o consumo e a um meio ambiente sadio. Destaque-se, igualmente, o trabalho desenvolvido pelo Ministério Públi co brasileiro, reunido em dois simpósios nacionais, ou seja, o VI Congresso Nacional de São Paulo, em junho de 1985, e o VII, em Belo Horizonte, em março de 1987, oportunidades em que foram oferecidas teses - aprovadas por unanimidade - que também propugnavam não apenas pela instituição de Promotorias de Justiça especializadas na proteção e defesa do consumidor, como também pela consagração daquelas preocupações no texto constitucionaL2'3 2 VI Congresso do Ministério Público. José Geraldo Brito Filomeno c Antônio Herman de Vasconcdlos e Benjamin, “A proteção ao consumidor e o Ministério Público”, in Justitia, n° 131-A, 1985. J VII Congresso do Ministério Público. José Geraldo Brito Filomeno, Edson José Rafael e Cláudio Eugênio dos Reis Brcssane, “Consumidor, Ministério Público c a Constituição”, in Anais do VII Congresso do MP, Belo Horizonte, 1987. 15
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Por fim, ainda neste tópico, destaque-se que as normas ora institu ídas são de ordem pública e interesse social, o que equivale a dizer que são inderrogáveis por vontade dos interessados em determinada relação de consumo, embora se admita a livre disposição de alguns interesses de caráter patrimonial, como, por exemplo, ao tratar o Código da convenção coletiva de consumo em seu art. 107, dispondo que “as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo”.4 4 Conforme decidido pela 3* Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na Apelação Cível n° 31.902/94-DF, julgamento de 16.05.1994, tendo por relatora a então desembargadora Nancy Andrighi, por maioria de votos, in RDC 10/260-262: "Direito das Obrigações. Contrato celebrado antes da vigência do CDC. Suas normas. Aplicação. Apelação desprovida. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de execução diferida, não obstante ter sido pactuado antes da vigência deste diploma legal - Art. I o Improcede o pedido de perda das parcelas pagas, porque nula é a cláusula contratual que a estabelece, em face da sua manifesta abusividade.” Tratava-se, em síntese, de questão que envolvia o compromisso de compra e venda de imóvel a prestações, buscando o compromitente vendedor sua rescisão cm face do inadimplcmento dos compradores. No mérito, a decisão, embora julgando procedente o pedido rescisório, não admitiu a perda total das prestações pagas, conforme pactuado em cláusula contratual considerada “leo nina” e, portanto, nula de pleno direito, bem como perdas e danos, por constituírem estas ônus decorrentes da incorporação. Voto da relatora: "Muito embora o contrato existente entre as partes tenha sido pactuado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com seu art. I o, contém norma de ordem pública e esta é de aplicação imediata; duas, porque, embora o contrato tenha sido pactuado antes da vigência do supracitado Código, a situação jurídica posta foi atingida porque ainda não integralmente consolidada no tempo, bem como os efeitos da relação ainda estão em execução. Por isso, com fulcro no art. 51, inc. II, do CDC, declaro a nulidade da cláusula 3.5, em face da sua manifesta abusividade, procedendo de ofício com respaldo em lei de ordem pública e porque o vício autoriza a sua declaração de invalidade de ofício, ratificando o decidido na sentença.” Veja-se também julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Ap. Cível n° 344.282, relator: Des. Sérgio Bittencourt, 4* Câmara Cível, julgado em 04.02.2009, DJ 16.03.2009: 4Civil e processual civil. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Ausência do nome das partes no relatório da sentença. Não demonstração de prejuízo. Aplicação imediata do Código de Defesa do Consumidor. Contratos de execução continuada. Tabela Price. Ilegalidade. Substituição pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). Execução extrajudicial. Suspensão da medida. Seguro. PES/CP. Limitação de juros e ausência de interesse recursal [...] A aplicação imediata da lei atinge não só os fatos não definitivamente constituídos, mas também os efeitos presentes efuturos dos fatos consumados. Dessa maneira, incide as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de execução continuada ou diferida, ainda que firmados antes de sua vigência, atingindo os efeitos futuros da avença.” Parte do Voto da Relatora: “[...] Insurgc-sc o Réu/Apelante quanto à aplicação do CDC à relação jurídica havida entre as partes, ao argumento de que, à época em que firmado o acordo, a saber, 10.10.1990, ainda não estava em vigência tal diploma legal, o que somente ocorreu em março de 1991. Nesse ponto, convém anotar que após a assinatura do contrato sobreveio alteração legislativa que estabeleceu novo ordenamento para as relações de consumo - Lei n° 8.078/1990. Em se tratando de contrato com parcelas de tratos sucessivos, não há que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, porquanto é perfeitamente possível aplicar a mudança havida, mormente porque as normas consumeristas são de ordem pública c devem ser amplamente utilizadas”. Cf., também, no que diz respeito à resolução contratual e art. 53 do CDC, a Súmula de Estudos CENACON n° 16, in Promotorias de Justiça do Consumidor: atuação prática. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1997, p. 103-111. 16
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
O caráter cogente, todavia, fica bem marcado, sobretudo na Seção II do Capítulo VI ainda do Título I, quando se trata das chamadas “cláusulas abusivas”, fulminadas de nulidade (cf. art. 51 do Código), ou então já antes, nos arts. 39 a 41, que versam sobre as “práticas abusivas”. E, com efeito, consoante bem anotado por Nilton da Silva Combre5 ao comentar o dirigismo contratual, “ocorre (...) que certas relações jurídicas sofrem, cada vez mais, a intervenção do Estado na sua regulamentação; é o fenômeno que se denomina dirigismo contratual”. “Como observa José Lopes de Oliveira (Contratos,, cit., p. 9)”, argumenta, “é frequentemente sob o império da necessidade que o indivíduo contrata; daí ceder facilmente ante a pressão das circunstâncias; premido pelas dificuldades do momento, o economicamente mais fraco cede sempre às exigências do economicamente mais forte; e transforma em tirania a liberdade, que será de um só dos contratantes; tanto se abusou dessa liberdade durante o libe ralismo econômico, que não tardou a reação, criando-se normas tendentes a limitá-las; e, assim, surgiu um sistema de leis e garantias, visando a impedir a exploração do mais fraco”. Ao dizer que esse dirigismo tem-se verificado tradicionalmente em matéria locatícia, o citado autor enfatiza que, “visando a impedir a explo ração do mais fraco pelo mais forte, e os abusos decorrentes do acentuado desequilíbrio econômico entre as partes, o Estado procura regular, através de disposições legais cogentes, o conteúdo de certos contratos, de modo que as partes fiquem obrigadas a aceitar o que está previsto na lei, não podendo, naquelas matérias, regular diferentemente seus interesses”. A grande questão que se colocou, tão logo entrou em vigor o Código do Consumidor, foi a de saber-se se a nova sistemática das chamadas “cláusulas abusivas” atingiria ou não os atos jurídicos praticados anteriormente. E a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de normas de Direito Econômico, sua incidência é imediata, alcançando, sim, os contratos em curso, notadamente os chamados “de trato sucessivo” ou de “execução continuada”6, em decorrência exatamente 5 Teoria e prática da locação de imóveis, Saraiva, 1985, p. 89. 6 Cf. Ementa n° 01 - AgRg no REsp n° 804.842/SC, rei. Min. Fernando Gonçalves, 4“ TUrma do STJ, j. de 09.06.2009, in DJe de 22.06.2009: “AgRg no REsp 804.842/SC: Habitacional. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Possibilidade. Tabela Price. Capitalização. Súmulas 5 e 7/STJ. Execução extrajudicial. Intimação pessoal. Decisão agravada mantida por seus próprios funda mentos. 2 - Com relação à aplicação do CDC in casu, sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, a lei nova deve ser aplicada aos fatos ocorridos durante sua vigência. 2 - Afastar o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que o uso da Tabela Price acarreta, no caso, capitalização dos juros ou anatocismo importa cm análise de cláusula contratual e cm investigação probatória, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3 - 0 Superior Tribunal de Justiça pacificou, nos termos dos precedentes jurisprudcnciais a seguir transcritos, o entendimento no sentido de que sejam exau 17
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
do caráter de normas de ordem pública. Como foi o caso, por exemplo, das Leis nos 8.170/1991 e 8.178/1991, versando a primeira sobre reajustes de mensalidades escolares, e a segunda sobre o plano econômico intentado pelo governo Collor, notadamente no que diz respeito à criação da TR (taxa referencial de juros). É o que se extrai de voto proferido no Recurso Especial n° 2.595/SP pelo ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, a saber: “Orlando Gomes, em obra dedicada ao Direito Econômico, analisando os aspectos jurídicos do dirigismo econômico nos dias atuais, após assinalar que a sanção pela transgressão de norma de ordem pública é a nulidade, afirma: ‘Outro princípio que sofre alteração frente à ordem pública dirigista é o da intangibilidade dos contratos. Sempre que uma nova lei é editada nesse domínio, o conteúdo dos contratos que atinge tem de se adaptar às suas inovações. Semelhante adaptação verifica-se por força de aplicação ime diata das leis desse teor, sustentada com prática necessária à funcionalidade da legislação econômica dirigista. Derroga-se com o princípio da aplicação imediata a regra clássica do Direito Intertemporal que resguarda os contratos de qualquer intervenção legislativa decorrente de lei posterior à sua conclusão’ (Direito Econômico, Saraiva, 1977, p. 59). Atento a essa qualidade das nor mas de Direito Econômico que se revestem do atributo de ordem pública, esta Corte vem prestigiando a aplicação imediata de tais normas, atingindo contratos em curso. Confiram-se, dentre outros, os Recursos Especiais nos 3, 29, 557, 602, 667, 692, 701, 815 e 819, nos quais a tese jurídica central é a da aplicação imediata de normas de Direito Econômico cujo caráter de ordem pública afasta a alegação de direito adquirido.” Da mesma forma decidiu o STJ no REsp n° 735.168/RJ (rei. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. de 11.03.2008, DJ de 23.03.2008: ridas, cm sede dc execução extrajudicial, todas as possibilidades para que se proceda à intimação pessoal do devedor. 4. Agravo regimental desprovido” Em sentido oposto, todavia, confiram-se: Ementa n° 02 - STJ, AgRg no REsp n° 930.979 - DF, reL Min. Luís Felipe Salomão, 4“ Turma, j. dc 16.12.2008: “Direito civil e processual civil. Agravo regimental. Sistema financeiro de habitação. Não incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos regidos pelo SFH firmados antes dc sua vigência. Reajuste do saldo devedor. Março de 1990. Tabela Pricc e capitalização de juros. Questão fático-probatória que enseja incidência do Enunciado 7 do STJ. Agravo regimental improvido”; Ementa n° 03 - REsp n° 248.155/SP, rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4* Turma, j. dc 23.05.2000, in DJ de 07.08.2000, p. 114: “Processual civil. Apelação. Princípio devolutivo. Inocorrência dc impugnação. Multa. Redução a 2%. Contrato anterior à vigência da nova redação do arL 51 do Código dc Defesa do Consumidor. Impossibilidade dc o Tribunal decidir dc ofício. Brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Arts. 128, 460 e 515, CPC. Recurso provido. A extensão do pedido devolutivo se mede através da impugnação feita pela parte nas razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino tantum devolutum quantum appellatum. I - A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz. II - Questão não refutada no recurso, que, pela natureza patrimonial do direito, não pode ser decidida de ofício pelo tribunal. III - Conquanto o CDC seja norm a de ordem pública, não pode rctroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito”. 18
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
“Direito Civil e Consumidor. Seguro saúde. Contratação anterior à vigência do CDC e à Lei n° 9.656/1998. Existência de trato sucessivo. Incidência do CDC, mas não da Lei n° 9.656/1998. Boa-fé objetiva. Prótese necessária à cirurgia de angioplastia. Ilegalidade da exclusão de stents* da cobertura securitária. Dano moral configurado. Dever de reparar os danos materiais. - As disposições da Lei n° 9.656/1998 só se aplicam aos contratos celebra dos a partir de sua vigência, bem como para os contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados para seu regime. A Lei n° 9.656/1998 não retroage, entretanto, para atingir o contrato celebrado por segurados que, no exercício de sua liberdade de escolha, mantiveram seus planos antigos sem qualquer adaptação. - Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados já no período de sua vigência. - Dada a natureza de trato sucessivo do contrato de seguro saúde, o CDC rege as renovações que se deram sob sua vigência, não havendo que se falar aí em retroação da lei nova. - A cláusula geral de boa-fé objetiva, implícita em nosso ordenamento antes da vigência do CDC e do CC/2002, mas explicitada a partir desses marcos legislativos, impõe deveres de conduta leal aos contratantes e funciona como um limite ao exercício abusivo de direitos. [...]”. Eis, por conseguinte, a extensão relevante da enunciação do art. Io do Código do Consumidor ao cunhar as locuções “ordem pública” e “interesse social”.7 7 Entendimento diverso, entretanto, foi manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber: a) no Recurso Extraordinário n° 205.999/SP, tendo por relator o ministro Moreira Alves, em julgamento de 16.11.1999, Ia Turma, votação unânime (D/ de 3.3.2000) e tendo como partes Fcnan Engenha ria S/A (recorrente) e Roberto Barbosa Sansoni (recorrido), a saber: “Compromisso de compra e venda. Rescisão. Alegação de ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição. Sendo constitucional o princípio de que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, ele se aplica também às leis de ordem pública. De outra parte, se a cláusula relativa à rescisão com a perda de todas as quantias já pagas constava do contrato celebrado anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, ainda quando a rescisão tenha ocorrido após a entrada cm vigor deste, a aplicação dele para se declarar nula a rescisão feita de acordo com aquela cláusula fere, sem dúvida alguma, o ato jurídico per feito, porquanto a modificação dos efeitos futuros de ato jurídico perfeito caracteriza a hipótese de retroatividade mínima que também à alcançada pelo disposto no art. 5o, XXXVI, da Carta Magna. Recurso extraordinário conhecido c provido”; b) Recurso Extraordinário n° 240.216/BA, tendo por relatora a ministra Ellcn Gracie, cm julgamento de 14.5.2002, Ia Turma, votação unânime {DJ de 14.6.2002), tendo como partes Andrade Mendonça Construtora Ltda. (recorrente) e Lícia Damasccno do Nascimento (recorrida): “Constitui ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato celebrado anteriormente à sua edição. Precedente da Turma. Recurso extraordinário conhecido c provido”. Também nesse sentido o Recurso Especial n° 391.156/SP (relator o min. Aldir Passarinho Jr., j. de 5.4.2005, in DJU de 9.5.2005, p. 407, 4a Turma do STJ): “Civil e processual. Ação consignatória c rcconvcnção de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção. Inadimplência. Obrigacional dos adqui rentes. Perda das prestações pagas previstas em cláusula penal. Complcmentação de prestações. 19
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
No que tange, agora especificamente, ao “interesse social”, tenha-se em conta que o Código ora comentado visa a resgatar a imensa coletividade de Matéria de fato. Súmula n° 7/STJ. Pacto celebrado anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidadc da Lei n° 8.078/1990. Recurso especial. Prequcstionamcnto insufi ciente. Súmula n° 211/STJ. Divergência jurisprudencial não configurada. I. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato celebrado antes da sua vigência, pelo que a cláusula penal que prevê a perda da totalidade das parcelas pagas, contratada antes da entrada em vigor da Lei n° 8.078/1990, não pode ser afastada com base em tal diploma. Precedentes do STJ. II. Questões pertinentes ao Código Civil anterior não prequestionadas, atraindo a incidência da Súmula n° 211 do STJ. III. ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ - Súmula n° 7/ STJ. IV. Dissídio jurisprudencial não configurado. V. Recurso especial não conhecido”. Idem, STJ no REsp n° 435.608/PR, reL Min. Aldir Passarinho Jr., 4* Turma, j. de 27.03.2007 in DJ de 14.05.2007: “Civil c processual. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Inadimplência do devedor. Contrato anterior ao CDC. Inaplicabilidadc. Perda das prestações pagas prevista em cláusula pcnaL I. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato celebrado antes da sua vigência, pelo que a cláusula penal que prevê a perda da totalidade das parcelas pagas, contratada antes da entrada cm vigor da Lei n° 8.078/1980, não pode ser afastada com base cm tal diploma. Precedentes do STJ. II. Recurso especial conhecido e provido”; STF, no RE n° 555.906/SP, reL Min. Cezar Peluso, j. de 02.10.2009: (Decisão recente ainda sem ementa) - STF: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e assim ementado: “Embargos infringentes. Ação de consignação cm pagamento. Contrato de seguro-saúde. Exclusão de dependente por cancelamento do contrato pela segurada principal. Inadmissibilidade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de obrigação acessória c de estipulação em favor de terceira Hipótese de obrigação principal que vincula o dependente à empresa prestadora de serviços mediante o pagamento de contraprestação. Rejeição dos embargos (ÍL 301). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 278). A recorrente alega, com fundamento no art. 102, III, a, violação ao art. 5o, XXXVI, da Cons tituição Federal. Aduz, ainda, que, no caso em comento, não seriam aplicáveis as regras e princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, já que o contrato foi firmado em 14.9.87, ou seja, anteriormente à promulgação da Lei n° 8.078/90. 2. Consistente o recurso. É que, cm caso semelhante, esta Corte já assentou entendimento acerca da impossibilidade de aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor, como se pode ver à seguinte ementa: ‘Compromisso de compra c venda. Rescisão. Alegação de ofensa ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição. - Sendo constitucional o princípio de que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, ele se aplica também às leis de ordem pública. De outra parte, se a cláusula relativa a rescisão com a perda de todas as quantias já pagas constava do contrato celebrado anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, ainda quando a rescisão tenha ocorrido após a entrada em vigor deste, a aplicação dele para se declarar nula a rescisão feita de acordo com aquela cláusula fere, sem dúvida alguma, o ato jurídico perfeito, porquanto a modificação dos efeitos futuros de ato jurídico perfeito caracteriza a hipótese de retroatividade mínima que também é alcançada pelo disposto no artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna. Recurso extraordinário conhecido e provido (RE n° 205.999, ReL Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 03.03.2000. Nesse sentido: Al n° 318.778, Rcl. Min. Sepúlvcda Pertence, DJ de 16.3.2004) [...]”; ou, ainda, o RE n° 425.758 em AgR/ SP, reL Min. Ricardo Lcwandowski, j. de 05.02.2009: “Trata-se de agravo regimental interposto pelo Banco Bradcsco S/A (fls. 751-758) contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário (fls. 746-748). O agravante sustenta, cm suma, que a questão referente à aplicabilidade retroativa do Código de Defesa do Consumidor (que entrou cm vigor cm 11.03.1991) aos contratos iniciados ou renovados na vigência do Plano Collor (que entrou cm vigor cm 15.03.1990) foi devidamente apreciada no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar, portanto, em ausência de prequcstionamcnto. Argumenta, ainda, que a aplicabilidade retroativa do CDC ofende o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes precedentes: RE 240.216/BA e RE 386.485/RS, ambos de rclatoria da Min. Ellen Grade; RE 423.838-AgR/SP, Rcl. Min. Eros Grau c AI 353.109/DF, Rcl. Min. Sepúlvcda Pertence. Quanto aos demais fundamentos da decisão agravada, verifica-se que devem ser mantidos, visto que o recorrente não aduziu argumentos capazes de afastá-los. Isso posto, reconsidero a dcdsáo de fls. 746-748 e dou parcial provimento ao RE, apenas para afastar a aplicação retroativa do CDC a contratos celebrados cm período anterior à sua vigência. Publique-sc. Brasília, 5 de fevereiro de 2009” 20
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
consumidores da marginalização não apenas em face do poder econômico, como também dotá-la de instrumentos adequados para o acesso à justiça do ponto de vista individual e, sobretudo, coletivo. Assim, embora destinatária final de tudo que é produzido em termos de bens e serviços, a comunidade de consumidores é sabidamente frágil em face da outra personagem das relações de consumo, donde pretender o Código do Consumidor estabelecer o necessário equilíbrio de forças. E, para tanto, como se verá noutros passos desta obra, haverá muitas vezes que tratar desigualmente as duas personagens das sobreditas relações de consumo - fornecedores e consumidores -, porque claramente desiguais. Veja-se, como exemplo, o entendimento manifestado no acórdão proferido em sede do Recurso Especial n° 658.748/RJ (rei. min. Nancy Andrighi, 3a Turma do STJ, j. de 4.8.2005, in DJU de 22.8.2005, p. 268), no qual se optou claramente pela prevalência dos critérios do Código de Defesa do Consumidor sobre os do chamado “Código Brasileiro de Aeronáutica”, consubstanciado na Lei n° 7.565/86 e regulamentado pelos Decretos n0520.704/31 e 56.463/65, os quais, por sua vez, se reportam à “Convenção de Varsóvia”: “Consumidor. Recurso especial. Embargos de declaração. Omissão. Prequestionamemento. Extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional. Limitação do ressarcimento pela Convenção de Varsóvia. CDC. Aplicabilida de. - Não incorre em omissão o acórdão que analisa a questão sob enfoque legal diverso do consignado pela parte. - Inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados. - Não prevalece a limitação da indenização preconizada pela Convenção de Varsóvia na vigência do CDC. Recurso provido.” Ainda nesse sentido, outro acórdão do STJ, em sede de Recurso Espe cial n° 151.40l/SP (reL min. Humberto Gomes de Barros, j. de 17.6.2004, in DJU de 1.7.2004, p. 188): “Responsabilidade civil objetiva. Voo internacional. Atraso. Aplicação do CDC. - Se o fato ocorreu na vigência do CDC, a responsabilidade por atraso em voo internacional afasta a limitação tarifada da Convenção de Varsóvia (CDC: arts. 6o, VI, e 14). - O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). - O Protocolo Adicional n° 3, sem vigência no direito internacional, não se aplica no direito interno. A indenização deve ser fixada em moeda nacional Decreto n° 97.505/89).”8 8 STF - Extravio dc Mercadoria/Bagagem - AI n° 762.184 RG/RJ, rei. Min. Cezar Peluso, j. de 22.10.2009, Inf. n° 572/2010: “Extravio dc Mercadoria/Bagagem: Recurso. Extraordinário. Extravio 21
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
É forçoso reconhecer, por conseguinte, que, diante do exposto linhas atrás (i.e.y o princípio da vulnerabilidade do consumidor, o caráter de lei de ordem pública e interesse social de seu Código), prevalece o espectro mais abrangente do Código do Consumidor, para o qual não há limite “tarifado” para as indenizações decorrentes de acidentes aéreos ou extravio de mercadorias e bagagens. de bagagem. Limitação de danos materiais e morais. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. Princípio constitucional da indcnizabilidade irrestrita. Norma prevalecente. Relevância da questão. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a possibilidade de limitação, com fundamento na Convenção de Varsóvia, das indenizações de danos morais e materiais, decorrentes de extravio de bagagem”. Atraso em voo REn. 351.750/RJ, rei. Min. Marco Aurélio, tendo por relator designado o ministro Carlos Britto, j. de 17.03.2009, 1“ T\irma. Inf. 539, 2009: “Recurso Extraordinário. Danos morais decorrentes de atraso ocorrido em voo internacional. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Matéria infraconstitucionaL Não conhecimento. 1. O princípio da defesa do consumidor se aplica a todo o capítulo constitucional da atividade económica. 2. Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Não cabe discutir, na instância extraordinária, sobre a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou sobre a incidência, no caso concreto, de específicas normas de consumo veiculadas em legislação especial sobre o transporte aéreo internacional. Ofensa indireta à Constituição de República. 4. Recurso não conhecido”. STJ - Extravio de mercadoria/bagagem - AgRg. no Ag. n° 827.374/MG, tendo como relator o ministro Sidnci Bcneti, 3“ Turma, j. de 04.09.2008, DJe de 23.09.2008: “Agravo regimental. Transporte aéreo de mercadorias. Extravio ou perda. Ação de indenização. Convenção de Varsó via. Código de Defesa do Consumidor. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio de bagagem ou de carga rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, se o evento se deu em sua vigência, afastando-se a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia. Agravo improvido”. Atraso em voo - REsp n° 299.532/ SP, tendo como relator o ministro Horildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), 4* T\irma, j. de 27.10.2009, DJe 23.11.2009: “Civil e processual civil. Responsabilidade civil. Atraso de voo internacional. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor cm detrimento das regras da Convenção de Varsóvia. Desnecessidade de comprovação do dano. Condenação em franco poincaré. Conversão para DES. Possibilidade. Recurso provido em parte. 1 - A responsabilidade civil por atraso de voo internacional deve ser apurada à luz do Código de Defesa do Consumidor, não se restringindo as situações descritas na Convenção de Varsóvia, eis que aquele traz cm seu bojo a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indcnizável. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opcra-sc, irt re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3 - Não obstante o texto Constitucional assegurar indenização por dano moral sem restrições quantitativas, e do Código de Defesa do Consumidor garantir a indenização plena dos danos causados pelo mau funcionamento dos serviços cm relação ao consumo, o pedido da parte autora limita a indenização ao equivalente a 5.000 francos poincaré, cujos precedentes desta Egrégia Corte determinam a sua conversão para 332 DES (Direito Especial de Saque). 4 - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido”. Prazo prcscricional: RE n° 297.901/RN, rcL Min. EUen Gracie, j. de 07.03.2006, 2* Turma, DJ de 31.03.2006, p. 38: “Prazo prcscricional. Convenção de Varsóvia e Código de Defesa do Consumidor. 1. O art. 5o, § 2o, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, reL Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prcscricional de dois anos. 3. Recurso provido”. 22
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
[2] CONCEITO DE CONSUMIDOR - Consoante já salientado, o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão somente o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negociai. Assim, procurou-se abstrair de tal conceituação componentes de natureza sociológica - “consumidor” é qualquer indivíduo que frui ou se utiliza de bens e serviços e pertence a uma determinada categoria ou classe social - ou então psicológica - aqui se encarando o “consumidor” como o indivíduo sobre o qual se estudam as reações a fim de se indivi dualizarem os critérios para a produção e as motivações internas que o levam ao consumo.9 Igualmente, procurou-se abstrair considerações de ordem literária e até filosófica, embora relevantes para efeitos da análise da publicidade, consoante o magistério de Guido Alpa.10 Para Othon Sidou,11“definem os léxicos como consumidor quem compra para gastar em uso próprio” e, “respeitada a concisão vocabular, o Direito exige explicação mais precisa”, concluindo então que “consumidor é qual quer pessoa, natural ou jurídica, que contrata, para utilização, a aquisição de mercadoria ou a prestação de serviço, independentemente do modo de manifestação da vontade, isto é, sem forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir”. Vê-se que tal conceituação é a que se aproxima mais de perto da adotada pelo Código, eis que acentua tão somente o aspecto econômicojurídico do termo. A lei sueca de proteção ao consumidor, de 1973, conceitua “consumidor” como “a pessoa privada que compra de um comerciante uma mercadoria, principalmente destinada ao seu uso privado e que é vendida no âmbito da atividade profissional do comerciante” (art. Io). Já a do México, de 1976, traz no art. 3o a definição segundo a qual “consumidor é quem contrata, para sua utilização, a aquisição, uso ou desfrute, de bens ou a prestação de um serviço”. 9 Guido Alpa, Tutela dei consumatorc e controlli sulTimpresa, Bologna, Società Editrice II Mulino, 1977. 10 Idem. “Consumir” nesse aspecto (“homem consumidor”) significa ceder sempre às sugestões veiculadas pela publicidade; significa - em última análise - estar sempre de acordo, a fim de que não se rompa o próprio consenso imposto, bem como alienar-se ante a apologia da sociedade de consumo. 11 Proteção ao consumidor, Rio de Janeiro, Forense, 1977, p. 2. 23
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Ainda no que tange ao Direito Comparado, em estudo elaborado por Plínio Lacerda Martins,12 destacamos o seguinte: “Verificamos que na legislação hispânica o conceito de consumidor previsto na lLey Defensa de Consumidores y Usuários’ (Lei espanhola n° 26/84) é aferido por exclusão, ou seja, é considerado consumidor quando há oferta de produto ou serviço a um não profissional (conceito de consumidor definido nos arts. 2o e 3o). Analogicamente, a Lei n° 24/96, que introduziu a legislação de defesa do consumidor em Portugal, estabelece no art. 2o, item n° 1, que se considera consumidor qualquer pessoa que adquirir bens ou serviços prestados como destinatário final, ou seja, na relação produção/consumo este sendo o último desta cadeia, passa a adquirir direitos e proteção de consumidor previsto no referido Código. De igual forma prescreve a lei portuguesa que consumidor é também todo aquele a quem são transmitidos quaisquer direitos, destinados ao uso não profissional, ou seja, uso pessoal ou próprio. Na França, o Code de la Consommation regula as relações de consumo, estabelecendo normas para o equilíbrio entre um profissional e um não profissional (...). Na Itália, o ordenamento jurídico que cuida da relação de consumo é previsto na Lege 28Jt, de 30 Iuglio 1998, que disciplina ‘Dei Diritti dei Consumatori e Degli Utentíy estabelecendo o art. 2o que são consumidores e usuários as pessoas físicas que adquirem ou utilizam bens ou serviços não referindo a atividade empresarial ou mesmo do profissional eventual. Fato relevante destacado pela pesquisa é que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro considera toda pessoa física ou jurídica. Já a legislação consumerista italiana faz referência somente a consumidores às pessoas físicas. Na Suíça não há um Código pró prio, sendo regulado pela Lei Federal complementar de Código Civil suíço, que não possui um conceito específico deixando explícito os direitos das obrigações, ou seja, consumidor (comprador) e fornecedor são obrigados a cumprir simultaneamente suas obrigações. Na Argentina a lLey de Defensa dei Consumidor? (Lei n° 24.240, de 22 de setembro de 1993), estabelece que consumidor ou usuário são as pessoas físicas ou jurídicas que £contratan a título oneroso para su consumo final o benefício próprio o de su grupo familiar o sociaF a aquisição ou locação de coisas móveis, a prestação de serviços e a aquisição de imóveis novos destinados à moradia, inclusos os lotes de terreno adquiridos com o mesmo fim, quando a oferta seja pública e dirigida a pessoas indeterminadas (art. Io). O mesmo dispositivo legal estabelece que não terão o caráter de consumidores ou usuários aqueles que adquirirem, armazenarem, utilizarem ou consumirem bens ou serviços para integrá-los em processos de produção, transformação, comercialização ou empréstimo a terceiros. A pes quisa destacou também que não estão compreendidos na lei do consumidor da Argentina os serviços de profissionais liberais que requeiram para seu exercício título universitário e matrícula outorgada por colégios profissionais reconhecidos oficialmente, fato este contemplado no nosso Código do Consu midor, estabelecendo a responsabilidade dos profissionais liberais no art. 14, 12 Publicado na Revista da APMP-SP, dez.-jan.-fev./2001, ps. 62-66. 24
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 4o, da Lei n° 8.078/90. Outro aspecto interessante destacado pela pesquisa na lei do consumidor da Argentina é que ‘Se excluyen dei âmbito de esta ley los contratos realizados entre consumidores cuyo objeto sean cosas usadas) não podendo o consumidor utilizar o CDC argentino no caso de bens adquiridos que não sejam novos, diversamente do consignado pela nossa legislação do consumidor.13No Uruguai, a Ley n° 17.250, de ‘Defensa dei Consumidor) esta belece no art Io que a relação de consumo é regulada por este ordenamento jurídico, sendo que ‘La presente ley es de orden público’ (idem dispositivo no art. Io do CDC brasileiro). O art. 2o define o conceito de consumidor como sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Não é considerado consumidor ou usuário aquele que utiliza ou consome produtos ou serviços com fim de integrar em processos de produção, transformação ou comercialização. Verifica-se que o conceito é muito semelhante ao conceito brasileiro no art. 2o do CDC. Em relação ao produto/serviço adquirido/utilizado pelo fornecedor como destinatário final, mas com intuito profissional (incorporação e empresa), o conceito de consumidor no Uruguai parece apresentar-se mais avançado que o brasileiro, pois o legislador uruguaio não deixou margem para nenhuma interpretação errônea do que seja consumidor, através de uma norma legal expressa e pre cisa. A legislação uruguaia estabelece ainda que o fornecimento de produtos e a prestação de serviços efetuados gratuitamente, quando se realizam em função de uma eventual relação de consumo, se equiparam às relações de consumo. Isto é, uma empresa, por exemplo, poderá ser responsabilizada e considerada fornecedora, se configurada a relação de consumo, mesmo que o serviço tenha sido feito de maneira gratuita. (...) No Paraguai, a Ley n° 1.334/98, ‘De Defensa dei Consumidor y dei Usuário) regula a proteção e defesa dos consumidores e usuários, estabelecendo o art. 4o do CDC do Paraguai o conceito de consumidor como sendo £toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatário final de biens 13 Por força de legislação posterior, Lei 26.361, de 07.04.2008, os arts. Io e 2o da Lei da Argentina passaram a ter a seguinte redação: “Artículo Io - Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa dei consumidor o usuário, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servidos en forma gratuita u onerosa como destinatário final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisidón de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. Se considera asimismo consumidor el usuário a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servidos como destinatário final, en beneficio propio o de su grupo familiar o sodal, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo. (Artículo sustituído por art. I o de la Ley n° 26.361, B.O. 7/4/2008). Artículo 2o - Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creadón, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribudón y comercialización de bienes y servidos, destinados a consumidores o usuários. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. No están comprendidos en esta ley los servidos de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitário y matrícula otorgada por colégios profesionales reconoddos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vinculan con la publicidad de los servidos, presentadas por los usuários y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denundante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación. (Artículo sustituído por art. 2o de la Ley n° 26.361, B.O. 71412008)”. 25
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
o servidos de cualquier natureza. No Peru o decreto legislativo de 7.11.91, modificado por Decreto-Lei n° 25.868, defende os direitos do consumidor peruano. Estabelece o art. 3o do CDC peruano que ‘se entiende por: Consu midores o usuários, las personas naturales o jurídicas que adquierem, utilizan o disfrutan como destinatários finales productos o servidos\ Na Venezuela a cLey de Protecdón al Consumidor y al Usuário’ (Lei n° 4.898/95) regula as relações de consumo. Estabelece o art. 2o da lei consumerista da Venezuela que ‘se consideran consumidores y usuários a las personas naturales o jurídicas que, como destinatários finales, adquieran, usen o disjruten, a título oneroso, bienes o servidos cualquiera sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes los produzcan, expidan, fadliten, suministren, presten u ordenen \ não contemplando como consumidor as pessoas que adquirem bens e serviços com o fim de integrá-los em processo de produção, transformação e comercialização.” Abstraídas todas as conotações de ordem filosófica, psicológica e ou tras, entendemos por “consumidor” qualquer pessoa física ou jurídica que, isolada ou coletivamente, contrate para consumo final, em benefício próprio ou de outrem, a aquisição ou a locação de bens, bem como a prestação de um serviço. No passo seguinte, iremos analisar o “consumidor”, não encarado do ponto de vista isolado, mas sim coletivamente, sobretudo quando se tem em vista sua sujeição a campanhas publicitárias enganosas e abusivas, ou então ao consumo de produtos e serviços perigosos ou nocivos à saúde e segurança. Desde logo, todavia, não há como escapar da conceituação de con sumidor como um dos partícipes das “relações de consumo”, ou seja, “relações jurídicas por excelência”, embora, e como também já enfatizado, procurando tratar desigualmente pessoas desiguais, levando-se em conta que o consumidor está em situação de manifesta inferioridade ante o for necedor de bens e serviços. Pode-se dessarte inferir que toda relação de consumo: a) envolve basicamente duas partes bem definidas: de um lado, o adquirente de um produto ou serviço (“consumidor*), e, de outro, o fornecedor ou vendedor de um produto ou serviço {“produtor/fornecedor*); b) tal relação destina-se à satisfação de uma necessidade privada do consumidor; c) o consumidor, não dispondo, por si só, de controle sobre a produção de bens de consumo ou prestação de serviços que lhe são destinados, arrisca-se a submeter-se ao poder e condições dos produtores daqueles mesmos bens e serviços. O traço marcante da conceituação de “consumidor”, no nosso entender, está na perspectiva que se deve adotar, ou seja, no sentido de se o con siderar como vulnerável, não sendo, aliás, por acaso, que o mencionado “movimento consumerista” apareceu ao mesmo tempo em que o sindica 26
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
lista, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, em que se reivindicaram melhores condições de trabalho e melhoria da qualidade de vida, e, pois, em plena sintonia com o binômio “poder aquisitivo/aquisição de mais e melhores bens e serviços”. Em razão de tais considerações é que discordamos da definição de “consumidor” concebida por Othon Sidou, quando também considera as pessoas jurídicas como tal para fins de proteção efetiva nos moldes atrás preconizados, ao menos no que tange à sua literal “proteção” ou “defesa” jurídica. E isto pela simples constatação de que dispõem as pessoas jurídicas de força suficiente para sua defesa, enquanto o consumidor, ou, ainda, a cole tividade de consumidores ficam inteiramente desprotegidos e imobilizados pelos altos custos e morosidade crônica da justiça comum. Prevaleceu, entretanto, como de resto em algumas legislações alie nígenas inspiradas na nossa, a inclusão das pessoas jurídicas igualmente como “consumidores” de produtos e serviços, embora com a ressalva de que assim são entendidas aquelas como destinatárias finais dos produtos e serviços que adquirem, e não como insumos necessários ao desempenho de sua atividade lucrativa. Entendemos, contudo, mais racional que sejam consideradas aqui as pessoas jurídicas equiparadas aos consumidores vulneráveis, ou seja, as que não tenham fins lucrativos, mesmo porque, insista-se, a conceituação é indissociável do aspecto da mencionada fragilidade. E, por outro lado, complementando essa pedra de toque do “consumerismo”, diríamos que a “destinação final” de produtos e serviços, ou seja, sem fim negociai, ou “uso não profissional”, encerra esse conceito fundamental. Assim, como bem ponderado pelo prof. Fábio Konder Comparato,14 os consumidores são aqueles “que não dispõem de controle sobre bens de produção e, por conseguinte, devem se submeter ao poder dos titulares destes”, enfatizando ainda que “o consumidor é, pois, de modo geral, aquele que se submete ao poder de controle dos titulares de bens de produção, isto é, os empresários”. Insistimos, ainda neste tópico, na exclusão relativa do próprio forne cedor - considerado seu conceito amplo dado pelo art. 3o do Código em comento, como se verá no passo seguinte - como consumidor. Ao cuidar da questão, José Reinaldo de Lima Lopes15 pondera que, tendo o art. 2o do Código definido como consumidor toda pessoa física ou 14 “A proteção ao consumidor: importante capítulo do Direito Econômico”, in Revista de Direito Mercantil, n“ 15/16, ano XIII, 1974. 15 Responsabilidade civil do fabricante e a defesa do consumidor, Revista dos Tribunais, 1992, ps. 78-79. 27
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, tal enfoque pode perder, a seu ver, “um elemento essencial, que no fundo é o que justifica a existência da própria disciplina da relação de consumo: a subordinação econômica do consumidor”. “É certo”, continua, “que uma pessoa jurídica pode ser consumidora em re lação a outra; mas tal condição depende de dois elementos que não foram adequadamente explicitados neste particular artigo do Código”. E sua ponderação merece destaque, porque revela precisamente o ponto fulcral de toda a discussão, como de resto já se assinalou linhas atrás: “Em primeiro lugar, o fato de que os bens adquiridos devem ser bens de con sumo e não bens de capital. Em segundo lugar, que haja entre fornecedor e consumidor um desequilíbrio que favoreça o primeiro. Em outras palavras, o Código de Defesa do Consumidor não veio para revogar o Código Comer cial ou o Código Civil no que diz respeito a relações jurídicas entre partes iguais, do ponto de vista econômico. Uma grande empresa oligopolista não pode valer-se do Código de Defesa do Consumidor da mesma forma que um microempresário. Este critério, cuja explicitação na lei é insuficiente, é, no entanto, o único que dá sentido a todo o texto. Sem ele, teríamos um sem sentido jurídico.” Cita ainda interessante entendimento jurisprudencial norte-americano, demonstrando a tendência de se levar em conta a posição econômica do consumidor, como sugerido em suas ponderações, a saber:16 “Alguns tribunais têm feito distinção entre perdas econômicas experimentadas pelo consumidor comum e perdas sofridas em transações econômicas primárias (...). Para o juiz Peters (no caso Seely), o homem que dispõe de um caminhão apenas para conduzir seu negócio é um consumidor com relação ao grande fabricante do caminhão com relação ao qual dificilmente se poderia dizer que tivesse igual poder de barganha (...). Cada vez com maior intensidade a ênfase nos casos de perda econômica parece desviar-se do critério da natureza dos danos para o da consideração da relação entre as partes” (Noel & Phillips, Products liability, cit., p. 326). Não menos perspicaz é a observação de Claudia Lima Marques17 ao sintetizar as duas grandes tendências do consumerismo ao interpretarem o art. 2o do Código Brasileiro do Consumidor: a dos finalistas e a dos maximalistas. 16 Op. cit., com tradução livre dcstc autor - citação do original em inglês. 17 Contratos no Código de Defesa do Consumidor - o novo regime das relações contratuais, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992, ps. 67-69. 28
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
“Para os finalistas, pioneiros do consumerismo”, assinala, “a definição de consumidor é o pilar que sustenta a tutela especial, agora concedida aos consumidores. Esta tutela só existe porque o consumidor é a parte vulne rável nas relações contratuais no mercado, como afirma o próprio CDC no art. 4o, inc. I. Logo, convém delimitar claramente quem merece esta tutela e quem não a necessita, quem é o consumidor e quem não é. Propõem, então, que se interprete a expressão ‘destinatário final’ do art. 2ode maneira restrita, como requerem os princípios básicos do CDC, expostos nos arts. 4o e 6o”. E, nessa hipótese, não bastaria a interpretação meramente teleológica ou que se prenda à destinação final do serviço ou do produto. Consumidor seria apenas aquele que adquire o bem para utilizá-lo em proveito próprio, satisfazendo uma necessidade pessoal e não para revenda ou então para acrescentá-lo à cadeia produtiva. “Esta interpretação”, conclui, “restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família; con sumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável”.18 Quanto aos maximalistas, pondera a autora citada, “veem nas normas do CDC o novo regulamento do mercado de consumo brasileiro, e não normas orientadas para proteger somente o consumidor não profissional”. E merece destaque o ponto a seguir tratado: “O CDC seria um Código geral sobre o consumo, um Código para a sociedade de consumo, o qual institui normas e princípios para todos os agentes do mercado, os quais podem assumir os papéis ora de fornecedo18 Cf. o CC n° 92.519/SP - CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2007/0290797-4, tendo como relator o Ministro Fernando Gonçalves, da 2* Seção do STJ, j. de 16.02.2009, DJe de 04.03.2009: “Conflito de competência. Sociedade empresária. Consumidor. Destinatário final econômico. Não ocorrência. Foro de eleição. Validade. Relação de consumo e hipossuficiência. Não caracterização. 1 - A juris prudência desta Corte scdimcnta-sc no sentido da adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora em eventual relação de consumo, devendo, portanto, ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido (REsp n° 541.867/BA). 2 - Para que o consumidor seja considerado destinatário econômico final, o produto ou serviço adquirido ou utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade económica por ele desenvolvida; o produto ou serviço deve ser utilizado para o atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor. 3 - No caso em tela, não se verifica tal circuns tância, porquanto o serviço de crédito tomado pela pessoa jurídica junto à instituição financeira decerto foi utilizado para o fomento da atividade empresarial, no desenvolvimento da atividade lucrativa, de forma que a sua circulação econômica não se encerra nas mãos da pessoa jurídica, sociedade empresária, motivo pdo qual não resta caracterizada, in casu, relação de consumo entre as partes. 4 - Cláusula de eleição de foro legal e válida, devendo, portanto, ser respeitada, pois não há qualquer circunstância que evidencie situação de hipossuficiência da autora da demanda que possa dificultar a propositura da ação no foro eleito. 5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 12“ Vara da Seção Judiciária do Estado de São Paulo”. 29
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
res, ora de consumidores. A definição do art. 2o deve ser interpretada o mais extensivamente possível, segundo esta corrente, para que as normas do CDC possam ser aplicadas a um número cada vez maior de relações de mercado. Consideram que a definição do art. 2o é puramente objetiva, não importando se a pessoa física ou jurídica tem ou não fim de lucro quando adquire um produto ou utiliza um serviço. Destinatário final se ria o destinatário fático do produto, aquele que o retira do mercado e o utiliza, o consome; por exemplo, a fábrica de celulose que compra carros para o transporte dos visitantes, o advogado que compra uma máquina de escrever para o seu escritório, ou mesmo o Estado quando adquire canetas para uso nas repartições e, é claro, dona de casa que adquire produtos alimentícios para a família.”19 Consoante já tivemos a oportunidade de salientar linhas atrás, na verdade, o critério conceituai do Código brasileiro discrepa da própria filosofia consumerista ao colocar a pessoa jurídica como também consu midora de produtos e serviços. E isto exatamente pela simples razão de que o consumidor, geralmente vulnerável como pessoa física, defronta-se com o poder econômico dos fornecedores em geral, o que não ocorre com estes que, bem ou mal, grandes ou pequenos, detêm maior informação e meios de defenderem-se uns dos outros quando houver impasses e con flitos de interesses. Aliás, é basicamente, hoje, o Código Civil, consubstanciado na Lei n° 10.406, de 10.1.2002, o repositório desses interesses e direitos, e não propriamente o Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, consagra o novo estatuto civil material um livro inteiro ao “Direito de Empresa”, desde a caracterização de empresário e sua inscrição como tal, passando depois pela sua capacidade, sociedades empresariais etc. Todavia, como o mesmo Código do Consumidor contempla a pessoa jurídica como consumidora, a interpretação deve ser objetiva e caso a caso. Dizer-se, como querem os assim denominados pela autora retrocitada “maximalistas”, que se aplica o Código, sem qualquer distinção, às pessoas jurídicas, ainda que fornecedoras de bens e serviços, seria negar-se a própria epistemologia do microssistema jurídico de que se reveste. E nesse sentido parece-nos essencial verificar-se o seguinte: 19 Cf. aresto do STF, no REsp n° 488.274/MG, tendo como relatora a ministra Nancy Andrighi, 3* Turma, j. de 22.05.2003: “Recurso Especial. Código de Defesa do Consumidor. Prestação de serviços. Destinatário final. Juízo competente. Foro de eleição. Domicílio do autor. - lnscrc-sc no conceito de ‘destinatário final’ a empresa que se utiliza dos serviços prestados por outra, na hipótese em que se utilizou de tais serviços cm benefício próprio, não os transformando para prosseguir na sua cadeia produtiva. - Estando a relação jurídica sujeita ao CDC, deve ser afastada a cláusula que prevê o foro de eleição diverso do domicílio do consumidor. - Recurso especial conhecido e provido”. 30
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
a) se o “consumidor-fornecedor” na hipótese concreta adquiriu bem de capital ou não; b) se contratou serviço para satisfazer uma necessidade ou que lhe é imposta por lei ou natureza de seu negócio, principalmente por órgãos públicos. No primeiro caso, trazemos como exemplo a aquisição de alimentos, preparados ou não, para fornecimento aos operários de uma fábrica ou en tão a compra de máscaras protetoras contra poeiras tóxicas. No segundo, a contratação de serviços de dedetização de um galpão industrial ou serviços de educação para a creche construída para os filhos dos operários. Resta evidente, por conseguinte, que eventuais deteriorações ou con taminações dos referidos alimentos em prejuízo da empresa adquirente a transforma em manifesta consumidora, assim como na hipótese de descumprimento das normas atinentes à fabricação das mencionadas máscaras contra poeiras tóxicas. Ou ainda, e por fim, no caso de prestação de serviços de educação de forma insuficiente ou em desacordo com o que ficara estipulado. Diferentemente, não pode ser considerada consumidora a empresa que adquire máquinas para a fabricação de seus produtos ou mesmo uma copiadora para seu escritório e que venha a apresentar algum vício. Isto porque referidos bens certamente entram na cadeia produtiva e nada têm a ver com o conceito de destinação final. A vulnerabilidade econômica também deve ser levada em conta para a distinção.20 Suponha-se, ainda no campo dos exemplos, uma fundação ou associação sem fins lucrativos e beneficentes. Ninguém por certo negará sua condição de consumidoras ao adquirirem produtos defeituosos ou contratarem serviços deficientes. 20 Conforme a precisa lição de Antônio Carlos Morato, Pessoa Jurídica Consumidora. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 31: “Ora, o que a lei busca é compensar a vulnerabilidade do con sumidor, não podemos afirmar que há uma 'hipossuficiência natural’, inerente ao consumidor, visto que há consumidores em todas as camadas do tecido social. Podemos, isto sim, afirmar que existe uma vulnerabilidade natural do consumidor que engloba a hipossuficiência, que é espécie do gênero vulnerabilidade. O elemento nuclear para o conceito de consumidor é que este seja o destinatário final de um produto ou de um serviço, sendo o próprio elo final na cadeia de consumo, ou ainda, em termos mais didáticos, alguém é considerado consumidor porque esgota, porque fa z uso, porque consome aquele produto ou serviço que lhe é fornecido. Ao lado desse elemento, ocorrendo a destinação final, a pessoa jurídica deverá estar em uma situação de vulnerabilidade, que não se confunde com privação de recursos financeiros. Na verdade, já afirmamos aqui, a chamada hipossuficiência (vulnerabilidade econômica) é uma das espécies do gênero vulnerabilidade. A hipossuficiência, insistimos, é espécie de vulnerabilidade, sendo esta sim absolutamente natural nas relações de consumo, porque se fundamenta na impossibilidade de que alguém detenha conhecimentos suficientemente amplos em todos os setores produtivos, a ponto de privá-la por completo de uma decisão livre no ato de consumo". 31
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Embora, em princípio, repita-se, não se conceba a pessoa jurídica como consumidora, a realidade é que o próprio texto legal sob análise assim dispõe. Fá-lo, todavia, de maneira limitada, não apenas em decorrência do princípio da vulnerabilidade da pessoa jurídica-consumidora, tal como a pessoa física, como também pela utilização não profissional dos produtos e serviços. Dissemos de forma limitada, já que o art. 51 do Código do Consumi dor, que cuida das chamadas cláusulas abusivas, tidas como nulas de pleno direito, em seu inc. I, ao estabelecer serem assim consideradas aquelas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos, ressalva que, “nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor-pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis” Cada caso, portanto, deverá ser analisado em separado, até porque o Código é, em princípio, destinado às pessoas mais fragilizadas no mercado de consumo, sendo a pessoa jurídica considerada como tal se equiparável à pessoa física. Interessante, por fim, salientar, neste passo, que algumas decisões judiciais, embora concernentes a conflitos entre não consumidores, mas comerciantes, têm aplicado para sua dirimição preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Se por um lado isso é salutar, já que o Código do Consumidor, além de enunciar princípios que lhe são próprios, apenas relembra princípios tão antigos quanto a própria consciência do Direito pelos povos mais antigos (equilíbrio, boa-fé, harmonia etc.), e que devem permear todas as relações humanas, por outro lado estende demasiadamente seu raio de ação. Algumas decisões, por exemplo, apegam-se às condições gerais dos contratos estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, já a partir do seu art. 30, e mais marcadamente no que tange às práticas e cláusulas contratuais abusivas, ainda que as partes não sejam, a rigor, consumidoras, esquecendo-se de princípios semelhantes já existentes no Código Civil de 1916, por exemplo, e revigorados no ora vigente. Desta forma, bem andou o legislador ao traçar, no Código Civil de 2002, uma disciplina semelhante à do Código do Consumidor, no que tange às condições gerais dos contratos (Título V), dispondo, por exemplo, em seu art. 421, que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. Ou ainda, em seu art. 422, que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. E em arremate a essa ordem de ideias, veja-se o que dispõe o art. 423, ainda do ora vigente Código Civil: “Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas 32
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.” Ora, isto quer dizer que, embora os princípios ora enunciados de maneira explícita estivessem já difusos no ordenamento jurídico nacio nal, num primeiro momento os julgadores preferiram aplicar aqueles já previstos no Código do Consumidor, como no caso da boa-fé, equilíbrio, vulnerabilidade, em face da parte mais forte contratante, embora em mui tos casos não se cuidassem de relações propriamente de consumo, a teor do já explicitado; e, num segundo momento, o próprio legislador achou por bem estender esses princípios a relações que não de consumo, mas de cunho nitidamente civil e comercial. Talvez doravante não haja mais a necessidade de aplicação do Código do Consumidor, de forma analógica, àquelas relações não de consumo, portanto. Ou seja, partes em pé de igualdade, presuntivamente, merecerão, a partir dos enunciados do Código Civil, praticamente o mesmo tratamento outrora dispensado pelos princípios inovadores do Código do Consumidor. Sempre se deverá ter em vista, entretanto, que tais relações se dão no campo do Direito Privado, de cunho civil e comercial.21Apesar disso, vejamos o teor de acórdão proferido pelo STJ, pela sua 3a Turma, tendo como relatora a min. Nancy Andrighi (Recurso Especial n° 476.428/SC, j. de 19.4.2005, in DJU de 9.5.2005, p. 390): “Direito do consumidor. Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa jurídica. Excepcionalidade. Vulnerabi21 Cf., por exemplo, a Apelação Cível n° 195.114.319, apelante Finasa Leasing Arrendam ento Mer cantil S/A e apelada Som Center Comércio de Aparelhos de Som e Elétricos, decisão unânime, j. de 27.2.96, rcl. juiz Jorge Luís DalTAgnol: “1. Arrendam ento mercantil. Ação ordinária de acertamento de relações mercantis. Cumulada com fixação de contraprestação mensal e ressar cimento de quantias cobradas a maior. Precedida de cautelar inominada. Aplicação de índice não estabelecido contratualmente. Código de Defesa do Consumidor. Princípio da autonomia da vontade. Redução do seu alcance. Controle do conteúdo dos contratos de consumo pelo Poder Judiciário. Cláusulas abusivas. Vantagem excessiva de um a das partes. Não cabimento. 2. Correção monetária. Impcriosidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Juros. Sucumbência. Honorários advocatícios.” Igualmente em ação declaratória de nulidade de contrato de promessa de compra e venda mercantil e comodato de posto de gasolina, o Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Curitiba, Autos n° 633/94, entre as partes Posto de Gasolina Tan Tan Ltda. versus Esso Brasileira de Petróleo Ltda., o juiz João Domingos Küster Puppi, por sentença registrada em 26.3.96, decidiu pela inexistência de vínculo obrigacional entre as partes, reconhecendo que o contrato se extinguiu com o escoamento do prazo previsto, declarando ainda nula a cláusula de renovação automática condicionada à revenda de quantidade mínima de produtos, condenando a ré, além do mais, no pagamento das custas e despesas do processo, bem como nos honorários advocatícios do patrono do autor. E, da mesma forma, o 2o Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, na Apelação Cível n° 446.977-00/7, pela sua 12a Câmara, em julgamento de 29.2.96, tendo como relator o juiz Luís de Carvalho, assim se manifestou em questão relativa a locação de imóvel: “Ação ordinária de despejo. Contrato de locação em vigor. Existência de acordo para desocupação antes do térm ino do contrato. Caracterização de fraude. Distrato assinado concomitantcmcnte com o contrato de locação. Conduta reveladora de violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consum idor c aos princípios éticos do Direito. Ação improcedente. Recurso improvido.” 33
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
lidade. Constatação na hipótese dos autos. Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e composição do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do compromisso. Vício oculto. - A relação jurídica qualificada por ser £de consumo’ não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus poios, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (con sumidor), e de um fornecedor, de outro. - Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo. - São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas. - Não se conhece de matéria levantada em sede de embargos de declaração, fora dos limites da lide (inovação recursal). Recurso especial não conhecido.” Ainda nesse aspecto, o aresto proferido no RMS n° 27.512/BA, tendo como relatora a ministra Nancy Andrighi, 3a Turma do STJ, em julgamento de 20.8.2009, DJe de 23.9.2009: “Processo civil e consumidor. Agravo de instrumento. Concessão de efeito suspensivo. Mandado de segurança. Cabimento. Agravo. Deficiente formação do instrumento. Ausência de peça essencial Não conhecimento. Relação de consumo. Caracterização. Destinação final fática e econômica do produto ou serviço. Atividade empresarial. Mitigação da regra. Vulnerabilidade da pessoa jurídica. Presunção relativa. [...] - A jurisprudência consolidada pela 2a Seção deste STJ entende que, a rigor, a efetiva incidência do CDC a uma relação de consumo está pautada na existência de destinação final fática e econômica do produto ou serviço, isto é, exige-se total desvinculação entre o destino do produto ou serviço consumido e qualquer atividade produtiva desempe nhada pelo utente ou adquirente. Entretanto, o próprio STJ tem admitido o temperamento desta regra, com fulcro no art. 4o, I, do CDC, fazendo a lei consumerista incidir sobre situações em que, apesar de o produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra. - Uma interpretação sistemática e teleológica do CDC aponta para a existência de uma vulnerabilidade presumida do consumidor, inclusive pessoas jurídicas, visto que a imposição de limites à presunção de vulnerabilidade implicaria restrição excessiva, incompatível com o próprio espírito de facilitação da defesa do consumidor e do reconhecimento de sua hipossuficiência, circunstância que não se coaduna com o princípio constitucional de defesa do consumidor, previsto nos arts. 5o, XXXII, e 170, V, da CF. Em suma, prevalece a regra geral de que a caracterização da condição de consumidor exige destinação final fática e econômica do bem ou serviço, 34
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
mas a presunção de vulnerabilidade do consumidor dá margem à incidência excepcional do CDC às atividades empresariais, que só serão privadas da proteção da lei consumerista quando comprovada, pelo fornecedor, a não vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica. - Ao encampar a pessoa jurídica no conceito de consumidor, a intenção do legislador foi conferir pro teção à empresa nas hipóteses em que, participando de uma relação jurídica na qualidade de consumidora, sua condição ordinária de fornecedora não lhe proporcione uma posição de igualdade frente à parte contrária. Em outras palavras, a pessoa jurídica deve contar com o mesmo grau de vulnerabilidade que qualquer pessoa comum se encontraria ao celebrar aquele negócio, de sorte a manter o desequilíbrio da relação de consumo. A ‘paridade de armas’ entre a empresa-fomecedora e a empresa-consumidora afasta a presunção de fragilidade desta. Tal consideração se mostra de extrema relevância, pois uma mesma pessoa jurídica, enquanto consumidora, pode se mostrar vulnerável em determinadas relações de consumo e em outras não. Recurso provido”. E, no mesmo sentido, o Recurso Especial n° 684.613/SP (rei. min. Nancy Andrighi, j. de 21.6.2005, 3a Turma do STJ, in DJU de 1.7.2005, p. 530). Mais recentemente, todavia, o STJ, no Conflito de Competência n° 2004/0147617-1, por sua 2a Seção, sendo relator o min. Jorge Scartezzini, em j. de 8.3.2006, entendeu que a compra por hospital de equipamentos médicos não pode ser considerada relação de consumo. Com efeito: “1. A 2a Seção deste Colegiado pacificou entendimento acerca da não abusividade de cláusula de eleição de foro constante de contrato referente à aqui sição de equipamentos médicos de vultoso valor. Concluiu-se que, mesmo em se cogitando de configuração de relação de consumo, não se haveria de falar na hipossuficiência da adquirente de tais equipamentos, presumindo-se, ao revés, a ausência de dificuldades ao respectivo acesso à justiça e ao exercício do direito de defesa perante o foro livremente eleito. Precedentes. 2. Na assentada do dia 10.11.2004, porém, ao julgar o REsp. n° 541.867/BA, a 2a Seção, quanto à conceituação de consumidor e, pois, à caracterização de relação de consumo, adotou a interpretação finalista, consoante a qual se reputa imprescindível que a destinação final a ser dada a um produto/serviço seja entendida como econômica, é dizer, que a aquisição de um bem ou a utilização de um serviço satisfaça uma necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou jurídica, e não objetive a incrementação de atividade profissional lucrativa. 3. In casu, o hospital adquirente do equipamento médico não se utiliza do mesmo como destinatário final mas para desenvolvimento de sua própria atividade negociai; não se caracteriza, tampouco, como hipossuficiente na relação contratual travada, pelo que, ausente a presença do consumidor, não se há de falar em relação merecedora de tutela legal especial. Em outros termos, ausente a relação de consumo, afasta-se a incidência do CDC, não se havendo falar em abusividade de cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes, em atenção ao princípio da autonomia volitiva dos contratantes” (in DJU de 20.3.2006, p. 189). 35
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Mesmo após a entrada em vigor, em 2003, do Código Civil de 2002, que resgatou diversos valores já encontradiços no Código de Defesa do Consumidor, conforme assinalado passos atrás, essa matéria não parecia pacificada. Com efeito, no Agravo Regimental n° 656.816/MG, tendo por relator o min. Aldir Passarinho Jr., em julgamento da 4a Turma do STJ, no dia 28.6.2005, decidiu da seguinte maneira feito relativo à execução de cédula ruraly o que nos parece totalmente infundado, a saber: “Civil. Contrato bancário. Execução. Cédula de crédito rural. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Precedentes. I. Nos termos da Súmula n° 297/ STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. II. Jurisprudência desta Corte tem admitido a incidência da Lei n° 8.078/90 também nos contratos de cédula de crédito rural. Precedentes: AgR-Resp. n° 292.571/MG, rei. min. Castro Filho, DJ 6.6.2002, p. 286; REsp. n° 337.957/RS, de minha relatoria, DJ 10.2.2003, p. 214; REsp. n° 586.634/MT, rei. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 17.12.2004, p. 531; AgRg no REsp. n° 671.866/ SP, rei. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 9.5.2005, p. 402; AgRg no Ag. n° 431.239/GO, reL min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 1.2.2005, p. 538. III. Agravo regimental não provido” (itt DJU de 5.9.2005, p. 422). O mesmo entendimento pode ser encontrado no acórdão proferido em sede de Recurso Especial n° 660.026/RJ (rei. min. Jorge Scartezzini, 4a Turma do STJ, j. de 3.5.2005, in DJU de 27.6.2005, p. 409). Cf., ainda, o Recurso Especial n° 661.137/SP, da 4a Turma do STJ, tendo como relator o min. Fernando Gonçalves, em j. de 26.4.2005, in DJU de 23.5.2005, p. 299): “Processo civil. Contrato. Arrendamento mercantil. Aparelhos eletrônicos. Diagnóstico médico. Foro de eleição. Validade. CDC. Hipossuficiência. Afastamento. 1. Em contrato de arrendamento mercantil de sofisticados aparelhos de diagnóstico médico é válido o foro de eleição, porque não se aplica o CDC e, por isso mesmo, fica afastada a alegação da hipossu ficiência do arrendante. Precedentes da 2a Seção. 2. Recurso especial não conhecido.” Ou, ainda, no Recurso Especial n° 541.867/BA (relator o min. Antônio de Pádua Ribeiro, 2a Seção do STJ, j. de 10.11.2004, in DJU de 16.5.2005, p. 227): “Competência. Relação de consumo. Utilização de equipamento e de serviços de crédito prestado por empresa administradora de cartão de crédito. Destinação final. Inexistente. - A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar 36
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
a sua atividade negociai, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca.” Também nesse sentido o acórdão do STJ em sede de REsp n° 1084291/ RS, rei. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. de 5.5.2009, DJe de 4.8.2009: “Recurso especial. Exceção de incompetência. Pessoa jurídica. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Impossibilidade, na espécie. Vulnera bilidade. Não caracterização. Entendimento obtido da análise do conjunto fático probatório. Impossibilidade de reexame nesta instância especial. Inteligência da Súmula n° 7/STJ. Cláusula de eleição do foro. Contrato de adesão. Licitude, em princípio. Previsão contratual que não impede o regular exercício do direito de defesa do aderente. Abusividade descaracte rizada. Alegação de dissídio jurisprudencial. Ausência de similitude fática. Precedentes. Recurso especial a que nega provimento. 1. São aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, desde que sejam destinatárias finais de produtos ou serviços e, ainda, vulneráveis. Afastada na origem a vulnerabilidade da sociedade empresária recorrente, inviável é a aplicação, in casu, da lei consumerista. 2. A cláusula de elei ção de foro inserta em contrato de adesão não é, por si, nula de pleno direito. Contudo, em hipóteses em que da sua obrigatoriedade resultar prejuízo à defesa dos interesses do aderente, o que não ocorre na espécie, é de rigor do reconhecimento de sua nulidade. 3. A admissibilidade do apelo nobre pela alínea ‘c do permissivo constitucional, exige, para que haja a correta demonstração da alegada divergência pretoriana, o cotejo analítico, expondo-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a perfeita similitude fática entre o acórdão impugnado e os paradigmas colacionados. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” É mister acrescentar, ainda nesse passo, que a pedra de toque para que se considere que uma dada relação jurídica é ou não de consumo é a destinação final (de caráter prevalecente) e a vulnerabilidade (de caráter secundário). Sim, pois se não fosse isso, sobretudo diante da vigência do citado Código Civil de 2002, não haveria necessidade de um Código de Defesa do Consumidor, já que a maioria dos princípios por ele elencados pioneiramente em 1990 ali foram oportunamente embutidos. E, com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou esta questão no sentido de que a compra e venda de insumos agrícolas, por exemplo, não é relação de consumo: 37
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
“Conflito positivo de competência. Medida cautelar de arresto de grãos de soja proposta no foro de eleição contratual. Expedição de carta precatória. Conflito suscitado pelo juízo deprecado, ao entendimento de que tal cláusula seria nula, porquanto existente relação de consumo. Contrato firmado entre empresa de insumos e grande produtor rural. Ausência de prejuízos à defesa pela manutenção do foro de eleição. Não configuração de relação de consumo. - A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência da relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. - A juris prudência do STJ entende ainda que deva prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo (porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora do contrato celebrado entre as partes). Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 33a Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP, suscitado, devendo o juízo suscitante cumprir a carta precatória por aquele expedida” (CC 64.524 - MT (2006/0123705-0), Rei. Min. Nancy Andrighi, DJ de 9.10.2006, grifos nossos). Conforme assinalado no texto do v. acórdão ora colacionado, exatamente dando conta da existência anterior de alguns outros arestos que profligavam a posição maximalista, ou seja, com vistas a se estender ao máximo o conceito de consumidor - mas totalmente superados assim se manifesta a douta relatora do acórdão acima referido, e uma das autoridades nessa matéria, a saber: “(...) II - b) Da existência de relação de consumo entre produtor rural e empresa fabricante de insumos agrícolas. É sabido que há duas teorias a res peito da configuração da definição de consumidor: a subjetiva ou finalista, e a subjetiva ou maximalista. Esta exige, apenas, a existência de destinação final fática do produto ou serviço, enquanto aquela, mais restritiva, exige a presença de destinatário final fática e econômica. Com isso, quer-se dizer que, para o conceito subjetivo ou finalista, exige-se total desvinculação entre o destino do produto ou serviço consumido e qualquer atividade produtiva desempenhada pelo utente ou adquirente; portanto, a empresa que adquire um caminhão para transportar as mercadorias que produz não deve ser considerada consumidor em relação à montadora, na medida em que tal veículo, de alguma forma, integra sua cadeia produtiva. Já para o conceito objetivo ou maximalista, basta o ato de consumo, com a destinação final fática do produto ou serviço para alguém, que será considerado consumidor destes, pouco importando se a necessidade a ser suprida é de natureza pessoal ou profissional. Sob tal perspectiva, o cami nhão comprado com o intuito de auxiliar no transporte de mercadorias de uma empresa atinge, nessa atividade, sua destinação final, uma vez que não será objeto de transformação ou beneficiamento” (grifos nossos). E prossegue a douta relatora, inclusive, comentando os arestos exata mente colacionados pelos autores-apelados, já superados, a saber: 38
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
“O levantamento histórico da jurisprudência do STJ demonstra que, até meados de 2004, a 3a Turma tendia a adotar a posição maximalista, enquanto a 4a Turma tendia a seguir a correntefinalista, conforme levantamento transcrito no voto-vista que proferi no CC n° 41.056/SP, julgado pela 2a Seção em 23.06.2004. Entre os acórdãos da 3a Turma ali citados, há dois que apresentam relevo para a presente hipótese. O primeiro deles, o Resp. n° 208.793/MT, Rei. Min. Menezes Direito, DJ de 01.08.2000, com base na teoria maximalista, entendeu existir relação de consumo entre produtor rural e empresa fornecedora de adubo, pois a utilização deste pelo agricultor representaria o fim da cadeia produtiva relativa ao fertilizante, nos termos da seguinte ementa: ‘Código de Defesa do Consumidor. Destinatário final: conceito. Compra de adubo. Prescrição. Lucros cessantes. 1. A expressão destinatário final, cons tante da parte final do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, alcança o produtor agrícola que compra adubo para o preparo do plantio, à medida que o bem adquirido foi utilizado pelo profissional, encerrando-se a cadeia produtiva respectiva, não sendo objeto de transformação ou beneficiamento. 2. Estando o contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor a prescrição é de cinco anos. 3. Deixando o Acórdão recorrido para a liquidação por artigos a condenação por lucros cessantes, não há prequestionamento dos artigos 284 e 462 do Código de Processo Civil, e 1.059 e 1.060 do Código Civil, que não podem ser superiores ao valor indicado na inicial. 4. Recurso especial não conhecido’ (REsp n° 208.793/MT; 3a Turma, Rei. Min. Menezes Direito, DJ de 1.8.2000). “Em contexto semelhante, no REsp n° 445.854/MS, Rei. Min. Castro Filho, DJ de 19.12.2003, a 3a Turma entendeu que havia relação de consumo entre agricultor e financeira, quando aquele compra colheitadeira de algodão para incrementar sua produção (...) Tais acórdãos são, claramente, fundados na teoria objetiva ou maximalista, pois levam em conta, apenas, a destinação final fática do produto ou serviço, e não sua destinação fática econômica, que, tanto na hipótese da compra do adubo, quanto na hipótese da compra de colheitadeira, é a de incrementar a atividade produtiva do agricultor. Contudo, em 10.11.2004, a 2a Seção, no julgamento do Resp n° 541.867/BA, Rei. pl Acórdão o Min. Barros Monteiro (DJ de 16.05.2005), acabou por firmar entendimento centrado na teoria subjetiva ou finalista, em situação fática na qual se analisava a prestação de serviços de empresa administradora de cartão de crédito a estabelecimento comercial. Naquela oportunidade, ficou estabelecido que a facilidade relativa à oferta de meios de crédito eletrônico como forma de pagamento devia ser considerada um incremento da atividade empresarial, afastando, assim, a existência de destinação final do serviço. “O acórdão está assim ementado: *Competência. Relação de consumo. Utilização de equipamento e de serviços de crédito prestado por empresa administradora de cartão de crédito. Destinação final inexistente. - A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de imple mentar ou incrementar a sua atividade negociai, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. - Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara 39
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca. “Na presente hipótese, verifica-se que a empresa forneceu ao produtor ru ral ‘diversos produtosnos termos da petição de arresto afls. 16/24, sendo que sua área de atuação é, especificamente, a de defensivos agrícolas (fls. 17). Nesses termos, e adotando-se o entendimento atual da 2a Seção que provocou a superação daqueles precedentes da 3a Turma suprarreferidos, não há como se ter por configurada uma relação de consumo. Defensivos agrícolas guardam nítida relação de pertinência com a atividade agrícola direcionada ao plantio de soja, pois entram na cadeia de produção desta e contribuem diretamente para o sucesso ou insucesso da colheita como ver dadeiros insumos. Afinal, nos termos do voto-vista que proferi no CC n° 41.056/SP, ao tratar da teoria subjetiva, esclareci que, de acordo com tal entendimento: ‘Como o bem ou serviço serão empregados no desenvolvi mento da atividade lucrativa, a circulação econômica não se encerra nas mãos da pessoa natural (profissional ou empresário) ou jurídica (sociedade simples ou empresário) que os utilize. É de se notar, que para os defen sores desta corrente, pouco importa se o bem ou serviço adquirido será revendido ao consumidor (diretamente ou por transformação, montagem ou beneficiamento) ou simplesmente agregado ao estabelecimento empre sarial (por exemplo: maquinário adquirido para a fabricação de produtos, veículo utilizado na entrega de mercadorias, móveis e utensílios que irão compor [rectius, compor] o estabelecimento, programas de computador e máquinas utilizadas para controle de estoque ou gerenciamento): a sua utilização direta ou indireta, na atividade econômica exercida, descaracteriza a destinação ou fruição final do bem, transformando-o em instrumento do ciclo produtivo de outros bens ou serviços’. Levando-se em conta que a função precípua do STJ é pacificar o entendimento a respeito da interpre tação da Lei Federal, e em que pese minha ressalva pessoal, é de se ter por superados os precedentes da 3a Turma que aplicavam, em relações jurídicas semelhantes à presente, a disciplina protetiva do CDC, em face do atual entendimento restritivo que vigora quanto à necessidade de destinação final f ática e econômica do produto ou serviço.”22 Desta forma, tem-se claríssimo que o entendimento atual da 2a Se ção do Superior Tribunal de Justiça superou o anterior da sua 3a Turma, segundo a qual insumos agrícolas (e . g fertilizantes, defensivos agrícolas, rações animais, máquinas e equipamentos) não se constituem em objetos de consumo, ou seja, na nomenclatura do Código do Consumidor (art. 3°, §§ Io e 2o) produtos/serviços. E isto pela simples razão de que entram na cadeia produtiva agrícola (i.e., em, culturas de algodão, soja, milho, e outros 22 STJ, CC n° 64.524 - MT (2006/0123705-0), Rcl. Min. Nancy Andrighi, DJ dc 9.10.2006, destaques nossos em negrito. 40
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
produtos, além de animais) que se constituem na própria finalidade dos negócios de todo empreendedor rural. Observe-se, com efeito, que os arestos tão primorosamente coligidos pelos doutos patronos dos ora apelados são todos anteriores a esse enten dimento pacificador. Entretanto, não é só.Veja-se, ainda, o aresto abaixo colacionado, proferido em 29 de setembro de 2008, e publicado no dia 29 de setembro último (2008), tendo por relator o ministro Aldir Passarinho Jr.: “Civil. Ação declaratória. Contrato de permuta. Sacas de arroz por insumo agrícola (adubo). Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Destinação final inexistente. I - A segunda Seção disciplinou que ca aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de im plementar ou incrementar a sua atividade negociai, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária (Resp. n° 541.867-BA. Rei. Min. Barros Monteiro, DJU de 16/05/2005). II - Recurso especial não conhecido”. E no corpo do aresto destacamos as seguintes ponderações: “(...) No tocante à tese defendida pela recorrente pela aplicação dos dispositivos da Lei n° 8.078/1990 à avença, tenho que o recurso não merece prosperar. Embora faça ressalva sobre incidência da corrente finalista ou subjetiva para definir-se afigura do consumidor, esta Cortefirmou entendimento pela sua ado ção, como denota da ementa do julgado que dirimiu a controvérsia na colenda Segunda Seção: ‘Competência. Relação de consumo. Utilização de equipamento e de serviços de crédito prestado por empresa administradora de cartão de crédito. Destinação final inexistente. - A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incre mentar a sua atividade negociai, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca* (Resp. n° 541.867/BA, ReL p/ acórdão Min. Barros Monteiro, por maioria, DJU de 16.05.2005)” (grifos nossos). E o v. acórdão ora citado arremata, de modo insofismável: “Na hipótese em comento, a recorrente contratou a permuta de 532 sacos de arroz de sua produção agrícola com 15 toneladas de adubo químico NPK 94-12-08 produzidos pela recorrida. Vê-se que a autora/recorrente buscou junto à ré a obtenção de insumos para investir em sua atividade comercial, não como destinatária final, de acordo com o entendimento sufragado no 41
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
precedente supracitado” (cf. REsp n° 1.014.960/RS, rei. Min. Aldir Passarinho Jr., 4a Turma do STJ, j. de 2.9.2008, DJU de 29.9.2008). Igualmente a 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em recente aresto (Agravo de Instrumento n° 7.237.116-1, da Comarca de José Bonifácio), datado de 28 de maio de 2008, tendo por relator o desembargador Ademir Benedito, em concisa, mas contundente decisão, decidiu que: “Recurso. Agravo de instrumento. Ação de indenização proposta por pro dutor agrícola contra vendedora e produtora de insumos adquiridos. Ação proposta no foro de domicílio do autor. Exceção de incompetência rejeitada. Relação de consumo não configurada: Agricultor que não é destinatário final do produto adquirido (CDC 2o). Hipótese regida pelo CPC 100, IV, a*. Competência do foro da sede da ré, pessoa jurídica. Exceção acolhida. Recurso provido”. E no corpo do v. aresto colacionado destacamos as seguintes ponderações: “Agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou exceção de incompetência, oferecida em ação de indenização, ao fundamento de que a relação de direito material é de consumo, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor. A agravante sustenta que assim não é, pois o adquirente dos produtos dos quais reclama é produtor agrícola, utilizando-os na cadeia produtiva de grãos destinados ao comércio. Não é, portanto, destinatário final do produto. Invoca precedentes jurisprudenciais, e pede o deslocamento do processo para o foro da comarca da Capital do Estado, onde localizada sua sede, por força do art. 100, inciso IV, alínea ‘a, do Código de Processo Civil. (...) Tem razão a agravante. O autor da ação não é o destinatário final do produto, insumos agrícolas para sua lavoura, conforme ele próprio informa na petição inicial da ação indenizatória que propôs contra a vendedora e a produtora dos mesmos (veja-se fls. 17). Não se aplica à hipótese, então, o Código de Defesa do Consumidor, por força do seu próprio art. 2o, mas sim o Código de Processo Civil, o qual, no seu art. 100, inc. IV, letra ‘a, indica o local da sede da pessoa jurídica como foro competente para ações movidas contra ela. Pelo exposto, dá-se provimento do recurso para acolher a exceção de incompetência apresentada pela agravante Monsanto do Brasil Ltda., determinando-se o deslocamento da ação para o foro da comarca da Capital do Estado, e distribuição entre suas Varas Cíveis”. [3] A COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES - O que normalmente se observa no mercado de consumo é um consumidor às voltas com a aqui sição de um produto defeituoso, por exemplo, ou então com a prestação de um serviço malfeito, abrindo-se-lhe um verdadeiro leque de opções para solucionar o impasse: contato direto com o fornecedor que tenha um canal aberto para tanto (/.e., por exemplo, um departamento de atendimento ao consumidor, linha direta etc.), possibilidade de queixa junto aos chamados 42
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
PROCONs, ou então junto a Promotorias de Justiça em localidades onde aqueles não existam, ou ainda comparecimento aos Juizados Especiais de Conciliação ou de Pequenas Causas, Defensorias Públicas etc. O parágrafo único do comentado art. 2o, porém, trata não mais da quele determinado e individualmente considerado consumidor, mas sim de uma coletividade de consumidores, sobretudo quando indeterminados e que tenham intervindo em dada relação de consumo. Assim, segundo o prof. Waldírio Bulgarelli,23 o consumidor aqui pode ser considerado como “aquele que se encontra numa situação de usar ou consumir, estabelecendo-se, por isso, uma relação atual ou potencial, fática sem dúvida, porém a que se deve dar uma valoração jurídica, a fim de protegê-lo, quer evitando, quer reparando os danos sofridos”, conceituação tal que, como se observa, não se ocupa apenas da aquisição efetiva de pro dutos e serviços, mas também com a potencial aquisição dos mesmos. Desta forma, além dos aspectos já tratados em passos anteriores, o que se tem em mira no parágrafo único do art. 2o do Código do Consumidor é a universalidade, conjunto de consumidores de produtos e serviços, ou mesmo grupo, classe ou categoria deles, e desde que relacionados a um determinado produto ou serviço, perspectiva essa extremamente relevante e realista, porquanto é natural que se previna, por exemplo, o consumo de produtos ou serviços perigosos ou então nocivos, beneficiando-se, as sim, abstratamente as referidas universalidades e categorias de potenciais consumidores. Ou, então, se já provocado o dano efetivo pelo consumo de tais produtos ou serviços, o que se pretende é conferir à universalidade ou grupo de consumidores os devidos instrumentos jurídico-processuais para que possam obter a justa e mais completa possível reparação dos res ponsáveis, circunstâncias tais que serão pormenorizadamente analisadas a partir do comentário aos arts. 8o e segs. do Código, e sobretudo aos arts. 81 e segs. (“Da Defesa do Consumidor em Juízo”). Acrescente-se aos aspectos gerais e introdutórios ora apreciados, contu do, que as referidas circunstâncias de tutela coletiva do consumidor ficam ainda mais evidentes quando se levam em consideração, por exemplo, os danos causados por um produto alimentício ou medicinal nocivo à saúde, ou então por um automóvel com graves defeitos de fabricação no sistema de freios, ficando as vítimas em situação de total impotência e desamparo, não somente em face de sua condição de inferioridade ante o fornecedor, como igualmente pelos frágeis instrumentos de defesa de que dispõem, fragilidade essa demonstrada pela exigência até hoje de demonstração do dano sofrido, e do nexo causal entre o dano e o produto ou serviço e, o 25 “Tutela do consumidor na jurisprudência c dc lege ferenda”, Revista de Direito Mercantil, Nova Série, ano XVII, n° 49, 1984. 43
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
que é ainda mais angustiante, a culpa residente em negligência, imprudência ou imperícia do mesmo fornecedor. Essa ideia fica ainda mais clara se se tiver em conta a classe dos cha mados interesses difusos, expressamente tratados no inc. I do art 81 do Código do Consumidor, e “assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. Para o prof. José Carlos Barbosa Moreira,24tais interesses caracterizam-se, em primeiro lugar, por uma pluralidade de titulares, em número indeter minado e, ao menos para fins práticos, indeterminável; em segundo lugar, pela indivisibilidade do objeto do interesse, cuja satisfação necessariamente aproveita em conjunto, e cuja postergação todos em conjunto prejudica. E, especificamente na área de defesa ou proteção do consumidor, como já assinalado, afirma que tais interesses são detectados “na honestidade da propaganda comercial, na proscrição de alimentos e medicamentos nocivos à saúde, na adoção de medidas de segurança para os produtos perigosos, na regularidade da prestação de serviços ao público”. Também na mesma direção aponta o desembargador Waldemar Mariz de Oliveira,25 ao dizer que “a apresentação, no mercado, de um produto alimentar deteriorado pode configurar grave risco para um sem-número de indivíduos; a propaganda sem controle, transmitindo falsas e enganosas informações, a respeito de certa sociedade ou de determinado empreendi mento imobiliário, pode causar prejuízo a milhares de adquirentes de ações ou de imóveis; a concorrência desleal, ou o monopólio no comércio ou na indústria, são maneiras também de lesar um bom número de concorrentes;26 a proibição de uma pessoa de hospedar-se em um hotel, por força da cor de sua pele, representa, por parte da direção do estabelecimento, uma discriminação de natureza racial, que afronta os direitos constitucionais dos cidadãos”. Guido Alpa,27 por sua vez, refere-se aos mencionados interesses di fusos como aqueles “que todos os aderentes têm de obter a declaração de nulidade de uma cláusula contida em um contrato standard lesiva aos interesses econômicos dos consumidores que adquirem e usam um produto 24 A proteção jurisdicional dos interesses coletivos e difusos, na obra coletiva “Tutela dos interesses difusos”, São Paulo, Max Limonad, 1984, p. 99. 25 Op. cit. na nota anterior, p. 10. * Vide nosso artigo “Abuso do poder económico e defesa do consumidor”, Revista de Direito - FMU, São Paulo, ano 6, n° 6, ps. 31-54, no qual enfocamos exatamente os abusos do poder econômico como prática abusiva, conforme nomenclatura do art. 39 do Código do Consumidor, porque reflete negativamente nos preços dos bens e serviços e condições de sua comercialização, cm prejuízo à massa dos consumidores, ainda que potencialmente considerados. 27 Tutela dcl consumatore e controlli sulfimprcsa, Bologna, Società Editricc II Mulino, 1977. 44
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
danoso, fabricado em série, e destinado, ainda que a ser potencialmente lesivo, à saúde de todos os usuários. São interesses difusos os interesses dos destinatários de mensagens publicitárias enganosas ou tendentes a ver inibida a atividade publicitária ou a serem ressarcidos em face do dano econômico imediato pela aquisição de produtos com qualidade inferior àquela prometida, e assim por diante”. 28 Não se deve olvidar, porém, de que a acepção coletiva dos interesses ou direitos do consumidor comporta duas categorias, quais sejam, a dos chamados “interesses ou direitos coletivos propriamente ditos” e “interesses individuais homogêneos de origem comum\ Definidos também pelo mencionado art. 81, incs. II e III do Código em comento, e tratados no passo oportuno desta obra, entendemos de bom alvitre e desde logo alertar o leitor para as distinções entre eles. E, com efeito, poder-se-ia assinalar neste passo que, enquanto os so breditos “interesses ou direitos difusos” são aqueles que pertencem a um número indeterminado de titulares, sendo ainda indivisíveis, na medida em que, se algo for feito para protegê-los, todos aqueles titulares se aproveitarão, mas sairão prejudicados em caso contrário, os (íinteresses coletivos” são, é certo, indivisíveis assim como os primeiros, mas pertencem desta feita a um número determinado de titulares (grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou à parte contrária por uma relação jurídica base). Exemplo: se se tiverem em conta as lições retrocolacionadas, e espe cificamente a questão das cláusulas abusivas em dado contrato de adesão, teremos então a declaração de nulidade delas deforma abstrata, ou seja, sem se levarem em consideração casos específicos de prejuízos aos contratantes-consumidores, ou o simples formulário do contrato-padrão engendrado pelo fornecedor de produtos ou serviços, e estaríamos diante de interesses difusos daqueles mesmos consumidores difusamente considerados, eis que potenciais contratantes prejudicados. Caso contrário, isto é, na hipótese de um determinado contrato fir mado entre a mencionada empresa fornecedora de produtos ou serviços e um grupo de consumidores-contratantes, e contendo cláusulas abusivas, a declaração de sua nulidade aproveitaria certamente àquele grupo ou classe determinada de contratantes. Referimo-nos especificamente, aliás, às hipóteses de contratos envolvendo os chamados “planos de saúde” e milhões de contratantes ou potenciais contratantes, sobretudo atraídos pela poderosa mídia televisiva. A Promotoria de Justiça do Consumidor de São Paulo, nos anos de 1992 e 1993, com efeito, passou a analisar, abstratamente, todos os contra 28 Vide outras considerações a respeito, em nosso “Manual de direitos do consumidor”, São Paulo, Atlas S.A., 1999, Capítulo 7. 45
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
tos oferecidos por cerca de 90 planos de saúde, tendo então conseguido o compromisso formal de seus responsáveis no sentido de modificarem determinadas cláusulas consideradas abusivas. Tendo havido ainda a recalcitrância de alguns, foi necessário propor-se não mais que uma dezena de ações com vistas ao mesmo desiderato, ou seja, a mencionada modifica ção. Na hipótese, duas cláusulas mereceram reforma: a que determinava o aumento das prestações de forma unilateral desde que “os custos médico-hospitalares” fossem maiores do que os reajustes normais tendo por base um índice econômico convencionado, e o pulo muitas vezes ao triplo ou quíntuplo do que vinha sendo pago pelo consumidor-usuário, simplesmente porque mudou de faixa etária. Caso houvesse cláusulas abusivas especificamente em planos de saú de particularizados, e referentes a contratos já firmados, tratar-se-ia do chamado interesse coletivo, e não difuso, porque envolvendo pessoas bem determinadas e em face da empresa contratante. No que diz respeito aos uinteresses individuais homogêneos de origem comum” (art. 81, III, do Código do Consumidor) melhor tratados no v. 2 desta obra, limitar-nos-emos a dizer que não passam, na verdade, de inte resses ou direitos individuais, mas tratados deforma coletiva. Ou melhor explicitando: tomando-se como exemplo danos causados pela colocação no mercado de um veículo com grave defeito no sistema de freios, com extensão daqueles mesmos danos variável para cada inte ressado, defeito tal ocasionado por falha do projeto de certa peça, tem-se como certo que cada um poderia, individualmente, ingressar em juízo com a ação reparatória competente. O que o Código analisado permite é que, ao invés da pulverização de demandas individuais, seja ajuizada uma única ação, passando-se depois da condenação obtida à liquidação conforme a extensão de cada dano individualizado.29 Além disso, dispõe o art. 17 do Código do Consumidor que, para os efeitos da seção que cuida dos interesses individuais homogêneos de origem comum, “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. Foi caso, por exemplo, das vítimas do triste acidente ocorrido em 1996 no “Plaza Shopping de Osasco”: a sentença genericamente condenatória entendeu cabíveis indenizações por danos materiais e morais não apenas às pessoas que estavam diretamente ligadas às suas atividades (i.e., consumidores-compradores e usuários da praça de alimentação, estacionamentos e outros serviços disponíveis), como também às famílias de jovens colegiais que simplesmente atravessavam suas instalações para cortarem caminho 29 Vide comentários ao art. 81 e scgs., sobretudo quanto à legitimidade para a propositura de referidas ações. 46
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
para a escola, e outros circunstantes, os assim denominados pela doutrina e jurisprudência norte-americanas bystanders.3Ü Também no que tange às chamadas Práticas Comerciais, disciplinadas no Capítulo V do Código sob comento, seu art. 29 dispõe que, “para fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”. Ou seja, nos casos retroapontados como exemplos, são consumidoras as pessoas expostas a informações ou publicidade enganosas, sujeitas a cláusulas em formulários-padrão de contratos de adesão, bem como as que já os firmaram. [4] CONCEITO DE FORNECEDOR - Cuidemos doravante do outro protagonista das “relações de consumo”: o fornecedor de produtos e serviços. Ao invés de utilizar-se de termos como “industrial”, “comerciante”, “banqueiro”, “segurador”, “importador”, ou então genericamente “empresário”, preferiu o legislador o termo “fornecedor” para tal desiderato. Ou seja, e em suma, o protagonista das sobreditas “relações de con sumo” responsável pela colocação de produtos e serviços à disposição do consumidor. Assim, para Plácido e Silva,31“fornecedor”, derivado do francês foumir, fornisseur, é todo comerciante ou estabelecimento que abastece, ou forne ce, habitualmente uma casa ou um outro estabelecimento dos gêneros e mercadorias necessários a seu consumo. Nesse sentido, por conseguinte, é que são considerados todos quantos propiciem a oferta de produtos e serviços no mercado de consumo, de maneira a atender às necessidades dos consumidores, sendo despiciendo indagar-se a que título, sendo relevante, isto sim, a distinção que se deve fazer entre as várias espécies de fornecedor nos casos de responsabilização 30 Proc. n° 1.959/96, 5* Vara Cível da Comarca dc Osasco, Estado de São Paulo. Cf., nesse sentido, o arcsto proferido no REsp n° 540.235/TO, tendo por relator o Ministro Castro Filho, 3* Turma do STF, j. dc 7.2.2006, D) de 6.3.2006, p. 372: “Código dc Defesa do Consumidor. Acidente aéreo. Transporte de malotes. Relação de consumo. Caracterização. Responsabilidade pelo fato do serviço. Vítima do evento. Equiparação a consumidor. Artigo 17 do CDC. I - Resta caracterizada relação de consumo se a aeronave que caiu sobre a casa das vítimas realizava serviço dc transporte de malotes para um destinatário final, ainda que pessoa jurídica, uma vez que o artigo 2o do Código dc Defesa do Consumidor não faz tal distinção, definindo como consumidor, para os fins protetivos da lei, ‘... toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatá rio final! Abrandamento do rigor técnico do critério finalista. II - Em decorrência, pela aplicação conjugada com o artigo 17 do mesmo diploma legal, cabível, por equiparação, o enquadramento do autor, atingido cm terra, no conceito de consumidor. Logo, em tese, admissível a inversão do ônus da prova cm seu favor . Recurso especial provido”. 31 Vocabulário jurídico, Rio de Janeiro, Forense, 1986, vol. I, p. 138. 47
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
por danos causados aos consumidores, ou então para que os próprios for necedores atuem na via regressiva e em cadeia da mesma responsabilização, visto que vital a solidariedade para a obtenção efetiva de proteção que se visa a oferecer aos mesmos consumidores. Tem-se, por conseguinte, que fornecedor é qualquer pessoa física, ou seja, qualquer um que, a título singular, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil e de forma habitual, ofereça no mercado produtos ou serviços, e a jurídicay da mesma forma, mas em associação mercantil ou civil e de forma habitual. Fala ainda o art. 3o do Código de Proteção ao Consumidor que o fornecedor pode ser público ou privado, entendendo-se no primeiro caso o próprio Poder Público, por si ou então por suas empresas públicas que desenvolvam atividade de produção, ou ainda as concessionárias de serviços públicos, sobrelevando-se salientar nesse aspecto que um dos direitos dos consumidores expressamente consagrados pelo art. 6o, mais precisamente em seu inc. X, é a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. O mesmo dispositivo ainda abrange tanto os fornecedores nacionais como os estrangeiros que exportem produtos ou serviços para o País, arcando com a responsabilidade por eventuais danos ou reparos o importador que posteriormente poderá regredir contra os fornecedores exportadores {vide, por exemplo, o disposto pelo art. 12). Fornecedores são ainda os denominados “entes despersonalizados”, assim entendidos os que, embora não dotados de personalidade jurídica, quer no âmbito mercantil, quer no civil, exercem atividades produtivas de bens e serviços, como, por exemplo, a gigantesca Itaipu Binacional, em verdade um consórcio entre os governos brasileiro e paraguaio para a produção de energia hidrelétrica, e que tem regime jurídico sui generis. Outro exemplo significativo de ente despersonalizado é o de uma massa falida que é autorizada a continuar as atividades comerciais da empresa sob regime de quebra, para que se realizem ativos mais celeremente, fazendo frente ao concurso de credores. Ou, ainda, o espólio de um comerciante, em nome individual, cuja sucessão é representada pelo inventariante. Quanto às atividades desempenhadas pelos fornecedores, são utiliza dos os termos “produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”, ou, em síntese, a condição de fornecedor está in timamente ligada à atividade de cada um e desde que coloquem aqueles produtos e serviços efetivamente no mercado, nascendo daí, ipso facto, eventual responsabilidade por danos causados aos destinatários, ou seja, pelo fato do produto. 48
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
E, com efeito, o prof. Luiz Gastão Paes de Barros Leães,32 por exemplo, ao referir-se à jurisprudência norte-americana acerca da responsabilidade pelo fato do produto (fact liability), assevera que “um produto é considera do defeituoso se for perigoso além do limite em que seria percebido pelo adquirente normal e de acordo com o conhecimento da comunidade dele destinatária no que diz respeito às suas características”. Ou, ainda, com maior propriedade, atingindo as principais fases de produção, concepção e informação acerca de produtos, acrescenta que os defeitos constatados podem ser da seguinte ordem: “a) vícios ocorridos na fase de fabricação afetando exemplares numa série de produtos (miscarriage in the manufacturing process; Fabrikationsfehler); b) vícios ocorridos na concepção técnica do produto, afetando toda uma série de produção (improperly designed product; Konstruktionsfehler); c) vícios nas informa ções e instruções que acompanham o produto (breach of duty of warn; Instruktionsfehler) ”. Finalmente, um outro aspecto que deve ser levado em consideração diz respeito a certas universalidades de direito ou mesmo de fato, como, por exemplo, associações desportivas ou condomínios. Ou seja, indaga-se se eles poderiam ou não ser considerados como fornecedores de serviços, como os relativos aos associados ou então aos condôminos (i.e., propiciamento de lazer, esportes, bailes, ou então serviços em geral de manutenção das áreas comuns). A questão é relevante, tendo-se em vista o disposto no § Io do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as multas de mora passam a ser da ordem de 2%. Resta evidente que aqueles entes, despersonalizados ou não, não podem ser considerados como fornecedores. E isto porque, quer no que diz respeito às entidades associativas, quer no que concerne aos condomínios em edificações, seu fim ou ob jetivo social é deliberado pelos próprios interessados, em última análise, sejam representados ou não por intermédio de conselhos deliberativos, ou então mediante participação direta em assembleias-gerais que, como se sabe, são os órgãos deliberativos soberanos nas chamadas “sociedades contingentes”. 33 Decorre daí, por conseguinte, que quem delibera sobre seus destinos são os próprios interessados, não se podendo dizer que eventuais serviços prestados pelos seus empregados, funcionários ou diretores, síndico e demais 52 A responsabilidade do fabricante pelo fato do produto, São Paulo, Resenha Tributária, 1984, p. 221. JJ Consoante o magistério de Giorgio Del Vecchio, in nosso “Manual de teoria geral do Estado e ciência política”, Forense Universitária, 1997, p. 24, sociedade vem a ser “um complexo de relações pelo qual vários indivíduos vivem e operam conjuntamente, de modo a formarem uma nova e superior unidade” 49
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
dirigentes comunitários, sejam enquadráveis no rótulo “fornecedores”, conforme a nomenclatura do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, se as despesas sociais, consequentes contribuições sociais, e multa por inadimplemento das mesmas obrigações sociais são estabele cidas pelos órgãos deliberativos das sociedades em geral, ou então pelos condomínios, não há que se falar em serviços prestados por terceiros, senão pela própria entidade, sendo, aliás, o seu objetivo social. É oportuno salientar, neste passo, que o vigente Código Civil, em seu art. 1.336, § Io, veio a estabelecer que “o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito”, em consonância com o dispositivo de que ora cuidamos. A polêmica surgida reside exatamente em se saber se prevalece a livre deliberação do condomínio, ou o novo dispositivo constante do Código Civil. Comissão constituída no âmbito do Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, realizado entre 11 e 15.9.2002, propôs, de lege ferenda, nova redação àquele dispositivo, de seguinte teor: “o condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convenciona dos ou, não sendo previstos, de 1% ao mês, e multa de até 10% sobre o débito”.34 Saliente-se, de qualquer forma, que a referida multa moratória de 2% visou à aplicação restrita aos contratos que envolvem outorga de crédito, e não a qualquer obrigação assumida pelo consumidor, que poderá ter regime próprio. Tanto assim que o dispositivo modificado pela Lei n° 9.298, de Io de agosto de 1996, está inserido em artigo (i.e., art. 52 do CDC) que cuida especificamente de ‘fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumido Entretanto, conforme já tivemos ocasião de salientar em nosso artigo “Resolução contratual e o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor”,35 toda e qualquer multa moratória não pode ser superior a 10% sobre o valor da obrigação em atraso, a teor do Decreto n° 22.626/33. Por outro lado, porém, tomando-se como exemplo uma entidade as sociativa cujo fim precípuo é a prestação de serviços de assistência médica, cobrando para tanto mensalidades ou outro tipo de contribuição, não resta dúvida de que será considerada fornecedora desses mesmos serviços. 34 “O novo Código Civil anotado”, in Revista Jurídica, Porto Alegre, Notadez, jan. 2003. 35 Publicado na Revista da Faculdade de Direito das FMU, São Paulo, n° 8, ps. 109-154, na revista Justitia, órgão do Ministério Público do Estado de São Paulo, vol. 165, ps. 155-180, e cm edição especial da Revista dos Tribunais (“Homenagem a Carlos Henrique de Carvalho”), São Paulo, 1986. 50
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
E isto pela simples razão de que, destinando-se, especificamente, à prestação daqueles serviços, e não à gestão da coisa comum, suas ativi dades revestem-se da mesma natureza que caracterizam as relações de consumo. E, em consequência, pressupõem um fornecedor, de um lado, e uma universalidade de consumidores, de outro, tendo por objeto a presta ção de serviços bem determinados, quer por si, ou mediante o concurso de terceiros. [5] PRODUTO COMO OBJETO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO As relações de consumo, como já acentuado passos atrás, nada mais são do que “relações jurídicas” por excelência, pressupondo, por conseguinte, dois poios de interesse: o consumidor-fornecedor e a coisa, objeto desses interesses. No caso, mais precisamente, e consoante ditado pelo Código de Defesa do Consumidor, tal objeto consiste em “produtos” e serviços. O § Io do art. 3o do mencionado Código fala em “produto”, definindo-o como qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Melhor, entretanto, no nosso entendimento, seria falar-se em “bens” e não “produtos” mesmos porque, como notório, o primeiro termo é bem mais abrangente do que o segundo, aconselhando tal nomenclatura, aliás, a boa técnica jurídica, bem como a economia política. Tal aspecto fica ainda mais evidenciado quando se tem em conta que no caso se haverá que cuidar de bens como efetivos objetos das relações de consumo, isto é, como o que está entre (do latim inter + essere) os dois sujeitos da “relação de consumo”. E, realmente, como acentuado pelo prof. Sílvio Rodrigues,36 ao tratar dos bens como objeto de interesse, estes, para a economia política, “são coisas que, sendo úteis aos homens, provocam a sua cupidez e, por conseguinte, são objeto de apropriação privada”. “Desse modo”, continua, “poder-se-ia definir bem econômico como aquela coisa que, sendo útil ao homem, existe em quantidade limitada no universo”, “ou seja, são bens econômicos as coisas úteis e raras”, “porque só elas são suscetíveis de apropriação”. Também o economista Jorge Torres de Mello Rollemberg37 procura demonstrar que, embora se tenha mudado a acepção do termo “bem” sobretudo para efeitos de marketing, prevalece ainda na atualidade a conceituação tradicional atrás aduzida, ou seja, no sentido de demonstrar-se ser “bem” muito mais abrangente e genérico do que “produto”. 36 Direito Civil (parte geral), São Paulo, Max Limonad, 1964, vol. 1, p. 119. 37 “Proteção ao consumidor: seus problemas e dificuldades, iniciativas na área privada oficializada do movimento pelo governo”, Escola Superior de Guerra, Trabalho Espccial-TE 87/1987, Tema 21. 51
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
E, fundamentando-se nas lições de Philip Kloter,38 assevera o autor retrocitado que “a primeira classificação bens duráveis, bens não duráveis e serviços, que se aplica igualmente tanto a bens de consumo, como a bens industriais, distingue três categorias de bens, com base na taxa de consumo e na tangibilidade deles: bens duráveis - bens tangíveis que normalmente sobrevivem a muitos usos (exemplos: refrigeradores, roupas); bens não duráveis - bens tangíveis que normalmente são consumidos em um ou em alguns poucos usos (exemplos: carne, sabonete); serviços - atividade, benefícios ou satisfações que são oferecidas à venda (exemplos: corte de cabelo, consertos)”. O referido autor cita ainda uma segunda classificação de bens que leva em consideração não as suas características, mas sim os hábitos de compra do consumidor como, por exemplo, “bens de conveniência \ “bens comparáveis”, “bens de uso especiaF. Classificação ainda mais antiga de “bem” faz clara distinção entre “bem” e “produto”, ou seja: 1. produtos agrícolas - a) matéria-prima e b) bens de consumo; 2. pescado e produtos do mar, 3. produtos florestais; 4. produtos minerais; 5. bens industriais - a) produtos primários, b) mate riais e componentes fabris, c) materiais de processamento, d) materiais de embalagem, e) equipamentos periféricos, f) equipamentos básicos e instalações, g) suprimentos periféricos e h) suprimentos operacionais; 6. bens de consumo - a) bens de conveniência, b) bens de compra comparada e c) bens de especialidade. Na versão original da Comissão Especial do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, bem como no texto final aprovado pelo plenário do referido órgão extinto pelo atual governo fede ral, em todos os momentos se fala em “bens” - termo tal que de resto é inequívoco e genérico, exatamente no sentido de apontar para o aplicador do Código de Defesa do Consumidor os reais objetos de interesses nas relações de consumo. Desta forma, e até para efeitos práticos, dir-se-ia que, para fins do Código de Defesa do Consumidor, produto (entenda-se “bens”) é qualquer objeto de interesse em dada relação de consumo, e destinado a satisfazer uma necessidade do adquirente, como destinatário final. E, com efeito, o Código Civil que entrou em vigor em janeiro de 2003 manteve a tradicional nomenclatura, prevendo os bens em seu Livro II, arts. 79 a 103. [6] SERVIÇOS COMO OBJETO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO Consoante verificado no item anterior, e no magistério de Philip Kotler, os M Administração e marketing: análise, planejamento e controle, São Paulo, Atlas, 1985. 52
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
serviços podem ser considerados como “atividades, benefícios ou satisfações que são oferecidos à venda (exemplos: corte de cabelo, consertos)” (vide nota n° 27). E, efetivamente, fala o § 2o do art. 3o do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor em “serviço” como sendo “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Importante salientar-se, desde logo, que aí não se inserem os “tributos”, em geral, ou “taxas” e “contribuições de melhoria”, especialmente, que se inserem no âmbito das relações de natureza tributária. Não se há de confundir, por outro lado, referidos tributos com as “tarifas”, estas, sim, inseridas no contexto dos “serviços” ou, mais particularmente, “preço público”, pelos “serviços” prestados diretamente pelo Poder Público, ou então mediante sua concessão ou permissão pela iniciativa privada. O que se pretende dizer é que o “contribuinte” não se confunde com “consumidor?\ já que no primeiro caso o que subsiste é uma relação de Direito Tributário, inserida a prestação de serviços públicos, genérica e universalmente considerada, na atividade precípua do Estado, ou seja, a persecução do bem comum.39 59 Nesse sentido, cf. acórdão proferido pela 1‘ Turma do STJ, em 15.12.2005, no Recurso Especial n° 493.181/SP, tendo por relatora a min. Dcnise Arruda: “Processual civil. Recurso especial. Exceção de competência. Ação indenizatória. Prestação de serviço público. Ausência de remuneração. Relação de consumo não configurada. Desprovimcnto do recurso especial. 1. Hipótese de discussão de foro competente para processar c julgar ação indenizatória proposta contra o Estado, em face de morte causada por prestação de serviços médicos cm hospital público, sob a alegação de existência de relação de consumo. 2. O conceito de ‘serviço’ previsto na legislação consumerista exige para a sua configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante remuneração (art. 3o, § 2o, do CDC). 3. Portanto, no caso dos autos, não se pode falar em prestação de serviço subor dinado às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois inexistente qualquer forma de remuneração direta referente ao serviço de saúde prestado pelo hospital público, o qual pode ser classificado como uma atividade geral exercida pelo Estado à coletividade cm cumprimento de garantia fundamental (art. 196 da CF). 4. Referido serviço, em face das próprias características, normalmente é prestado pelo Estado de maneira universal, o que impede a sua individualização, bem como a mensuração de remuneração específica, afastando a possibilidade da incidência das regras de competência contidas na legislação específica. 5. Recurso especial desprovido” (DJU de 1.2.2006, p. 431). No mesmo sentido decidiu-se no Recurso Especial n° 754.784/PR, por sua 2» Turma, j. de 13.9.2005, tendo como relatora a min. Eliana Calmon: “Administrativo. Embargos de declaração. Fins de prequestionamento. Intuito protelatório dcsconfigurado. Não aplicação. Serviço concedido. Energia elétrica. Inadimplência. 1. A multa imposta ao recorrente deve ser afastada, uma vez que os embargos declaratórios foram opostos com o nítido propósito de prequestio namento, não sendo, portanto, protelatórios. Súmula n° 98/STJ. 2. Os serviços públicos podem ser próprios c gerais, sem possibilidade de identificação dos destinatários. São financiados pelos tributos e prestados pelo próprio Estado, tais como segurança pública, saúde, educação etc. Podem ser também impróprios e individuais, com destinatários determinados ou determináveis. Neste caso, têm uso específico e mensurável, tais como os serviços de telefone, água c energia elétrica. 3. Os serviços públicos impróprios podem ser prestados pelos órgãos da Administração Pública indireta ou, modernamente, por delegação, como previsto na CF (art. 175). São regulados pela 53
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Resta evidenciado, por outro lado, que as atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, quer na prestação de serviços aos seus clientes (por exemplo, cobrança de contas de luz, água e outros serviços, ou então expedição de extratos etc.), quer na concessão de mútuos ou financiamen tos para a aquisição de bens, inserem-se igualmente no conceito amplo de serviços. Aliás, o Código fala expressamente em atividade de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, aqui se incluindo igualmente os planos de previdência privada em geral, além dos seguros propriamente ditos, de saúde etc. Para Fábio Ulhôa Coelho:40 “Considera-se bancário o contrato cuja função econômica se relaciona com o conceito jurídico de atividade bancária, preceituado no art. 17 da Lei n° 4.595/64. Por atividade bancária, entende-se a coleta, intermediação em moeda nacional ou estrangeira. Esse conceito abarca uma gama considerável de ope rações econômicas, ligadas direta ou indiretamente à concessão, circulação ou administração do crédito. Estabelecendo-se paralelo entre a atividade bancária Lei n° 8.987/95, que dispõe sobre a concessão e permissão dos serviços públicos. 4. Os serviços prestados por concessionários são remunerados por tarifa, sendo facultativa a sua utilização, que é regida pelo CDC, o que a diferencia da taxa, esta, remuneração do serviço público próprio. 5. Os serviços públicos essenciais, remunerados por tarifa, porque prestados por concessionárias do serviço, podem sofrer interrupção quando há inadimplência, como previsto no art. 6o, § 3o, II, da Lei n° 8.987/95. Exige-se, entretanto, que a interrupção seja antecedida por aviso, existindo na Lei n° 9.427/96, que criou a ANEEL, idêntica previsão. 6. A continuidade do serviço, sem o efetivo enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito (arts. 42 e 71 do CDC, cm interpretação con junta). 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido” (DJU de 3.10.2005, p. 226). Em idêntico sentido o Recurso Especial n° 709.360/RS (rei. min. Eliana Calmon, 2* T\irma do STJ, j. de 18.8.2005, DJU de 26.9.2005, p. 335). Nesse mesmo sentido o Recurso Especial n° 63.843/MG, tendo por relatora a min. Eliana Calmon, 2“ Turma do STJ, j. de 28.6.2005 (DJU de 15.8.2005): “Administrativo. Mandado de segurança. Fornecimento de energia elétrica. Corte. Falta de paga mento. Fraude. Alteração no medidor. Arts. 22 e 42 do CDC. Interpretação. 1. O não pagamento das contas de consumo de energia elétrica pode levar ao corte no fornecimento, desde que haja inadimplência por parte do consumidor, tendo sido o mesmo avisado de que seria interrompido o fornecimento. Hipótese cm que constatada, ainda, a fraude praticada pelo consumidor para alterar o medidor de energia. 2. Recurso especial improvido.” No mesmo sentido, cf. acórdão no REsp n° 1.076.485/MG, rei. Min. Eliana Calmon, 2a Turma do STJ, j. de 19.2.2009, DJe de 27.3.2009: “Processual civil e administrativo. CPC, art. 535. Vio lação não caracterizada. Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Diferença de consumo apurada em razão de fraude no medidor. Impossibilidade. 1. Não ocorre negativa ou deficiência na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões es senciais ao julgamento da lide. 2. A Primeira Seção e a Corte Especial do STJ entendem legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemcnto do consumidor, após aviso prévio, exceto quanto aos débitos antigos, passíveis de cobrança pelas vias ordiná rias de cobrança. 3. Entendim ento que se aplica no caso de diferença de consum o apurada em decorrência de fraude no medidor, consoante têm decidido reiteradamente ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte. Precedentes. 4. Reformulação do entendim ento da relatora, em homenagem à função constitucional uniformizadora atribuída ao STJ. 5. Recurso especial não provido.” O empresário e os direitos do consumidor, São Paulo, Saraiva, 1994, p. 174. 54
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
e a industrial, pode-se afirmar que a matéria-prima do banco e o produto que ele oferece ao mercado é o crédito, ou seja, a instituição financeira dedica-se a captar recursos junto a clientes (operações passivas) para emprestá-los a outros clientes (operações ativas).” E, mais adiante, esclarece que: “O contrato bancário pode ou não se sujeitar ao Código de Defesa do Consumidor, dependendo da natureza do vínculo obrigacional subjacente. O mútuo, por exemplo, será mercantil se o mutuário for exercente de atividade econômica, e os recursos obtidos a partir dele forem empregados na empresa. E será mútuo ao consumidor se o mutuário utilizar-se dos recursos emprestados para finalidades particulares, como destinatário final. No desenvolvimento das operações atípicas, isto é, não relacionadas especificamente com o conceito de atividade bancária, como cobrança de títulos e recebimentos de tarifas e impos tos, o banco age como prestador de serviços não somente para o cliente credor, mas direcionado a todos que procuram a agência simplesmente para realizar o pagamento. Em relação às operações típicas, como a aceitação de dinheiro em depósito, concessão de empréstimo bancário, aplicação financeira e outras, o banco presta serviço a clientes seus, podendo classificá-los (de acordo com conceitos próprios da atividade bancária, como o da reciprocidade) para fins de liberar tratamento preferencial ou atendimento especial a certas categorias de consumidores.” Também José Reinaldo de Lima Lopes41 acentua que: WÉ fora de dúvida que os serviços financeiros, bancários e securitários encontram-se sob as regras do Código de Defesa do Consumidor. Não só existe disposição expressa na Lei n° 8.078/90 sobre o assunto (art. 3o, § 2o), como a história da defesa do consumidor o confirma, quando verificamos que a proteção aos tomadores de crédito ao consumo foi das primeiras a ser criada. De outro lado, nas relações das instituições financeiras com seus 4clientes podem-se ver duas categorias de agentes: os tomadores de empréstimos (mutuários) e os investidores (depositantes).” E, profligando esse entendimento, lamentavelmente, em desprol dos consumidores, em matéria de contratos bancários, sobreveio a Súmula n° 381 do STJ, que assim dispôs: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (DJe de 5.5.2009, RSTJ vol. 214, p. 537). Diante dessas ponderações, por conseguinte, e conforme a síntese ela borada por Nélson Nery Jr.,42 caracterizam-se os serviços bancários como relações de consumo em decorrência de quatro circunstâncias, a saber: a) por serem remunerados; b) por serem oferecidos de modo amplo e geral, 41 “Consumidor e sistema financeiro”, artigo para a revista Direito do Consumidor, n° 19. *2 “Código Brasileiro de Defesa do Consumidor”, ps. 524-525. 55
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
despersonalizado;43c) por serem vulneráveis os tomadores de tais serviços, na nomenclatura própria do CDC; d) pela habitualidade e profissionalismo na sua prestação. Fazendo tábula rasa dos mencionados preceitos retroelencados, e sobre tudo da epistemologia do Código de Defesa do Consumidor, sintetizados no seu art. 4o, notadamente o que reconhece expressamente a vulnerabilidade dos consumidores em face dos fornecedores - mas que também fala em harmonização entre os interesses de um e outro, sua educação reciproca e a ordem econômica como objetivo constitucional, além da coibição de abusos, inclusive entre concorrentes -, Geraldo de Camargo Vidigal44 assevera que: “Os direitos do consumidor estão afirmados e reservados, no art. 170 da CF - mas ao lado dos princípios da livre iniciativa, dos valores sociais do trabalho, do princípio da liberdade de concorrência. Mas não se elencaram direitos do consumidor entre os fundamentos da República e do Estado Democrático de Direito, entre os objetivos fundamentais da República, consagrados nos arts. Io e 3o da CF.” E, mais adiante, referindo-se aos contratos bancários, escreveu ainda que: “Quem quer que celebre qualquer desses contratos não é consumidor de coisa alguma, nem os contratos importam em consumo de bens ou na fruição de serviços relativos a necessidades humanas. E por maior que seja a extensão que se possa dar aos vocábulos consumo e consumidor a eles não se podem assimilar os contratos bancários. Aplicar a lei de defesa do consumidor a quem celebra contratos bancários soaria tão estranho como a aplicação do Código Penal a crianças. O Código Penal é inaplicável à criança porque os menores impúberes não podem infringir suas normas. O Código de Defesa do Consumidor não tem aplicação aos agentes de operações bancárias porque estas não cuidam do consumo e não envolvem consumidores.” Consoante se verifica, referidas ponderações não resistem à simples constatação de que, afora serem as atividades bancárias previstas, expres samente, pelo Código do Consumidor como atividades econômicas e de relações de consumo, constituem-se em basicamente duas operações principais: concessão de crédito, cujo produto é o “dinheiro”, e assim é tra tado além de apregoado pelos responsáveis pela instituições financeiras; e prestação de serviços aos consumidores, quer no recolhimento de tributos ou outros pagamentos a crédito de terceiros, quer no próprio exercício de sua atividade precípua. Conforme a lapidar ponderação do prof. Miguel Reale,45 já citada em passo anterior, mas que merece ser aqui repetida por força de argumentação, 4> E, acrescentaríamos, ainda que a clientes, de forma própria ou direta em razão de contrato espe cífico. ** “Tarifas bancárias”, Cadernos de Direito Tributário e finanças públicas, n° 17, ps. 127-143. 45 Teoria do Direito e do Estado, São Paulo, Saraiva, 1984, ps. 320-321. 56
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
“o Estado deve sempre ter em vista o interesse geral dos súditos, deve ser sempre uma síntese dos interesses tanto dos indivíduos como dos grupos particulares”. Acrescenta ainda que, “se considerarmos, por exemplo, os vários grupos organizados para a produção e circulação das riquezas, necessário é reconhecer que o Estado não se confunde, nem pode se confundir, com nenhum deles, em particular, porquanto cabe ao governo decidir segundo o bem comum, o qual, nessa hipótese, se identifica como o interesse geral dos consumidores”.46 E conclui o referido pensamento, enfatizando que “a autoridade do Estado deve manifestar-se no sentido da generalidade daqueles interesses, representando a totalidade do povo”. E, hermeneuticamente, diz-nos Carlos Maximiliano47 que: “O Direito suscita de modo indireto e diretamente ampara a atividade produtiva, tutela a vida, facilita e assegura o progresso. Não embaraça o esforço honesto, o labor benéfico, a evolução geral. Nasce na sociedade e para a sociedade. Não pode deixar de ser um fator de desenvolvimento da mesma. Para ele não é indiferente a ruína ou a prosperidade, a saúde ou a moléstia, o bem-estar ou a desgraça. Para isso, até mesmo no campo do Direito Privado, encontra hoje difícil acolhida, tolerada apenas em sentido restrito, nos casos excepcionais de disposições, claríssimas, a antiga parêmia, varrida há muito do Direito Público e filha primogênita da exegese tradicional, rígida, geométrica, silogística - fiat justitia, pereat mundos’ - faça-se justiça, ainda que o mundo pereça.” Daí por que se constata, de imediato, o quão complexa é a matéria que se nos apresenta, já que envolve, em última análise, a própria política de produção - distribuição - circulação - consumo, síntese, aliás, constante do Título VII da Constituição da República, que versa sobre a ordem eco nômica e financeira. E ainda mais particularmente no Capítulo I, que trata dos princípios gerais da atividade econômica, com especial destaque para o art. 170, que, ao enunciar ser “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa”, e ter por fim “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, expressamente elenca, dentre os princípios a serem observados para a consecução dos fins ah expressos, a defesa do consumidor. Desta forma, o ranço ainda presente no ultrapassado ultraliberalismo é que faz com que alguns ainda resistam aos novos preceitos constitu cionais. Preceitos tais que, indubitavelmente, não apenas fazem da defesa do consumidor um direito individual e social, porquanto elencado dentre os preceitos do art. 5o da Constituição da República, e, por conseguinte, oponível ao próprio Estado, da mesma forma que os tradicionais direitos 46 Nosso destaque. *7 Hermenêutica e aplicação do Direito, 1933, p. 168. 57
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
individuais, como também do consumidor, o destinatário final de tudo quanto é produzido. Aliás, ao cuidarmos da defesa da concorrência em dois artigos,48 procuramos enfatizar essa realidade, de que não há por que se falar em atividade econômica, concorrência e toda a parafernália de salvaguardas da ordem econômica, sem que tudo tenha por alvo e destinatário final o consumidor. Por outro lado, complementando essa ordem de ideias, e a própria manutenção da tão propalada ordem econômica, o art. 173 da Carta de 1988, em seus §§ 4o e 5o, expressamente assevera que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, eliminação da concorrência, e ao aumento arbitrário dos lucros” (§ 4o); e “a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e finan ceira e contra a economia popular” (§ 5o). Vê-se, por conseguinte, que os próprios dispositivos constitucionais citados definem o que vem a ser “abuso do poder econômico”, ou seja, como qualquer forma de manobra, ação, acerto de vontades, que vise à eliminação da concorrência, à dominação de mercados e ao aumento arbi trário de lucros. E a jurisprudência nacional, por diversos tribunais estaduais, já se tem manifestado nesse sentido, ou seja, de que as atividades bancárias são, sem sombra de dúvidas, relações de consumo e abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Com efeito: a) na Apelação Cível n° 737.410-7, o extinto Io Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, tendo como relator o juiz Maia da Cunha, em julgamento de 8.6.98, assim se manifestou, à unanimidade: “A atividade bancária está sujeita à disciplina que rege as relações de consumo”; b) na Apelação Cível n° 196.218.911, o Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, sendo relator o juiz Silvestre Jasson Ayres Torres, em julgamento de 12.12.96, em votação unânime, também decidiu 48 “Abuso do poder econômico c defesa do consumidor”, in Revista da Faculdade de Direito das FMU, n° 6, ps. 31 a 54, e “Lucros abusivos: conceito e identificação”, in Revista da Faculdade de Direito das FMU, n° 12, novembro de 1995, ps. 231 a 244, Revista de Direito Econômico do CADE, nova fase, n° 21, out./dez. 1995, ps. 51 a 64, e Revista do Ministério Público de Goiás, ano I, n° 1, dez. 1996, ps. 6 a 12. 58
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
que: “As instituições financeiras estão submetidas à disciplina do CDC quando o financiamento for realizado com pessoa física”; são também, no mesmo sentido, as decisões do tribunal gaúcho nas Apelações Cíveis nos 197.144.595, 196.049.514, 196.094.403, 196.162.853, 196.197.115, 196.067.151, 193.051.216, 196.022.282, 196.117.337, 196.128.821, 196.268.718 e 196.122.621; c) na Apelação Cível n° 177/94, o Tribunal de Justiça da Bahia, tendo como relator o desembargador Luís Pedreira Fernandes, em julgamento de 14.4.97, por votação unânime, assim se manifestou: “Os Bancos, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.” Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de manifestar-se em algumas ocasiões, naquele mesmo sentido, a saber: a) no Recurso Especial n° 57.974-0, tendo como relator o ministro Ruy Rosado de Aguiar, em julgamento de 25.4.95, à unanimidade deci diu que: “Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no art. 3o, § 2o, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor”; b) no Recurso Especial n° 163.616-RS, tendo como relator também o ministro Ruy Rosado de Aguiar, em julgamento de 21.5.98, por unanimidade, o STJ assim decidiu: “As instituições financeiras estão sujeitas à disciplina do CDC”; Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula n° 297, do STJ, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às insti tuições financeiras” (DJ de 9.9.2004, p. 149, RSTJ voL 185, p. 666). c) e no Agravo Regimental interposto contra o Agravo n° 49.124-2-RSy sendo relator ainda o ministro Ruy Rosado de Aguiar, em julgamento de 4.10.94: “Código de Defesa do Consumidor. Atividade bancária. Sujeição aos seus preceitos”; d) no Recurso Especial n° 292.636/RJ* tendo como relator o ministro Barros Monteiro, em julgamento de 11.6.2002, a 4a Turma do Su perior Tribunal de Justiça (DJ de 16.9.2002) fez questão de enfatizar que: “O contrato bancário de abertura de crédito (cheque especial) submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.” Além disso, também se discutia a legitimidade ou não do Ministério Público: “Tratando-se de ação que visa à proteção de interesses 59
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
coletivos e apenas de modo secundário e consequência à defesa de interesses individuais homogêneos, ressai clara a legitimação do Ministério Público para intentar a ação civil pública. Precedência do STJ”; No mesmo entendimento, veja-se decisão proferida no REsp n° 537.652/ RJ, tendo como relator o ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma do STJ, j. de 8.9.2009, DJe de 21.9.2009: “Ação civil pública. Contrato de abertura de crédito. Violação do artigo 535 do CPC. Não ocorrência. Contrariedade ao artigo 460 do CPC. Embargos declaratórios. Inovação recursal. Vedação. Cláusulas abusivas. Análise. Legiti midade do Ministério Público. CDC. Aplicabilidade às instituições financeiras. Súmula n° 297 do STJ. Divergência jurisprudencial. [...] 5. Na hipótese de figurar num dos poios da relação jurídica pessoa hipossuficiente deve preva lecer a regra mais benigna a este, devendo, portanto, ser aplicado o disposto no artigo 94 do CPC. 6. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública tutelando direitos coletivos de correntistas, que na qualidade de consumidores, firmam contrato de abertura de crédito com instituições financeiras e são submetidos a cláusulas abusivas. 7. A jurisprudência desta Corte consolidou seu entendimento no sentido de que são aplicáveis as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula n° 297 do STJ. [...] 9. Recurso especial não conhecido. Precedentes: Precedentes citados: AgRg no REsp n° 677.851-PR, DJe 11.5.2009; AgRg no REsp n° 808.603-RS, DJ 29.5.2006; REsp n° 292.636-RJ, DJ 16.9.2002; CC n° 32.868-SC, DJ 11.3.2002; AgRg no Ag n° 296.516-SP, DJ 5.2.2001, e REsp n° 190.860-MG, DJ 18.12.2000”. e) e na mesma esteira, ou seja, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de crédito protagonizadas pelos bancos, vejam-se outros acórdãos do mencionado Superior Tribunal de Jus tiça proferidos em sede de: Recurso Especial n° 387.805/RS (relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento de 27.6.2002, 3a Turma, DJ de 9.9.2002), asseverando que “os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços especialmente contemplados no art. 3o, § 2o, estão submetidos às disposições do CDC”; Agravo Regimen tal de Recurso Especial n° 390.318/RS (relatora também a ministra Nancy Andrighi, em julgamento de 19.3.2002, DJ de 15.4.2002); Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n° 425.554/RS (relator ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgamento de 8.4.2002, 3a Turma, DJ de 27.5.2002); Agravo Regimental em Agravo de Ins trumento n° 427.512/RS (relator ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgamento de 30.4.2002, 3a Turma, DJ de 17.6.2002), e muitos outros. 60
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Quanto a erros cometidos pelas instituições financeiras em prejuízo dos correntistas-consumidoresy a Súmula n° 322 do STJ assim prescreveu: “Sú mula n° 322 - Para a devolução de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro.” Também digna de nota é a Súmula n° 388 do STJ, segundo a qual: “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral” (DJe de 1.9.2009). A jurisprudência da 2a Seção já está consolidada, e prevê que não é necessária a prova do erro quando do recebimento de valores pagos indevidamente nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, já que os lançamentos são feitos pela própria instituição financeira credora. O princípio informador dessa súmula reside no repúdio ao enrique cimento ilícito pela ordem jurídica. No caso, o beneficiário seria o credor, ou seja, da própria instituição financeira que recebeu indevidamente os valores. E sobre a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes: “Súmula n° 323 - A inscrição de inadimplente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por, no máximo, cinco anos.” Sobre esse particular, vejam-se as súmulas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n° 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (DJe de 8.6.2009, RSTJ vol. 214, p. 541); “Súmula n° 404 - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dado se cadastros” (DJe de 24.11.2009). A questão foi pacificada nas turmas da 2a Seção quando do julgamento do Recurso Especial n° 472.203/RS. Até esse julgamento, havia divergência de interpretação entre a 3a e a 4a Turmas, quanto ao prazo prescricional previsto no art. 43, § 5o, do CDC. Pairavam dúvidas se o prazo se referia à ação de cobrança ou à ação de execução. Através desse julgamento, bem como do de seus precedentes, sedimen tou-se o entendimento de que as informações de restrição ao crédito nos arquivos dos cadastros de inadimplentes devem perdurar por, no máximo, cinco anos. Também no que diz respeito à atividade securitáriay no caso e mais especificamente da chamada previdência privada, sobreveio a Súmula n° 321 do STJ, do seguinte teor: “Súmula n° 321 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade privada e seus participantes.” Essa súmula trata da incidência dos dispositivos do Código de Defe sa do Consumidor nas relações jurídicas existentes entre as entidades de 61
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
previdência privada e seus participantes. O embasamento legal da súmula está nos arts. 2o e 3o do CDC. Pelo entendimento uníssono de ambas as turmas que compõem a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, é consumidor a pessoa que adquire prestação de serviço securitário de entidade previdenciária. No que concerne aos depositantes em cadernetas de poupança, afora os serviços decorrentes de sua manutenção, em que existe, sem dúvida, relação de consumo, consistente na sua prestação efetiva mediante remu neração por meio de tarifas específicas, não podemos dizer possam ser considerados consumidores só por aquela circunstância. Com efeito, como adverte Arnold Wald,49 “partindo das distinções clássicas em economia entre consumo e poupança e investimento, e entre produção e consumo, a lei de defesa do consumidor não se aplica nem à poupança, nem às operações que constituem o ciclo de produção; tanto assim que o produtor é considerado fornecedor (art. 3o, caput)”. Não foi esse, contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, no Recurso Especial n° 160.949/SP (relator o ministro Paulo Costa Leite, julgamento de 19.3.2002, 3a Turma, DJ de 22.4.2002), decidiu-se que o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor era parte legítima para litigar em benefício de poupadores que não haviam tido computados acréscimos de correção monetária ao rendimento de cadernetas de pou pança, “por tratar-se de relação jurídica submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor”. Também a 2a Seção do mencionado Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 106.888/PR (relator ministro César Asfor Rocha), em julgamento de 28.3.2001, publicado no DJ de 5.8.2002, assim decidiu a ma téria: “O Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) é aplicável aos contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes referentes à caderneta de poupança. - Presente o interesse social pela dimensão do dano e sendo relevante o bem jurídico a ser protegido, como na hipótese, pode o juiz dispensar o requisito da pré-constituição superior a um ano, da associação autora da ação, de que trata o inc. III do parágrafo único do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, que cuida da defesa coletiva dos interesses ou direitos individuais homogêneos” Sem embargo das judiciosas decisões, entendemos que o capital empre gado a título de investimento, ainda que seja à guisa de poupança popular, não pode ser considerado como objeto de consumo, já que se destina a colher frutos (isto é, juros), além de acréscimos pela desvalorização da moeda (ou seja, correção monetária) e, como tal, tem natureza de qualquer investimento ainda que de maior vulto e complexidade. 49 Vide Revista dos Tribunais, vol. 666, p. 12 e segs. 62
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Ora, por que não, então, considerar também o crédito educativo como relação de consumo, mesmo porque se cuida de consumidor vulnerável, já que necessita desse crédito para a continuidade de seus estudos? Não foi esse, contudo, o entendimento manifestado no Recurso Especial n° 625.904/RS, figurando como relatora a min. Eliana Calmon (2a Turma do STJ, j. de 27.4.2004, in DJU de 28.6.2004, p. 296), a saber: “Administrativo. Crédito educativo. Natureza jurídica. Código de Defesa do Consumidor. 1. Na relação travada com o estudante que adere ao programa do crédito educativo, não se identifica relação de consumo, porque o objeto do contrato é um programa de governo, em beneficio do estudante, sem conotação de serviço bancário, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC. 2. Con trato disciplinado na Lei n° 8.436/92, em que figura a CEF como executora de um programa do Ministério da Educação, o qual estabelece as normas gerais de regência e os recursos de sustentação do programa. 3. Recurso especial desprovido.” Ora, mas qual é a diferença entre um crédito concedido ao destinatário final para compra de um bem de consumo durável e outro para que outro destinatário final possa concluir seus estudos? Insistimos, porque necessário, e em face de tantos equívocos que ain da são cometidos nessa matéria, que uma dada relação jurídica (gênero) somente pode ser considerada como relação de consumo (espécie) se se tratar, efetivamente, de destinatário final de bens ou de serviços - pessoa jurídica ou física, dependendo de cada caso concreto, como já assinalamos. A vulnerabilidade é ínsita ao próprio conceito de consumidor, ou seja, a fra gilidade em que todo consumidor, efetivo, bem se entenda, se encontre diante de um determinado fornecedor, seja de cunho técnico, de acesso a meios de solução de conflitos, de natureza econômica, pessoal etc. E os investidores no mercado de valores mobiliários, serão eles con siderados também consumidores com relação às instituições ou empresas que propiciam tal tipo de investimento? A resposta é certamente negativa. Tanto isso é verdade que a Lei n° 7.913, de 7 de dezembro de 1989, previu ações específicas de ressarcimento a investidores, prevendo ainda a Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974, medidas acautelatórias quando se tratar de liquidação extrajudicial de instituições de crédito. Não poderão ser igualmente objeto das chamadas “relações de consumo” os interesses de caráter trabalhista, exceção feita às empreitadas de mão de obra ou empreitadas mistas (mãos-de-obra mais materiais), exceção tal presente nos diplomas legais de todos os países que dispõem de leis ou Códigos de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, Portugal, Espanha, México, Venezuela e outros. 63
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
E a respeito acentua Manuel Alonso Olea50 que “há o trabalho subor dinado típico, que é o do empregado, e o atípico, que é o do trabalhador eventual, do trabalhador avulso e do trabalhador temporário”, anotando ainda que se deve dividir o “trabalho autônomo”, que é “aquele no qual o trabalhador mantém o poder de direção sobre a própria atividade, em trabalho autônomo propriamente dito e empreitada, esta uma modalidade daquele”, e, insistimos, este, sim, objeto das relações de consumo, sobretudo na classe de “serviços”, como deixa claríssimo o texto legal, sem necessidade de maiores indagações. Já no que concerne a créditos de financiamento de imóvel pelo “Siste ma Financeiro da Habitação”, não podemos deixar de concordar com o teor do acórdão proferido pela 2a Turma do STJ, no Recurso Especial n° 612.243/RS (reL min. Francisco Peçanha Martins, j. de 19.5.2005, in DJU de 27.6.2005, p. 324), a saber: “Recurso especial. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de mútuo. CDC. Aplicabilidade. Precedentes. Violação a dispositivos da lei federal. Inocorrência. 1. Consoante entendimento atual e predominante nesta Corte, ‘há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que concede o empréstimo para aquisição de cada própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 2. Violação a dispositivo da lei federal não com provada. 3. Recurso especial conhecido pelo fundamento da letra c ao qual se nega provimento.”31 [7] RELAÇÕES LOCATÍCIAS - Sem embargo de algumas decisões judiciais, entendendo que o Código de Defesa do Consumidor também se 50 Apud Amauri Mascaro Nascimento, “Direito do Trabalho na Constituição de 1988”, São Paulo, Saraiva, p. 34. 51 Nesse sentido, confiram os seguintes arestos: a) REsp n° 688.397/PR, rei. Min. Castro Meira, 2* Turma do STJ, j. de 5.4.2005, D) de 23.5.2005, p. 235, REVJMG, vol. 172, p. 398: “Administrativo. SFH. Contrato de mútuo. Reajuste de prestações. Aplicabilidade do Código de Defesa do Con sumidor. Ônus sucumbcnciais. 1. Aplica-sc o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo do Sistema Financeiro Habitacional para aquisição de imóvel, eis que retrata uma relação de consumo existente entre os mutuários e o agente financeiro do SFH. Precedentes. 2. Para verificar se os autores decaíram de parte mínima ou se houve sucumbência recíproca seria necessário o reexame de matéria fática. Incidência da Súmula 07/STJ. 3. Recurso especial improvido”; b) REsp n° 489.701/SP, rei. Min. Eliana Calmon, 1“ Seção, j. de 28.2.2007, DJ de 16.4.2007, p. 158, REVJMG voL 180, p. 483, RT vol. 863, p. 177: “Processo civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato com cobertura do FCVS. Inaplicabilidadc do Código de Defesa do Consumidor se colidentes com as regras da legislação própria. 1. O CDC é aplicável aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, incidindo sobre contratos de mútuo. 2. Entretanto, nos contratos de financiamento do SFH vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS, pela presença da garantia do Governo em relação ao saldo devedor, aplica-se a legislação própria e protetiva do mutuário hipossuficicnte e do próprio Sistema, afastando-se o CDC, se colidentes as regras jurídicas. 3. Os litígios oriundos do SFH mostram-se tão desiguais que as Turmas que compõem a Seção de Direito Privado examinam as ações sobre os contratos sem a cláusula do FCVS, enquanto as demandas oriundas de contratos com a cláusula do FCVS são processadas e julgadas pelas Turmas de Direito Público. 4. Recurso especial improvido”. 64
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
aplica às relações locatícias,52ainda que entre pessoas jurídicas, entendendo-se que: “Caracteriza-se como fraude a existência de acordo para desocupação do imóvel antes do término do contrato de locação, assinado concomitantemente com este último. Tal conduta viola disposições do Código de Defesa do Consumidor e os princípios éticos que regem o Direito, devendo ser coibida pelo Judiciário”, entendemos inaplicável a essas hipóteses. E isto por duas razões, se se invocar o caso ora enfocado, à guisa de exemplificação: a) a uma, por haver legislação própria a respeito, e que tem a mesma natureza que o Código de Defesa do Consumidor, no que con cerne a preceitos de ordem pública e interesse social (tanto assim que, a teor do disposto pelo art. 45 da Lei n° 8.245, de 18.10.91, fulminam-se de nulidade “as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente Lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto”); b) a duas, porque há dispositivo expresso contra a prática abusiva denunciada no caso concreto, especificamente no art. 4o da mencionada “lei de locações”: “durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, segundo a proporção prevista no art. 924 do Código Civil e, na sua falta, a que for judicialmente estipulada”. Vejam-se, a respeito, as manifestações do Superior Tribunal de Justiça: a) “LOCAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. Consoante iterativos julgados desse Tribunal, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao contrato de locação predial urbana, que se regula por legislação própria - Lei n° 8.245/91. Recurso especial conhecido e provido” (RESP n° 399.938/MS, rei. min. Vicente Leal, 6a Turma, j. 18.4.2002, DJ de 13.5.2002; b) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. O Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à multa pelo atraso no paga mento do aluguel, não é aplicável às locações urbanas (RESP n° 192.311/ MG, rei. min. Félix Fischer). Outros precedentes. Recurso denegado” (AGA n° 395.326/MG, rei. min. Fontes de Alencar, 5a Turma, j. 16.5.2002, DJ de 16.9.2002); c) “CIVIL. LOCAÇÃO. MULTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. São inaplicáveis às relações locatícias as normas sobre multa do Código de Defesa do Consumidor. Agravo desprovido” (AGA n° 402.029/MG, reL min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 13.11.2001, DJ de 4.2.2002); 52 Cf. Apelação Cível n° 446.977-00/7, da 12* Câmara do 2o Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, j. de 29.2.96, reL juiz Luís de Carvalho. 65
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
d) “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 12, V, 458, II e 535, II DO CPC. INOCORRÊNCIA. O juiz, ao subsumir a regra legal ao caso concreto, encerra a jurisdição, não estando obrigado a emitir sucessivos pronunciamentos sobre as teses jurídicas agitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para embasar a decisão. Não tendo o réu comprovado a incapacidade de representação do locador, não há que se falar em extinção do processo sem julgamento do mérito, de vez que incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito do autor. CIVIL. LOCAÇÃO. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. EXONERAÇÃO. RE NÚNCIA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. ART. 1.500 DO CÓDIGO CIVIL. NOVAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA N° 7/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. A jurisprudência assentada nesta Corte construiu o pensamento de que é válida a renúncia expressa ao direito de exoneração da fiança, mesmo que o contrato de locação tenha sido prorrogado por tempo indeterminado, vez que a faculdade prevista no art. 1.500 do Código Civil trata-se de direito puramente privado. Para saber se ocorreu ou não novação contratual toma-se imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório delineado nos autos, providên cia essa que não encontra espaço na via do instrumento processual do recurso especial diante do óbice contido na Súmula n° 7/STJ. Consoante iterativos julgados desse Tribunal, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao contrato de locação predial urbana, que se regula por legislação própria - Lei n° 8.245/91. Recurso especial não conhecido” (RESP n° 302.209/MG, rei. min. Vicente Leal, j. 7.2.2002, DJ de 4.3.2002). [8] RELAÇÕES TRABALHISTAS - Em face da Emenda Constitu cional n° 45, de 8.12.2004 {i.e., “Reforma do Judiciário”), exsurge nova discussão acerca da competência ampliada da Justiça do Trabalho, não apenas no que tange às ações acidentárias, aí incluídas as relativas ao ambiente laborai, como também no que toca às relações de trabalho propriamente ditas. Ou seja, a questão que se coloca, agora, mais particularmente, em face do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), é se as “rela ções de trabalho”, presentes no § 2o de seu art. 3o53, abrangem também as atividades exercidas por advogados. Para bem focalizarmos a questão suscitada, é mister, primeiramente, que se busque na Constituição Federal de 1988 a natureza jurídica da 53 “Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (...) § 2° Serviço 6 qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista 66
Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS
prestação de serviços dos advogados, à qual estará jungida, indelevelmente, sua própria inserção na legislação infraconstitucional. Com efeito, dispõe seu art. 133 que “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações da profissão, nos limites da lei”. Extraia-se desse dispositivo, por conseguinte, que o exercício da advo cacia é um mister profissional especial, até porque essencial à administração da justiça. Em nível infraconstitucional, já que o mencionado art. 133 da CF fala em limites da lei, é mister invocarmos o “Estatuto da Ordem dos Advoga dos do Brasil”, consubstanciado na Lei n° 8.906, de 4.6.1994, notadamente seus arts. 2o e 3o, a saber: “Art. 2o O advogado é indispensável à administração da justiça. § Io No seu ministério p riv a d o o advogado presta serviço público e exerce função social. § 2o No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público. § 3o No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e ma nifestações, nos limites desta Lei. Art. 3o O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a deno minação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB. § Io Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta Lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional (...)”. Fica claro, desde logo, por conseguinte, que o exercício da advocacia é de cunho eminentemente privado, e, portanto, exercício de profissional libe ral, em princípio, à exceção dos exercentes de advocacia pública, sob regime estatutário próprio em cada unidade da federação, conforme se depura do § Io do art. 3o do aEstatuto da OAB”. Já o Capítulo V do mesmo “Estatuto” fala, expressamente, da condição do Advogado Empregado. Assim: M Destaques nossos. 67
CDC - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
“Art. 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego” Os dispositivos seguintes, em síntese, cuidam das condições salariais (art. 19), da jornada de trabalho do advogado empregado (art. 20) e dos honorários, nas hipóteses de sucumbência (art. 21). A segunda conclusão inferida, portanto, é no sentido de que há pre visão expressa, no próprio estatuto dos advogados, da condição destes como empregados. Ou seja, vinculados por contrato de trabalho efetivo a um empregador, ao qual se subordina, e mediante o pagamento de um salário, isto sem prejuízo de suas convicções pessoais e da verba honorária devida pela sucumbência. Ora, o já citado § 2o, parte final, do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor não apenas está em perfeita harmonia com os citados dispo sitivos constitucionais e infraconstitucionais, como também com o disposto no § 4o de seu art. 14, segundo o qual: ua responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. Por isso mesmo é que, em nosso Manual de Direitos do Consumidor,55 acentuamos que não poderão ser objeto das disposições do Código de Defesa do Consumidor as relações de caráter trabalhista, exceto no que diz respeito à chamada locação de serviços, ou, então, as empreitadas de mão de obra ou de empreitada mista (i.e., mão de obra e materiais), exclusão essa presente nos diplomas legais de todos os países que dispõem de leis ou códigos de defesa do consumidor, como, por exemplo, de Portugal, Espanha, México, Venezuela e outros. É que, como acentua Manuel Alonso Olea, apud Amauri Mascaro Nascimento56, (ó Direito do Trabalho, como disciplina autônoma, surgiu e se fundamenta sobre a existência, como rea lidade social, generalizada e básica para a vida em sociedade, do trabalho produtivo, livre e por conta alheia”. E prossegue em sua preleção, afirmando que STJ, AgRg no REsp n° 718.744/RS, 4* Turma, rei. Min. Fernando Gonçalves, j. de 5.5.2005. 601
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
Chegando o inquérito civil a bom termo, com a composição dos inte ressados, o controle administrativo das cláusulas contratuais gerais chega ao fim, cumprindo ao Ministério Público a homologação do acordo, podendo, inclusive, estabelecer cominação para o caso de descumprimento, documento esse que valerá como título executivo extrajudicial (art. 5o, § 6o, da LACP, aplicável às relações jurídicas de consumo por força do art. 90 do CDC). Não havendo acordo, o controle administrativo não terá sido efetivado com sucesso, restando ao Ministério Público o ajuizamento de ação civil pública para pleitear o controle judicial das cláusulas abusivas.240 Esse controle pode ser abstrato ou concreto. Este se dá quando oriundo de caso específico de relação de consumo já concluída; aquele, relativamente às cláusulas contratuais gerais, antes, portanto, de receberem a adesão do consumidor. O único ponto de veto presidencial que produziu algum efeito é o relativo ao caráter da decisão do Ministério Público, no inquérito civil, quanto às cláusulas gerais objeto de controle. O dispositivo vetado previa que a decisão administrativa do Ministério Público sobre as cláusulas sub metidas a exame tivesse caráter geral, atingindo o universo contratual do fornecedor em toda a sua extensão. Dois foram os fundamentos do veto: a) somente poderiam ser atribu ídas funções ao Ministério Público por lei orgânica federal (art. 128, § 5o, CF); b) o controle dos atos jurídicos somente poderia ser feito pelo Poder Judiciário (art 5o, n° XXXV, CF). As razões do veto são injurídicas duplamente. Primeiro, porque qualquer lei ordinária pode atribuir funções ao Ministério Público (art 129, n° IX, CF), ficando à lei orgânica apenas os aspectos organizacionais administra tivos da instituição. Do contrário, ter-se-ia de entender que os dispositivos legais do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código Civil, do Código de Processo Civil e de outras leis extravagantes, que conferem legitimidade processual e atribuições extrajudiciais ao Ministério Público, não teriam sido recepcionados pela nova ordem constitucional. Segundo, porque a decisão do Ministério Público seria administrativa, não ferindo os princípios constitucionais do direito de ação e da inderrogabilidade da juris dição, pois o prejudicado poderia recorrer ao Judiciário para pleitear tutela sobre ameaça ou lesão de direito que afirma possuir. Além disso, o controle dos atos jurídicos pode ser feito administrativa ou judicialmente, podendo qualquer órgão exercê-lo, se assim dispuser a lei (art. 5o, n° II, CF). [32] REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO VISANDO AO CONTROLE JUDICIAL DAS 2V> Remetemos o leitor às anotações sobre o controle das cláusulas contratuais gerais, constantes da Introdução ao Capítulo VI do Título I do Código (“Da Proteção Contratual”), supra. 602
Capítulo VI - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS - Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, o dispositivo não encerra hipótese de legitimidade exclusiva para agir ao Ministério Público, porque qualquer legitimado pelo art 82 do Código pode mover todo e qualquer tipo de ação judicial neces sária para a efetiva tutela dos direitos protegidos pelo Código, conforme deflui do art. 83 do CDC. O texto legal permite que o Ministério Público ajuíze ação judicial para o controle concreto de cláusula contratual, a pedido do consumidor ou de entidade que o represente. Defenderá o parquet direito que, em tese, se poderia classificar de individual, mas que, no sistema do Código, é considerado pela lei como sendo de interesse social (art. Io, CDC). A legitimidade do Ministério Público para a defesa, em juízo, desse direito do consumidor está assegurada pelo art. 129, n° IX, CF. Em suma, o parquet pode propor ação visando ao controle concreto de cláusula contratual abusiva, mas não pode mover ação para obter in denização individual em favor de um determinado consumidor. Somente estará legitimado, para obter indenização, a mover a class action de que tratam os arts. 81, parágrafo único, n° III, e 91 do CDC, isto é, ação coletiva para a defesa de direitos e interesses individuais homogêneos. Os interesses e direitos individuais puros, não homogêneos, não podem ser defendidos judicialmente por ação direta do Ministério Público.241 A norma significa, ainda, orientação ao consumidor e às entidades que o representem, no sentido de que têm direito de representar ao Ministério Público para que seja feito o controle judicial concreto das cláusulas do contrato de consumo apontadas como abusivas. [33] DIRETIVA N° 93/13, DE 5.4.93, DO CONSELHO DA EUROPA (COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPEIA - UNIÃO EUROPEIA), SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS - Por ser de muita importância ao entendimento do tema das cláusulas abusivas, cuja nulidade vem expressamente cominada no nosso CDC art. 51, transcrevemos adiante o texto completo da Diretiva n° 93/13, do Conselho da Comunidade Econômica Europeia, a respeito da matéria. Como o elenco do CDC art 51 é exemplificativo e, ainda, a abusividade da cláusula pode ser avaliada caso a caso, ainda que não mencionada previamente no CDC, as cláusulas abusivas identificadas na diretiva podem ser caracterizadas como abusivas também em nosso Direito. A propósito, convém lembrar que há nítida inspiração da diretiva europeia no Direito brasileiro, já que existem numerosas normas nela contidas que são praticamente cópias das disposições de nosso Código de Defesa do Consumidor. Daí a importância da transcrição integral da norma europeia sobre a matéria:242 241 Ver os comentários aos arts. 81, 82, 91, 110 e 113 do Código, infra. 242 Diretiva publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 21.4.93, no L 95/29-34. 603
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
“DIRETIVA N° 93/13/CEE DO CONSELHO, DE 5 DE ABRIL DE 1993
Relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores. O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Econômica Europeia e, nomeadamente, o seu art. 100-A, Tendo em conta a proposta da Comissão,243 Em cooperação com o Parlamento Europeu,244 Tendo em conta o parecer do Comitê Econômico e Social,245 Considerando que é necessário adotar as medidas destinadas a estabelecer progressivamente o mercado interno durante um período que expira em 31 de dezembro de 1992; que o mercado interno compreende um espaço sem fronteiras internas, no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é assegurada; Considerando que as legislações dos Estados-membros respeitantes às cláusulas dos contratos celebrados entre, por um lado, o vendedor de bens ou o presta dor de serviços e, por outro, o consumidor, revelam numerosas disparidades, daí resultando que os mercados nacionais de venda de bens e de oferta de serviços aos consumidores diferem de país para país e que se podem verificar distorções de concorrência entre vendedores de bens e prestadores de serviços nomeadamente quando da comercialização noutros Estados-membros; Considerando, em especial, que as legislações dos Estados-membros respei tantes às cláusulas abusivas em contratos celebrados com os consumidores apresentam divergências marcantes; Considerando que compete aos Estados-membros providenciar para que não sejam incluídas cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores; Considerando que, regra geral, os consumidores de um Estado-membro desco nhecem as regras por que se regem, nos outros Estados-membros, os contratos relativos à venda de bens ou à oferta de serviços; que esse desconhecimento pode dissuadi-los de efetuarem transações diretas de compra de bens ou de fornecimento de serviços noutro Estado-membro; Considerando que, para facilitar o estabelecimento do mercado interno e proteger os cidadãos que, na qualidade de consumidores, adquiram bens e serviços mediante contratos regidos pela legislação de outros Estados-membros, é essencial eliminar desses contratos as cláusulas abusivas; Considerando que os vendedores de bens e os prestadores de serviços serão, assim, ajudados na sua atividade de venda de bens e de prestação de serviços, tanto no seu próprio país como no mercado externo; que a concorrência será assim estimulada, contribuindo para uma maior possibilidade de escolha dos cidadãos da Comunidade, enquanto consumidores; 245 JO n° C 73, dc 24.3.92, p. 7. 244 JO n° C 326, de 16.12.91, p. 108 e JO n° C 21, dc 25.1.93. 245 JO n° C 159, dc 17.6.91, p. 34. 604
Capítulo VI - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
Considerando que os dois programas comunitários no domínio da política de informação e defesa dos consumidores246 sublinham a importância de os consumidores serem protegidos contra cláusulas contratuais abusivas; que esta proteção deve ser assegurada por disposições legislativas e regulamen tares, quer harmonizadas a nível comunitário quer diretamente adotadas ao mesmo nível; Considerando que, de acordo com o princípio estabelecido nesses dois pro gramas sob o título “Proteção dos interesses econômicos dos consumidores”, os adquirentes de bens ou de serviços devem ser protegidos contra abusos de poder dos vendedores ou dos prestatários, nomeadamente contra os contratos de adesão e contra a exclusão abusiva de direitos essenciais nos contratos; Considerando que se pode obter uma proteção mais eficaz dos consumido res através da adoção de regras uniformes em matéria de cláusulas abusivas; que essas regras devem ser aplicáveis a todos os contratos celebrados entre um profissional e um consumidor; que, por conseguinte, são nomeadamente excluídos da presente diretiva os contratos de trabalho, os contratos relativos aos direitos sucessórios, os contratos relativos ao estatuto familiar, bem como os contratos relativos à constituição e aos estatutos das sociedades; Considerando que o consumidor deve beneficiar da mesma proteção, tanto para um contrato oral como para um contrato escrito e, neste último caso, independentemente do fato de os termos desse contrato se encontrarem re gistrados num único ou em vários documentos; Considerando no entanto que, na atual situação das legislações nacionais, apenas se poderá prever uma harmonização parcial; que, nomeadamente, apenas as cláusulas contratuais que não tenham sido sujeitas a negociações individuais são visadas pela presente diretiva; que há que deixar aos Estados-membros a possibilidade de, no respeito pelo Tratado CEE, assegurarem um nível de proteção mais elevado do consumidor através de disposições nacionais mais rigorosas do que as da presente diretiva; Considerando que se parte do princípio de que as disposições legislativas ou regulamentares dos Estados-membros que estabelecem, direta ou indireta mente, as cláusulas contratuais com os consumidores não contêm cláusulas abusivas; que, consequentemente, se revela desnecessário submeter ao disposto na presente diretiva as cláusulas que refletem as disposições legislativas ou regulamentares imperativas bem como os princípios ou as disposições de con venções internacionais de que são parte os Estados-membros da Comunidade; que, neste contexto, a expressão “disposições legislativas ou regulamentares imperativas” que consta do n° 2 do art. Io abrange igualmente as normas aplicáveis por lei às partes contratantes quando não tiverem sido acordadas quaisquer outras disposições; Considerando, contudo, que os Estados-membros devem providenciar para que tais cláusulas abusivas não figurem nos contratos, nomeadamente por a presente diretiva se aplicar igualmente às atividades profissionais de caráter público; 246 JO n° C 92, dc 25.4.75, p. 1, e JO n° C 133, de 3.6.81, p. 1. 605
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
Considerando que é necessário estabelecer os critérios gerais de apreciação do caráter abusivo das cláusulas contratuais; Considerando que a apreciação, segundo os critérios gerais estabelecidos, do caráter abusivo das cláusulas, nomeadamente nas atividades profissionais de caráter público que forneçam serviços coletivos que tenham em conta a soli dariedade entre os utendes, necessita de ser completada por um instrumento de avaliação global dos diversos interesses implicados; que tal consiste na exigência de boa-fé; que, na apreciação da boa-fé, é necessário dar especial atenção à força das posições de negociação das partes, à questão de saber se o consumidor foi de alguma forma incentivado a manifestar o seu acordo com a cláusula e se os bens ou serviços foram vendidos ou fornecidos por espe cial encomenda do consumidor; que a exigência de boa-fé pode ser satisfeita pelo profissional, tratando de forma leal e equitativa com a outra parte, cujos legítimos interesses deve ter em conta; Considerando que, para efeitos da presente diretiva, a lista das cláusulas constante do anexo terá um caráter meramente indicativo e que, devido a esse caráter mínimo, poderá ser alargada ou limitada, nomeadamente quanto ao alcance de tais cláusulas, pelos Estados-membros no âmbito das respectivas legislações; Considerando que a natureza dos bens ou serviços deverá influir na apreciação do caráter abusivo das cláusulas contratuais; Considerando que, para efeitos da presente diretiva, a apreciação do caráter abusivo de uma cláusula não deve incidir sobre cláusulas que descrevam o objeto principal do contrato ou a relação qualidade/preço do fornecimento ou de prestação; que o objeto principal do contrato e a relação qualidade/ preço podem todavia ser considerados na apreciação do caráter abusivo de outras cláusulas; que desse fato decorre, inter alia, que, no caso de contratos de seguros, as cláusulas que definem ou delimitam claramente o risco segu rado e o compromisso do segurador não são objeto de tal apreciação desde que essas limitações sejam tidas em conta no cálculo do prêmio a pagar pelo consumidor; Considerando que os contratos devem ser redigidos em termos claros e compreensíveis, que o consumidor deve efetivamente ter a oportunidade de tomar conhecimento de todas as cláusulas e que, em caso de dúvida, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor; Considerando que os Estados-membros devem tomar as medidas necessárias para evitar a presença de cláusulas abusivas em contratos celebrados entre profissionais e consumidores; que, se apesar de tudo essas cláusulas constarem dos contratos, os consumidores não serão por elas vinculados, continuando o contrato a vincular as partes nos mesmos termos, desde que possa subsistir sem as cláusulas abusivas; Considerando que em certos casos existe a possibilidade de privar o consumidor da proteção concedida pela presente diretiva designando o direito de um país terceiro como direito aplicável ao contrato; que, consequentemente, importa prever na presente diretiva disposições destinadas a evitar este risco; Considerando que as pessoas ou organizações que, segundo a legislação de um Estado-membro, têm um interesse legítimo na defesa do consumidor, 606
Capítulo VI - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
devem dispor da possibilidade de recorrer quer a uma autoridade judicial quer a um órgão administrativo competentes para decidir em matéria de queixas ou para intentar ações judiciais adequadas contra cláusulas contra tuais, em particular cláusulas abusivas, redigidas com vista a uma utilização generalizada, em contratos celebrados pelos consumidores; que essa faculdade não implica, contudo, um controle prévio das condições gerais utilizadas nos diversos setores econômicos; Considerando que as autoridades judiciárias e órgãos administrativos dos Estados-membros devem dispor de meios adequados e eficazes para pôr termo à aplicação das cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores. ADOTOU A PRESENTE DIRETIVA: Art. I o 1. A presente diretiva tem por objetivo a aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros relativas às cláusulas abusivas em contratos celebrados entre profissionais e consumidores. 2. As disposições da presente diretiva não se aplicam às cláusulas contratuais decorrentes de disposições legislativas ou regulamentares imperativas, bem como das disposições ou dos princípios previstos nas convenções internacionais de que os Estados-membros ou a Comunidade sejam parte, nomeadamente no domínio dos transportes. Art. 2o Para efeitos da presente diretiva, entende-se por: a) “Cláusulas abusivas”, as cláusulas de um contrato tal como são definidas no art. 3o; b) “Consumidor”, qualquer pessoa singular que, nos contratos abrangidos pela presente diretiva, não pertençam ao âmbito da sua atividade profis sional; c) “Profissional”, qualquer pessoa singular ou coletiva que, nos contratos abrangidos pela presente diretiva, seja ativa no âmbito da sua atividade pro fissional, pública ou privada. Art. 3o 1. Uma cláusula contratual que não tenha sido objeto de negociação indivi dual é considerada abusiva quando, a despeito da exigência de boa-fé, der origem a um desequilíbrio significativo em detrimento do consumidor, entre os direitos e obrigações das partes decorrentes do contrato. 2. Considera-se que uma cláusula não foi objeto de negociação individual sempre que a mesma tenha sido redigida previamente e, consequentemente, o consumidor não tenha podido influir no seu conteúdo, em especial no âmbito de um contrato de adesão. O fato de alguns elementos de uma cláusula ou uma cláusula isolada terem sido objeto de negociação individual não exclui a aplicação do presente artigo ao resto de um contrato se a apreciação global revelar que, apesar disso, se trata de um contrato de adesão. 607
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
Se o profissional sustar que uma cláusula normalizada foi objeto de negociação individual, caber-lhe-á o ônus da prova. 3. O anexo contém uma lista indicativa e não exaustiva de cláusulas que podem ser consideradas abusivas. Art. 4o 1. Sem prejuízo do art. 7o, o caráter abusivo de uma cláusula poderá ser avaliado em função da natureza dos bens ou serviços que sejam objeto do contrato e mediante consideração de todas as circunstâncias que, no momento em que aquele foi celebrado, rodearam a sua celebração, bem como de todas as outras cláusulas do contrato, ou de outro contrato de que este dependa. 2. A avaliação do caráter abusivo das cláusulas não incide nem sobre a definição do objeto principal do contrato nem sobre a adequação entre o preço e a remuneração, por um lado, e os bens ou serviços a fornecer em contrapartida, por outro, desde que essas cláusulas se encontrem redigidas de maneira clara e compreensível. Art. 5o No caso dos contratos em que as cláusulas propostas ao consumidor estejam, na totalidade ou em parte, consignadas por escrito, essas cláusulas deverão ser sempre redigidas de forma clara e compreensível. Em caso de dúvida sobre o significado de uma cláusula, prevalecerá a interpretação mais favorável ao consumidor. Esta regra de interpretação não é aplicável no âmbito dos pro cessos previstos no n° 2 do art. 7o. Art. 6o 1. Os Estados-membros estipularão que, nas condições fixadas pelos respectivos direitos nacionais, as cláusulas abusivas constantes de um contrato celebrado com um consumidor por um profissional não vinculem o consumidor e que o contrato continue a vincular as partes nos mesmos termos, se puder subsistir sem as cláusulas abusivas. 2. Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para que o consumi dor não seja privado da proteção concedida pela presente diretiva pelo fato de ter sido escolhido o direito de um país terceiro como direito aplicável ao contrato, desde que o contrato apresente uma relação estreita com o território dos Estados-membros. Art. 7o 1. Os Estados-membros providenciarão para que, no interesse dos consumi dores e dos profissionais concorrentes, existam meios adequados e eficazes para pôr termo à utilização das cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores por um profissional. 2. Os meios a que se refere o n° 1 incluirão disposições que habilitem as pessoas ou organizações que, segundo a legislação nacional, têm um interesse legítimo na defesa do consumidor, a recorrer, segundo o direito nacional, aos tribunais ou aos órgãos administrativos competentes para decidir se determi nadas cláusulas contratuais, redigidas com vista a uma utilização generalizada, têm ou não um caráter abusivo, e para aplicar os meios adequados e eficazes para pôr termo à utilização dessas cláusulas. 608
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
3. Respeitando a legislação nacional, os recursos previstos no n° 2 podem ser interpostos, individualmente ou em conjunto, contra vários profissionais do mes mo setor econômico ou respectivas associações que utilizem ou recomendem a utilização das mesmas cláusulas contratuais gerais ou de cláusulas semelhantes. A rt 8o Os Estados-membros podem adotar ou manter, no domínio regido pela pre sente diretiva, disposições mais rigorosas, compatíveis com o Tratado, para garantir um nível de proteção mais elevado para o consumidor. Art. 9o A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho o mais tar dar, cinco anos após a data referida no n° 1 do art. 10, um relatório sobre a aplicação da presente diretiva. A rt 10 1. Os Estados-membros adotarão as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente diretiva, o mais tardar, em 31 de dezembro de 1994. Do fato informarão imediatamente a Comissão. As disposições adotadas serão aplicáveis a todos os contratos celebrados após 31 de dezembro de 1994. 2. Sempre que os Estados-membros adotarem tais disposições, estas deverão incluir uma referência à presente diretiva ou ser acompanhadas dessa referên cia quando da sua publicação oficial. As modalidades desta referência serão adotadas pelos Estados-membros. 3. Os Estados-membros comunicarão à Comissão o texto das disposições essenciais de direito interno que adotem no domínio abrangido pela presente diretiva. A rt 11 Os Estados-membros são os destinatários da presente diretiva. Feito em Luxemburgo, em 5 de abril de 1993. Pelo Conselho - O Presidente N. Helveg Petersen ANEXO CLÁUSULAS PREVISTAS NO N° 3 DO ART. 3o 1. Cláusulas que têm como objetivo ou como efeito: a) Excluir ou limitar a responsabilidade legal do profissional em caso de morte de um consumidor ou danos corporais que tenha sofrido em resultado de um ato ou de uma omissão desse profissional; b) Excluir ou limitar de forma inadequada os direitos legais do consumidor em relação ao profissional ou a uma outra parte em caso de não execução total ou parcial ou de execução defeituosa pelo profissional de qualquer das obrigações contratuais, incluindo a possibilidade de compensar uma dívida para com o profissional através de qualquer caução existente; c) Prever um compromisso vinculativo por parte do consumidor, quando a execução das prestações do profissional está sujeita a uma condição cuja realização depende apenas de sua vontade; 609
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
d) Permitir ao profissional reter montantes pagos pelo consumidor se este renunciar à celebração ou à execução do contrato, sem prever o direito de o consumidor receber do profissional uma indenização de montante equivalente se for este a renunciar; e) Impor ao consumidor que não cumpra as suas obrigações uma indenização de montante desproporcionalmente elevado; j) Autorizar o profissional a rescindir o contrato de forma discricionária sem reconhecer essa faculdade ao consumidor, bem como permitir ao profissional reter os montantes pagos a título de prestações por ele ainda não realizadas quando é o próprio profissional que rescinde o contrato; g) Autorizar o profissional a pôr termo a um contrato de duração indetermi nada sem um pré-aviso razoável, exceto por motivo grave; h) Renovar automaticamente um contrato de duração determinada na falta de comunicação em contrário por parte do consumidor, quando a data limite fixada para comunicar essa vontade de não renovação do contrato por parte do consumidor for excessivamente distante da data do termo do contrato; 0 Declarar verificada, de forma irrefragável, a adesão do consumidor a cláusulas que este não teve efetivamente oportunidade de conhecer antes da celebração do contrato; j) Autorizar o profissional a alterar unilateralmente os termos do contrato sem razão válida e especificada no mesmo; k) Autorizar o profissional a modificar unilateralmente sem razão válida algu mas das características do produto a entregar ou do serviço a fornecer; /) Prever que o preço dos bens seja determinado na data da entrega ou conferir ao vendedor de bens ou ao fornecedor de serviços o direito de aumentar os respecti vos preços, sem que em ambos os casos o consumidor disponha, por seu lado, de um direito que lhe permita romper o contrato se o preço final for excessivamente elevado em relação ao preço previsto à data da celebração do contrato; m) Facultar ao profissional o direito de decidir se a coisa entregue ou o serviço fornecido está em conformidade com as disposições do contrato ou conferir-lhe o direito exclusivo de interpretar qualquer cláusula do contrato; n) Restringir a obrigação, que cabe ao profissional, de respeitar os compro missos ao cumprimento de uma formalidade específica; o) Obrigar o consumidor a cumprir todas as suas obrigações, mesmo que o profissional não tenha cumprido as suas; p) Prever a possibilidade de cessão da posição contratual por parte do pro fissional, se esse fato for suscetível de originar uma diminuição das garantias para o consumidor, sem que este tenha dado o seu acordo; q) Suprimir ou entravar a possibilidade de intentar ações judiciais ou seguir outras vias de recurso, por parte do consumidor, nomeadamente, obrigando-o a submeter-se exclusivamente a uma jurisdição de arbitragem não abrangida por disposições legais, limitando indevidamente os meios de prova à sua disposição ou impondo-lhe um ônus de prova que, nos termos do direito aplicável, caberia normalmente a outra parte contratante. 610
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
2. Alcance das alíneas g, j e l: d) Na alínea g são prejudiciais as cláusulas pelas quais o fornecedor de serviços financeiros se reserva o direito de extinguir unilateralmente e sem pré-aviso, no caso de razão válida, um contrato de duração indeterminada, desde que fique a cargo do profissional a obrigação de informar imediatamente dessa decisão a ou as outras partes contratantes. b) A alínea j não prejudica as cláusulas segundo as quais o fornecedor de serviços financeiros se reserva o direito de alterar a taxa de juro devida ao consumidor ou o montante de quaisquer outros encargos relativos a serviços financeiros sem qualquer pré-aviso em caso de razão válida, desde que seja atribuída ao profissional a obrigação de informar desse fato a ou as outras partes contratantes o mais rapidamente possível, e que estas sejam livres de rescindir imediatamente o contrato. A alínea j também não prejudica as cláusulas segundo as quais o profissional se reserva o direito de alterar unilateralmente as condições de um contrato de duração indeterminada desde que seja atribuída ao profissional a obrigação de informar desse fato o consumidor com um pré-aviso razoável e que este tenha a liberdade de rescindir o contrato. c) As alíneas gyj e / não se aplicam: - às transações relativas a valores mobiliários e produtos ou serviços cujo preço dependa das flutuações de uma taxa de mercado financeiro que o profissional não controla; - aos contratos de compra ou venda de divisas, de cheques de viagem ou de vales postais internacionais expressos em divisas. d) A alínea l não prejudica as cláusulas de indexação de preços, desde que as mesmas sejam lícitas e o processo de variação do preço nelas esteja expli citamente descrito.”
[34] CLÁUSULAS ABUSIVAS. ROL ESTABELECIDO PELA PORTA RIA N° 4, DE 13.3.98, DA SDE-MJ - A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, em atendimento ao comando dos arts. 22, n° IV, e 56, do Regulamento do Código de Defesa do Consumidor (Decreto n° 2.181, de 20.3.97), editou a Portaria n° 4, de 13.3.98,247 que estabelece rol exemplificativo de cláusulas abusivas, tendo em vista experiência da casuística dos órgãos de proteção do consumidor e dos tribunais do País. Esse rol serve de parâmetro para orientação de todos aqueles que lidam com a matéria de cláusulas abu sivas nas relações de consumo. Não é vinculante, mas apenas esclarecedor das hipóteses concretas de cláusulas abusivas. Pela Portaria n° 4, de 13.3.98, da SDE-MJ, são consideradas abusivas, dentre outras, as cláusulas que: “1 - estabeleçam prazos de carência na prestação ou fornecimento de serviços, em caso de impontualidade das prestações ou mensalidades; 247 Portaria n° 4, de 13.3.98, da SDE-MJ, publicada no Diário Oficial da União, dc 16.3.98, p. 10. 611
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
2 - imponham, em caso de impontualidade, interrupção de serviço essencial, sem aviso prévio; 3 - não restabeleçam integralmente os direitos do consumidor a partir da purgação da mora; 4 - impeçam o consumidor de se beneficiar do evento, constante de termo de garantia contratual, que lhe seja mais favorável; 5 - estabeleçam a perda total ou desproporcionada das prestações pagas pelo consumidor, em beneficio do credor, que, em razão de desistência ou inadimplemento, pleitear a resilição ou resolução do contrato, ressalvada a cobrança judicial de perdas e danos comprovadamente sofridos; 6 - estabeleçam sanções em caso de atraso ou descumprimento da obrigação somente em desfavor do consumidor; 7 - estabeleçam cumulativamente a cobrança de comissão de permanência e correção monetária; 8 - elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de consumo diverso daquele onde reside o consumidor; 9 - obriguem o consumidor ao pagamento de honorários advocatícios sem que haja ajuizamento de ação correspondente; 10 - impeçam, restrinjam ou afastem a aplicação das normas do Código de Defe sa do Consumidor nos conflitos decorrentes de contratos de transporte aéreo; 11 - atribuam ao fornecedor o poder de escolha entre múltiplos índices de reajuste, entre os admitidos legalmente; 12 - permitam ao fornecedor emitir títulos de crédito em branco ou livre mente circuláveis por meio de endosso na representação de toda e qualquer obrigação assumida pelo consumidor; 13 - estabeleçam a devolução de prestações pagas, sem que os valores sejam corrigidos monetariamente; 14 - imponham limite ao tempo de internação hospitalar, que não o prescrito pelo médico”.248
Posteriormente, a mesma SDE-MJ emitiu nota esclarecedora de dú vidas a respeito do conteúdo e alcance da Portaria n° 4/98. Assim, pelo Despacho n° 132, de 12.5.98,249 o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, ouvido o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, em conformidade com a decisão unânime extraída da 19a Reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Brasília, 11 a 13.5.98), apresentou nota explicativa a algumas das cláusulas enumeradas na Portaria n° 4, anteriormente relacionadas. São as seguintes as cláusulas e respectivas notas explicativas: 248 STJ, AgRg no REsp n° 609.372/RS, 3* Türma, rcL Min. Nancy Andrighi, j. de 23.11.2005. 249 Despacho n° 132, de 12.5.98, do secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, ouvido o Departam ento de Proteção e Defesa do Consumidor, publicado no Diário Oficial da União, de 18.5.98. 612
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
Cláusula n° 2: “imponham, em caso de impontualidade, interrupção de serviço essencial sem aviso prévio”. Nota explicativa: a interrupção de serviço essen cial no caso de impontualidade requer aviso formal (escrito) para configurar inadimplência, possibilitando, pois, ao consumidor (usuário) cumprir sua obrigação em prazo razoável. Incluem-se os serviços de telefonia, abastecimento de água e esgoto, energia elétrica, dentre outros previstos em lei. Cláusula n° 4: “impeçam o consumidor de se beneficiar do evento, constante de termo de garantia contratual, que lhe seja mais fa v o rá v e lNota explica tiva: somente o consumidor, enquanto destinatário final, pode se beneficiar do evento constante do termo de garantia que lhe for mais favorável, não se aplicando o CDC ao adquirente do produto que se destine a negócio ou produção. Exemplo: veículos de uso comercial Cláusula n° 5: “estabeleçam a perda total ou desproporcionada das prestações pagas pelo consumidor, em benefício do credor, que, em razão de desistência ou inadimplemento, pleitear a resilição ou resolução do contrato, ressalvada a cobrança judicial de perdas e danos comprovadamente so fr id o sNota ex plicativa: tem assento nos princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da vulnerabilidade do consumidor o rompimento unilateral do contrato; quando, o consumidor não honrar o pactuado, restringe-se aos casos previstos em lei. O alcance desse item se dá mais significativamente nos contratos de trato sucessivo eprestação continuada, comprazo determinado, de bens eserviços, afastando-se, pois, a possibilidade da perda total ou desproporcionada das prestações pagas a título de adiantamento, bem como a imposição de obrigação do pagamento da totalidade ou parcela desproporcionada das prestações vincendas a título compensatório. Cláusula n° 9: “obriguem o consumidor ao pagamento de honorários advocatícios sem que haja ajuizamento de ação correspondente”. Nota explicativa: o consumidor não está obrigado ao pagamento de honorários ao advogado do fornecedor. Os serviços jurídicos contratados diretamente entre o advogado e o consumidor não se enquadram nesse item. [35] CLÁUSULAS ABUSIVAS ESTIPULADAS NA PORTARIA N° 3/99, DA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔM ICO D O M INISTÉRIO DA JUS TIÇA - A Portaria n° 3, de 19.3.99, publicada no Diário Oficial da União, de 22.3.99, p. 1, considerou abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contra tuais que enumera. Trata-se de ato administrativo, sem força vinculante de lei, mas, certamente, será norte seguro para futuras decisões do Poder Judiciário e servirá, tam bém , como parâm etro para o M inistério Público, órgãos de defesa do consum idor e, por fim e principalmente, para os fornecedores de produtos e serviços, para que retirem de seus contratos referidas cláusulas abusivas e/ ou não façam induí-las em formulários e contratos futuros. Com o o rol do art. 51 do C D C é exemplificativo, e tendo em vista que os arts. 22, IV, e 56 do D ecreto n° 2.181/97 (Regulam ento do CD C) deter 613
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
minam à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça editar anualmente rol de cláusulas abusivas extraídas da experiência cotidiana e da jurisprudência dos tribunais, passamos a transcrever referido rol:250 “Portaria n° 3, da SDE-MJ, de 22.3.99 O secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no uso de suas atribuições legais, Considerando que o elenco de cláusulas abusivas relativas ao fornecimento de produtos e serviços, constantes do art. 51 da Lei n° 8.078, de 11 de se tembro de 1990, é de tipo aberto, exemplificativo, permitindo desta forma a sua complementação; Considerando o disposto no art. 56 do Decreto n° 2.181, de 20 de março de 1997, que regulamentou a Lei n° 8.078/90, e com o objetivo de orientar 0 Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, notadamente para o fim de aplicação do disposto no inc. IV do art. 22, deste Decreto, bem assim promo ver a educação e a informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com a melhoria, transparência, harmonia, equilíbrio e boa-fé nas relações de consumo, e Considerando que decisões administrativas de diversos PROCONs, entendi mentos dos Ministérios Públicos ou decisões judiciais pacificam como abusivas as cláusulas a seguir enumeradas, resolve: Divulgar, em aditamento ao elenco do art. 51 da Lei n° 8.078/90, e do art. 22 do Decreto n° 2.181/97, as seguintes cláusulas que, dentre outras, são nulas de pleno direito: 1 - Determinem aumentos de prestações nos contratos de planos e seguros de saúde, firmados anteriormente à Lei n° 9.656/98, por mudanças de faixas etárias sem previsão expressa e definida; 2 - Imponham em contratos de planos de saúde, firmados anteriormente à Lei n° 9.656/98, limites ou restrições a procedimentos médicos (consultas, exames médicos, laboratoriais e internações hospitalares, UTI e similares) contrariando prescrição médica; 3 - Permitam ao fornecedor de serviço essencial (água, energia elétrica, tele fonia) incluir na conta, sem autorização expressa do consumidor, a cobrança de outros serviços. Excetuam-se os casos em que a prestadora do serviço essencial informe e disponibilize gratuitamente ao consumidor a opção de bloqueio prévio da cobrança ou utilização dos serviços de valor adicionado; 4 - Estabeleçam prazos de carência para cancelamento do contrato de cartão de crédito; 5 - Imponham o pagamento antecipado referente a períodos superiores a 30 dias pela prestação de serviços educacionais ou similares; 6 - Estabeleçam, nos contratos de prestação de serviços educacionais, a vinculação à aquisição de outros produtos ou serviços; 250 Portaria n° 3, dc 19.3.99, da SDE-MJ, publicada no Diário Oficial da União, dc 22.3.99, p. 1. 614
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
7 - Estabeleçam que o consumidor reconheça que o contrato acompanhado do extrato demonstrativo da conta corrente bancária constituem título executivo extrajudicial, para os fins do art. 585, II, do Código de Processo Civil; 8 - Estipulem o reconhecimento, pelo consumidor, de que os valores, lançados no extrato da conta corrente ou na fatura do cartão de crédito, constituem dívida líquida, certa e exigível; 9 - Estabeleçam a cobrança de juros capitalizados mensalmente; 10 - Imponham, em contratos de consórcio, o pagamento de percentual a título de taxa de administração futura, pelos consorciados desistentes ou excluídos; 11 - Estabeleçam, nos contratos de prestação de serviços educacionais e similares, multa moratória superior a 2% (dois por cento); 12 - Exijam assinatura de duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias ou quaisquer outros títulos de crédito em branco; 13 - Subtraiam ao consumidor, nos contratos de seguro, o recebimento de valor inferior ao contrato na apólice. 14 - Prevejam em contratos de arrendamento mercantil (leasing) a exigência, a título de indenização, do pagamento das parcelas vincendas, no caso de restituição do bem; 15 - Estabeleçam, em contrato de arrendamento mercantil (leasing), a exigência do pagamento antecipado do Valor Residual Garantido (VRG), sem previsão de devolução desse montante, corrigido monetariamente, se não exercida a opção de compra do bem. Ruy Coutinho do Nascimento”
[36] CLÁUSULAS ABUSIVAS ESTIPULADAS NA PORTARIA N° 3/01, DA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - A Portaria n° 3, de 15.3.2001, publicada no Diário Oficial da União, de 17.3.2001, considera abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que enumera. Ver, a respeito, os comentários constantes do item n° 35, anteriormente. Este é o texto integral da referida portaria: “O secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no uso de suas atribuições legais, Considerando que o elenco de cláusulas abusivas relativas ao fornecimento de produtos e serviços, constantes do art. 51 da Lei n° 8.078, de 11 de se tembro de 1990, é de tipo aberto, exemplificativo, permitindo, desta forma a sua complementação; Considerando o disposto no art. 56 do Decreto n° 2.181, de 20 de março de 1997, que regulamentou a Lei n° 8.078/90, e com o objetivo de orientar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, notadamente para o fim de aplicação do disposto no inc. IV do a rt 22 desse Decreto, bem assim promo ver a educação e a informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com a melhoria, transparência, harmonia, equilíbrio e boa-fé nas relações de consumo; 615
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
Considerando que decisões judiciais, decisões administrativas de diversos PROCONs, e entendimentos dos Ministérios Públicos pacificam como abusivas as cláusulas a seguir enumeradas, resolve: Divulgar o seguinte elenco de cláusulas, as quais, na forma do art. 51 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e do art. 56 do Decreto n° 2.181, de 20 de março de 1997, com o objetivo de orientar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, serão consideradas como abusivas, notadamente para fim de aplicação do disposto no inc. IV, do art. 22 do Decreto n° 2.181: 1 - Estipule presunção de conhecimento por parte do consumidor de fatos novos não previstos em contrato; 2 - Estabeleça restrições ao direito do consumidor de questionar nas esferas ad ministrativa e judicial possíveis lesões decorrentes de contrato por ele assinado; 3 - Imponha a perda de parte significativa das prestações já quitadas em situações de venda a crédito, em caso de desistência por justa causa ou im possibilidade de cumprimento da obrigação pelo consumidor; 4 - Estabeleça cumulação de multa rescisória e perda do valor das arras; 5 - Estipule a utilização, expressa ou não, de juros capitalizados nos contratos civis; 6 - Autorize, em virtude de inadimplemento, o não fornecimento ao consu midor de informações de posse do fornecedor, tais como: histórico escolar, registros médicos, e demais do gênero; 7 - Autorize o envio do nome do consumidor e/ou seus garantes a cadastros de consumidores (SPC, SERASA etc.), enquanto houver discussão em juízo relativa à relação de consumo; 8 - Considere, nos contratos bancários, financeiros e de cartões de crédito, o silêncio do consumidor, pessoa física, como aceitação tácita dos valores co brados, das informações prestadas nos extratos ou aceitação de modificações de índices ou de quaisquer alterações contratuais; 9 - Permita à instituição bancária retirar da conta corrente do consumidor ou cobrar restituição deste dos valores usados por terceiros, que de forma ilícita estejam de posse de seus cartões bancários ou cheques, após comunicação de roubo, furto ou desaparecimento suspeito ou requisição de bloqueio ou final de conta; 10 - Exclua, nos contratos de seguro de vida, a cobertura de evento decor rente de doença preexistente, salvo as hipóteses em que a seguradora com prove que o consumidor tinha conhecimento da referida doença à época da contratação; 11 - Limite temporalmente, nos contratos de seguro de responsabilidade civil, a cobertura apenas às reclamações realizadas durante a vigência do contrato, e não ao evento ou sinistro ocorrido durante a vigência; 12 - Preveja, nos contratos de seguro de automóvel, o ressarcimento pelo valor de mercado, se inferior ao previsto no contrato; 13 - Impeça o consumidor de acionar, em caso de erro médico, diretamente a operadora ou cooperativa que organiza ou administra o plano privado de assistência à saúde; 616
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
14 - Estabeleça, no contrato de venda e compra de imóvel, a incidência de juros antes da entrega das chaves; 15 - Preveja, no contrato de promessa de venda e compra de imóvel, que o adquirente autorize ao incorporador aliénante constituir hipoteca do terreno e de suas acessões (unidades construídas) para garantir dívida da empresa incorporadora, realizada para financiamento de obras; 16 - Vede, nos serviços educacionais, em face de desistência pelo consu midor, a restituição de valor pago a título de pagamento antecipado de mensalidade; Paulo de Tarso Ramos Ribeiro” Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, [1] o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: [2] I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; [3] II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; [4] III - acréscimos legalmente previstos; [5] IV - número e periodicidade das prestações; [6] V - soma total a pagar, com e sem financiamento. [7] § 1o As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obri gações no seu termo não poderão ser superiores a 2 % (dois por cento) do valor da prestação. [8] (Redação dada pela Lei n 9.298/96. (DOU de 2.8.96, p. 14.457.) § 2°É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. [9] § 3o Vetado - O fornecedor ficará sujeito a multa civil e perda dos juros, além de outras sanções cabíveis, se descumprir o disposto neste artigo. [10]
COMENTÁRIOS
[1] CRÉDITO AO CONSUMIDOR - Nesse dispositivo a lei ratifica os termos do art. 3o, § 2o, que define o serviço como objeto da relação de con sumo, incluindo nesse conceito os de natureza creditícia e financeira.251 251 Ver as tratativas sobre os contratos de crédito c de financiamento, como sujeitos às normas do CDC, na Introdução ao capítulo da proteção contratual, especialmente as constantes do subtítulo contratos bancários, supra. 617
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
São redutíveis ao regime deste artigo todos os contratos que envolve rem crédito, como os de mútuo, de abertura de crédito rotativo (“cheque especial”), de cartão de crédito, de financiamento de aquisição de produto durável por alienação fiduciária ou reserva de domínio, de empréstimo para aquisição de imóvel etc., desde que, obviamente, configurem relação jurídica de consumo.252 Assim, não só os contratos bancários, mas tam bém os celebrados entre o consumidor e instituição financeira tout court submetem-se à norma comentada. [2] INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA - Complementando o sentido do art. 46 do Código, o dispositivo disciplina o conteúdo da informação no caso de fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor. Trata-se de especificação daquela norma geral. A informação deve ser dada ao consumidor previamente à celebração do contrato, na fase das tratativas preliminares. O objetivo é propiciar ao consumidor a opção firme quanto à contratação à vista ou por crédito ou financiamento. Tendo os parâmetros sobre as bases contratuais do negócio de crédito ou financiamento, o consumidor pode entender que lhe é mais vantajoso celebrar o contrato à vista. A lei impõe que essas informações, além de serem fornecidas previa mente ao consumidor, o sejam de forma adequada. A adequabilidade da informação depende do tipo de contrato de consumo, do nível econômico, social e intelectual do consumidor e demais fatores peculiares ao negócio, como as bases do mercado, os usos e costumes etc. [3] PREÇO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL - A informa ção sobre o preço é exigência da oferta e apresentação do produto ou serviço (art. 31, CDC). O dispositivo acrescenta que deve o consumidor ser esclarecido sobre o preço, em moeda corrente nacional, do produto ou serviço fornecido por meio de crédito ou financiamento. Por moeda corrente nacional entenda-se o real, vedada a contratação em moeda es trangeira ou com base em outro fator de indexação, ainda que previsto em índices oficiais. [4] MONTANTE E TAXA EFETIVA DE JUROS - O valor total dos juros, que não poderá passar de 12% ao ano (arts. 406 e 591 do Código Civil),253deverá ser informado ao consumidor, inclusive com menção à taxa 252 Ver o que dissemos, na Introdução a este capítulo, sobre a conceituação c caracterização da relação jurídica de consumo, além dos comentários precedentes aos arts. 2° e 3o. 253 O texto originário do art. 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Cons titucional n° 40, de 29.5.2003, previa limitação de juros reais à taxa de 12% ao ano. Hoje, a 618
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
efetiva anual dos juros. Muitas vezes o consumidor não sabe quanto está pagando a título de juros, mas apenas que à vista o preço é x e que finan ciado é y. O Código quer que lhe seja fornecida a taxa efetiva dos juros, a fim de aumentar e melhorar a possibilidade de escolha do consumidor, porque se a taxa dos juros bancários for menor do que a da financeira da loja de departamentos, por exemplo, o consumidor pode entender mais aconselhável fazer empréstimo bancário e comprar o produto à vista, pois pagaria juro menor.254 Taxa efetiva de juros é conceito que se subsume à ideia de juros reais, isto é, aqueles que se constituem sobre toda desvalorização da moeda, re velando ganho efetivo, não se configurando como simples modo de corrigir desvalorização monetária.255 Quando o desconto dos juros se dá antecipadamente, como de ordi nário ocorre nos contratos bancários de empréstimo pessoal, a taxa efetiva de juros não é a nominal, referida pelo gerente como a taxa normalmente cobrada pelo banco, mas é sim todo o ganho que a instituição financeira tem com a celebração do contrato. Se, por exemplo, o consumidor empresta R$ 100.000,00, para pagamento a termo com juros de 30% ao mês - ilegais, mas que as instituições financeiras têm praticado -, pagará, dentro de 30 dias, R$ 130.000,00. Os juros efetivos foram de 30%. Mas se, no mesmo empréstimo de R$ 100.000,00, o banco lhe entrega R$ 70.000,00, descon tando os juros antecipadamente, a taxa efetiva não é de 30% ao mês, mas de 42,85%, pois estará pagando R$ 30.000,00 de juros sobre R$ 70.000,00 e não sobre R$ 100.000,00. Isso tem de ser esclarecido ao consumidor para que a prestação possa dele ser exigida (art. 46, CDC). [5] ACRÉSCIMOS LEGAIS - Também o montante dos acréscimos legais, como os impostos a cargo do consumidor (IPI, ICMS etc.) e outros encargos estabelecidos por lei. Devem ser incluídas nessa informação outras despesas de expediente, tais como taxas de cadastro, comissão de permanên cia, taxas de expediente, montante de seguro e tudo o mais que significar acréscimo no custo do crédito ou financiamento ao consumidor. Constituição Federal não mais limita a taxa de juros. Isso não significa, entretanto, que ela se encontra totalm ente liberada, pois há limitações na lei civil brasileira. Ver, sobre a limitação de juros regulada pelo Direito Privado, Nelson Nery Júnior & Rosa Maria Andrade Ncry, Código Civil anotado, comentários aos arts. 406 e 591 do Código Civil. Todavia, consoante a Súmula Vinculantc n° 07-STF (DJe n° 112, p. 01, em 20.6.2008, e DOU da mesma data, p. 01): “A norm a do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar” (JGBF). 254 Cf. Todavia, o teor da Súmula n° 382 do STF, de seguinte teor: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (JGBF). 255 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, ciL, p. 695. 619
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
[6] NÚMERO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES - Não só o custo financeiro tem de ser comunicado prévia e adequadamente ao con sumidor, mas também o número e a periodicidade das prestações. Se o financiamento tiver cláusula pela qual a obrigação não se extingue com a execução do contrato em seu termo, esse esclarecimento deve ser prestado ao consumidor. Isso ocorre no atual regime de financiamento de imóvel pelo sistema financeiro da habitação, pois o mutuário, depois de terminado o prazo pactuado, deve refinanciar o “resíduo” da dívida. Não sendo essa circunstância esclarecida adequadamente e comunicada ao consumidor, não se lhe poderá exigir o cumprimento da prestação (art. 46, CDC). [7] TOTAL A PAGAR, COM E SEM FINANCIAMENTO - O escla recimento sobre esse tópico é de suma importância para que o consumidor tenha visão completa acerca do negócio jurídico de consumo que está por celebrar. Dependendo dos valores e condições, poderá optar pela compra à vista no lugar de fazer o financiamento. O procedimento salutar, adotado por algumas empresas, de dar ao consumidor informações completas sobre o financiamento, com o total à vista e a prazo, agora se tornou dever do fornecedor, sob pena de não obrigar o consumidor ao cumprimento da prestação (art. 46, CDC). [8] MULTA MORATÓRIA - Ao primeiro exame pode parecer que o Código tenha admitido somente a cláusula penal moratória, para a ocor rência da mora nos contratos de crédito ou financiamento ao consumidor. Todavia, não existe proibição para que se estipule pena para o inadimplemento da obrigação (cláusula penal compensatória). Essa “multa” de que fala o dispositivo é, em verdade, pena convencional.256 A disposição legal ora comentada não impede a fixação de cláusula penal compensatória, nem limita o direito do fornecedor de haver perdas e danos do consumidor. Além da multa moratória (cláusula penal moratória), podem ser co brados, cumulativamente com ela, os juros de mora, porque legalmente devidos e exigíveis (art. 406, Código Civil), ainda que não pactuados expressamente. A cláusula penal, quando estipulada para o inadimplemento da obri gação (cláusula penal compensatória), não enseja possibilidade de exigência cumulativa de perdas e danos,257 porque considerada como substituta da 256 Ver a crítica de Rubens Limongi França à denominação “multa moratória” para a cláusula penal aqui referida (Teoria e prática da cláusula penal, São Paulo, Saraiva, 1988, p. 203). 257 Clóvis Bcvilácqua, Código dos Estados Unidos do Brasil comentado, 10* cd., Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1955, vol. IV, p. 56. 620
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
indenização.258 Quando fixada para o caso de mora no cumprimento da prestação (cláusula penal moratória),259 poderá o fornecedor exigir o cum primento da obrigação juntamente com a pena, como indenização pelos prejuízos resultantes da mesma mora (art. 411, Código Civil). Resumindo, pode ser pactuada cláusula da qual conste pena moratória (cláusula penal moratória), que não excederá 2% do valor da prestação; exigível cumulativamente com os juros da mora, que decorrem de lei (art. 406, do Código Civil); sem prejuízo de eventuais perdas e danos que serão suportados pelo consumidor em mora.260 O objetivo da norma foi limitar a cláusula penal moratória a 2% do valor da prestação, não sendo aplicável aos contratos de consumo o art. 412 do Código Civil, que estabelece o máximo da cláusula penal como sendo o valor da prestação. [9] LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO FINANCIADO Uma das mais importantes conquistas do consumidor com o Código foi o direito de liquidação antecipada do débito financiado, com a devolução ou redução proporcional dos juros e demais encargos. Os bancos e instituições financeiras em geral, bem como fornecedores com financiamento próprio (lojas com departamento de crediário), terão de proporcionar ao consumidor a liquidação antecipada do financiamento, se ele assim pretender, fazendo a competente redução proporcional dos juros e outros acréscimos. Cláusula contratual que preveja renúncia do consumidor à restituição ou diminuição proporcional dos juros e encargos previstos neste dispositivo é abusiva, sendo considerada nula, não obrigando o consumidor (art. 51, nos I, II, IV e XV, CDC). 258 António Pinto Monteiro, Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil, Coimbra, Coimbra Editora, 1985, n° 31, ps. 136-137. 259 É chamada de cláusula penal compensatória cumulativa por Rubens Limongi França, Teoria e prática da cláusula penal, cit., p. 203. 260 STJ, REsp n° 476.649/SP, 3a Turma, rei. Min. Nancy Andrighi, j. de 20.11.2003. Observe-se, ainda, o Enunciado n° 20 do CJF (Conselho da Justiça Federal): “20 - Art. 406: a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês”. Consta ainda como explicação para o enunciado: “A utilização da taxa SELIC como índice de apuração dos juros legais não é juridicam ente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil, que perm ite apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o art. 192, § 3o, da Constituição Federal [suprimido pela EC 40/2003], se resultarem juros reais superiores a 12% (doze por cento) ao ano.” Já segundo o Enunciado n° 34: “Art. 591: no novo Código Civil, quaisquer contratos de mútuo destinados a fins econômicos presumem-se onerosos (art. 591), ficando a taxa de juros compensatórios limitada ao disposto no art. 406, com capitalização anual” (JGBF). 621
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
Caso o fornecedor não assegure esse direito ao consumidor, além do direito previsto neste dispositivo, terá ele direito de haver perdas e danos, patrimoniais e morais, nos termos do art. 6o, n° VI, do CDC. [10] MULTA CIVIL - O parágrafo que instituía a multa civil, por descumprimento das obrigações constantes do artigo, foi vetado pelo presidente da República, sob o argumento de que já existe a obrigação de indenizar prevista pelo Código, além de a multa ser sempre de valor expressivo, sem que sejam definidas a sua destinação e finalidade. Perdeu-se a oportunidade de estabelecer-se verdadeira norma sancionatória, que atuaria como elemento moralizador das relações de consumo. Seria a multa civil destinada ao prejudicado, como um p/ws, ao lado do direito de indenização. Art. 53.
Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, [1] bem como nas alienações fiduciárias em garantia, [2] consideram-se nulas de pleno direito [3] as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. [4] § 1o Vetado - Na hipótese prevista neste artigo, o devedor inadim plente terá direito à compensação ou à restituição das parcelas quitadas à data da resolução contratual, monetariamente atualizadas, descontada a vantagem econômica auferida com a fruição. [5][6] § 2o Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, [7] a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica aufe rida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. [8] § 3o Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. [9] [10] a [10.11]
COMENTÁRIOS
[1] COMPRA E VENDA A PRESTAÇÃO - Para as compras a pres tação, sejam de móveis ou imóveis, com garantia hipotecária, com cláusula de propriedade resolúvel, de alienação fiduciária, reserva de domínio ou outro tipo de garantia, o Código não permite que se pactue a perda total das prestações pagas, no caso de retomada do bem ou resolução do con trato pelo credor, por inadimplemento do consumidor. A norma proíbe,
622
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
ipso facto, o pacto comissório que faculte ao fornecedor ficar com o bem no caso de inadimplemento do consumidor. Compra e venda a prestação é a que não foi celebrada com pagamento à vista, isto é, com dinheiro de contado, ao qual se equivalem o pagamento com cheque regular e aquele realizado com cartão de crédito. Quanto a essa última modalidade de pagamento, há, em verdade, duas relações de consumo: a) uma, que se forma entre vendedor e comprador; b) outra, que existe entre a administradora do cartão de crédito e o con sumidor que comprou mediante cartão. Muito embora o consumidor fique com saldo devedor junto à administradora do cartão de crédito, a relação jurídica entre ele e o fornecedor que lhe vendeu o bem se aperfeiçoou, porque o vendedor recebeu o dinheiro da empresa administradora do cartão de crédito. Não se pode considerar, na perspectiva do vendedor e do comprador consumidor, venda por meio de cartão de crédito como tendo sido feita a prazo, mesmo que o tenha sido em mais de uma pres tação junto à administradora do cartão, pois continua válido o mesmo raciocínio expendido de que a relação jurídica entre comprador e vendedor se exauriu, havendo continuação de outra relação de consumo, formada entre o consumidor (financiado) e a administradora do cartão de crédito (fornecedora do crédito). [2] ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - As vendas feitas com garantia de alienação fiduciária, que torna resolúvel a propriedade do consumidor, também estão abrangidas pelo dispositivo ora analisado. Nos contratos celebrados com base no Decreto-Lei n° 911/69, não se pode estipular nem o pacto comissório nem a perda total das prestações pagas pelo consumidor por ocasião do pedido de resolução do contrato ou da retomada do bem feito pelo fornecedor, credor fiduciário. Do caput do artigo não decorre, porém, o direito à devolução das parcelas pagas. Apenas não se poderá pactuar a perda total das prestações pagas. [3] NULIDADE DE PLENO DIREITO - Mais uma vez o Código confere o regime da nulidade de pleno direito às estipulações que conside ra abusivas e prejudiciais ao Direito do Consumidor. Além das cláusulas proibidas enumeradas nos incisos do art. 51, essa estipulação de perda total das prestações ou do bem financiado é considerada também cláusula abusiva sujeita a nulificação. O regime jurídico dessa estipulação contratual é o mesmo a ser observado para as cláusulas abusivas do art. 51: arguição por meio de ação ou exceção; decretação de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo e grau de jurisdição; não sujeição a prazos de prescrição ou decadência etc. 623
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
[4] PERDA TOTAL DAS PRESTAÇÕES PAGAS - O que está vedado pelo dispositivo é estabelecer-se contratualmente a perda total das prestações pagas, o que configuraria vantagem exagerada atribuída ao fornecedor, em detrimento do consumidor. É permitido, contudo, o estabelecimento de pena para o descumprimento da obrigação pelo consumidor.261 A cláusula que estipular pena para o inadimplemento da obrigação do consumidor deverá ser equitativa e estabelecer vantagem razoável para o fornecedor, proporcional à sua posição e participação no contrato, pois do contrário seria abusiva e ofenderia o postulado do equilíbrio contratual e a cláusula geral de boa-fé (arts. 4o, n° III, e 51, n° IV, CDC). [5] RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS - O texto do § Io desse artigo sofreu veto presidencial com o seguinte fundamento: “Torna-se necessário dar disciplina mais adequada à resolução dos contratos de com pra e venda, por inadimplência do comprador. A venda dos bens mediante pagamento em prestações acarreta diversos custos para o vendedor, que não foram contemplados na formulação do dispositivo. A restituição das prestações, monetariamente corrigidas, sem levar em conta esses aspectos, implica tratamento iníquo, de consequências imprevisíveis e danosas para os diversos setores da economia.” Para os contratos concluídos sob o regime do Decreto-Lei n° 911/69, há previsão no art. 2o desse diploma, no sentido de permitir ao credor a venda do bem alienado fiduciariamente, a fim de que seja pago todo o débito do consumidor junto ao fornecedor, credor fiduciário, revertendo-se o saldo, se houver, para o patrimônio do consumidor. Quanto aos demais contratos de consumo regulados pelo caput do art. 53 do Código, ficaram sem disciplina legal em virtude do veto. Todavia, o texto vetado servirá de parâmetro para o juiz na solução do litígio que versar sobre compra e venda de móveis ou imóveis a prestação. [6] DESCONTO DA VANTAGEM ECONÔMICA AUFERIDA COM A FRUIÇÃO - Seria iníquo exigir-se do fornecedor a devolução integral, pura e simples, das parcelas pagas pelo consumidor, monetariamente atualizadas. No entanto, o parágrafo vetado determinava que se descontasse a vantagem econômica auferida pelo consumidor com a fruição do bem. Far-se-ia esse cálculo por arbitramento judicial, nomeando-se perito que avaliasse qual teria sido a vantagem auferida com a fruição. O vistor estabeleceria qual seria a devolução a que o consumidor teria direito, considerando o valor das prestações pagas e a vantagem econômica auferida por ele com a fruição do bem. 261 STJ, REsp n° 633.793/SC, 3* Turma, rcl. Min. Nancy Andrighi, j. dc 7.6.2005. 624
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
[7] CONSÓRCIO DE PRODUTOS DURÁVEIS - A regra da compen sação ou restituição das parcelas quitadas, quanto ao consórcio de produtos duráveis, foi expressamente estabelecida pelo Código no § 2o do art. 53. Entram no conceito de produtos duráveis os eletrodomésticos em geral (refrigerador, freezer, televisor, videocassete, aparelhos de som, CD, DVD, vídeo, máquina de lavar roupa, máquina de lavar pratos, secadora de roupas etc.), automóveis e utilitários (carros de passeio, motos, caminhões, camionetes etc.), computadores em geral (CPUs, impressoras, monitores de vídeo etc.), máquinas de escritório (de escrever, copiadoras, fax etc.), instrumentos musicais (pianos, órgãos eletrônicos, sintetizadores etc.), entre outros produtos semelhantes. Consideram-se produtos duráveis os imóveis, que podem ser objeto de consórcio, desde que haja permissão da autoridade competente para tanto. [8] DESCONTO DA VANTAGEM AUFERIDA E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO GRUPO - O consumidor consorciado terá direito à de volução das parcelas quitadas, monetariamente atualizadas. Ser-lhe-ão descontadas, entretanto, as vantagens auferidas com a fruição do bem. Além desse desconto, o Código diz caber ao consumidor pagar os prejuízos que causar ao grupo, seja na condição de desistente, seja na de inadimplente. O grupo a que se refere a lei é o conjunto de consorcia dos do qual fazia parte o consumidor, indicados geralmente por número ou letra (Grupo “A”, Grupo 32, e.g.)y e não a empresa administradora do consórcio como um todo.262 [9] CONTRATOS DE CONSUMO EXPRESSOS EM MOEDA COR RENTE NACIONAL - O Código não admite que os contratos de consumo sejam expressos em moeda estrangeira ou outro fator de indexação, ainda que oficial. Exige que os contratos sejam celebrados tendo como padrão a moeda corrente nacional, que é o real. Acabou-se a possibilidade de haver dolarização, betenização e quejandos como parâmetros monetários dos contratos de consumo. Configura burla à lei e, portanto, caracterizando a nulidade da estipulação, a pactuação monetária nos contratos de consumo que se consubstanciem em “referência” àqueles fatores indexadores vedados pela norma sob comen tário. Cláusulas como as que prevejam, como valor das prestações, quantia em real “equivalente, nesta data, a US$ 1.000 (mil dólares americanos)” ou “cem mil reais, equivalentes nesta data a 500 BTNs fiscais”, estão vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. O escopo da lei é tornar defesa a indexação econômica das relações jurídicas de consumo. 262 STJ, REsp n° 165.304/SP, 4* Turma, rei. Min. Aldir Passarinho Junior, j. dc 7.2.2006. 625
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
O fato de o Banco Central do Brasil haver autorizado, por meio de norma administrativa, a celebração de contrato de leasing dos bancos com o consumidor pessoa física não significa que este possa ser pactu ado em dólar ou outra moeda estrangeira. O contrato de leasing com o consumidor deve ser feito em moeda corrente nacional. Se o bem objeto do contrato é importado e o proprietário teve de contratar com empre sa estrangeira em moeda estrangeira é assunto que não se transfere ao consumidor pessoa física. A proibição existe por força de lei e não pode ser autorizada por portaria, ou norma infralegal equivalente, editada pelo Banco Central do Brasil. [10] NATUREZA JURÍDICA E CONCEITO DE CLÁUSULA PENAL263 - A questão suscitada pelo art. 53 do Código de Defesa do Consumidor nos leva, obrigatoriamente, às cláusulas penais impostas na esmagadora maioria dos contratos, notadamente nos de adesão, bem como à sua resolução. E, com efeito, M.I. Carvalho de Mendonça, apud Serpa Lopes,264 esclarece desde logo que todos os códigos que admitem a cláusula penal encaram-na como uma obrigação acessória, adjeta a um contrato principal, e pela qual o devedor se obriga a uma prestação determinada, no caso de faltar ao contrato, ou a qualquer de suas cláusulas. Ao cogitar da mesma cláusula penal, o Código Civil Brasileiro de 1916 classificou-a, no Capítulo VII, do Título I, do Livro III, como matéria pertinente às modalidades de obrigações. Já o Código Civil vigente, consubstanciado na Lei n° 10.406, de 10.01.2002, em vigor desde o dia 11 de janeiro de 2003, prevê o referido instituto de cláusula penal no Capítulo V, do Título IV, do Livro I (“Direito das Obri gações”), como questão atinente ao inadimplemento das obrigações. E, realmente, consoante crítica que se fazia ao antigo Código Civil, essa disciplina, que tende a prover sobre a inexecução das obrigaçõest melhor teria sido colocada, como o foi agora, no novo, em capítulo relativo ao inadim plemento das obrigaçõesy especificamente,265 visto cuidar-se, na espécie, de inexecução de uma obrigação, e não de uma de suas modalidades. 263 Itens 10 a 10.11 acrescentados pelo coautor e atualizador deste segmento, José Geraldo Brito Filomcno. 264 Curso de Direito Civil, Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1957, 2o voL, p. 187 c ss. 265 “Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamcntc, deixe de cum prir a obrigação ou se constitua em mora. Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta convcrtcr-se-á em alternativa a benefício do credor. Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena co minada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Art. 412. O valor da cominação 626
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
E fora exatamente por essa circunstância que Lacerda de Almeida, apud, ainda, Serpa Lopes,266 ao estudar as particularidades da cláusula penal, fê-lo no capítulo que denominou de reforço da obrigação, em face das afinidades mantidas com a teoria das perdas e danos, já que se trata, em última análise, de “um dos meios de reforçar a obrigação, e consistente na estipulação de uma quantia em dinheiro que o devedor se obriga a pagar no caso de não cumprir a obrigação, dilatá-la ou cometer qualquer infração do ajustado” [10.1] CONCEITO (CÓDIGOS CIVIS BRASILEIROS NÃO A CON CEITUARAM) - LEGISLAÇÃO COMPARADA E DOUTRINA - Apesar de tais circunstâncias, porém, o novel Código Civil, assim como o antigo, embora encarem a cláusula penal como um pacto acessório da obrigação principal e agora corretamente colocada no capítulo do inadimplemento das obrigações, não a definiram. Já o Código Civil da França, em seu art. 1.226, esclarece que t(cláusula penal é aquela pela qual uma pessoa, para assegurar a execução de uma convenção, se compromete a dar alguma coisa, em caso de inexecução”, conforme anotação do autor ora citado. Por meio dessa cláusula, portanto, o devedor vincula-se, subsidiaria mente, a submeter-se a uma pena anteriormente estipulada, se der causa ao descumprimento. Em suma, portanto, sua natureza jurídica é a de uma obrigação acessória de um contrato principal, com todas as circunstâncias daí decorrentes. Outro característico da referida cláusula é o fato de revestir-se de meio de reforço da obrigação principal, esta considerada no seu todo ou em parte, embora sua regulamentação muito haja de incompatível com a natureza de uma sanção. De qualquer maneira, porém, o devedor a ela sujeito não poderá se furtar aos seus efeitos sob a alegação de não ter havido prejuízo, pois nela se encontra um elemento coercitivo para levá-lo a adimplir a obrigação principal, antes de ser obrigado ao pagamento de uma soma líquida e certa imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tcndo-sc em vista a natureza e a finalidade do negócio. Art. 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena; mas esta só se poderá demandar integralmente do culpados, respondendo cada um dos outros somente pela sua quota. Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Art. 415. Quando a obrigação for divi sível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a infringir, e proporcionalmente à sua parte na obrigação. Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente”. 266 Idem, ibidem. 627
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
que exime o credor do “onus probandi” quanto ao montante do prejuízo experimentado, como resultado do inadimplemento. [10.2] CLÁUSULA PENAL COMO PRÉ-ESTIMATIVA ALTERNATI VA DE PERDAS E DANOS - Apesar dos contornos que lhe emprestam os dispositivos tanto do antigo quanto do novo Código Civil, a cláusula penal apresenta uma peculiaridade que reputamos de suma importância. Ou seja, a de representar uma pré-estimativa tarifada de perdas e danos decorrentes da inexecução de uma obrigação estabelecida. De forma alguma, portanto, sobreveio o Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de iconoclasta, a destruir tal instituto, ou então afastá-lo pelo teor do seu art. 53.267 Longe disso. Referido dispositivo, ao contrário, afina-se com o instituto da cláusula penal, e não descarta, em absoluto, os demais modos de compensação dos fornecedores de bens móveis e imóveis, não se admitindo, todavia, a perda total do já adiantado pelo consumidor, o que acarretaria para aqueles odioso e intolerável enriquecimento ilícito. Da mesma forma, a contrario sensu, evita ele que o consumidor se desvincule de uma relação obrigacional, de forma leviana e infundada, hipótese em que haveria, também, de sua parte, um locupletamento sem causa. Assim e, por exemplo, verificada a inadimplência relativa a determinado contrato, resta ao credor da obrigação a seguinte alternativa: pode recorrer ao procedimento ordinário e pleitear perdas e danos, nos termos do ora dis posto no art. 389 do Código Civil,268 a serem calculados em juízo; ou então, resguardando-se do longo procedimento e percalços de uma demanda judicial, pleitear apenas a importância da multa compensatória, a qual corresponde, como já visto, às perdas e danos estipulados anteriormente pelas partes. [10.3] DIFICULDADES DE PRÉ-ESTIMATIVA DE PERDAS E DANOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS (QUESTÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO) - A maior dificuldade, por certo, e já que o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor não estabelece critérios para, em havendo resolução con tratual, fixarem-se as compensações devidas ao fornecedor, é o montante dessas compensações. 267 Aqui novamente mencionado à guisa de comparação com o art. 389 do Código Civil de 2002. “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusu las que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. § Io (vetado). § 2o Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. § 3o Os contratos de que trata o capul deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional”. 268 “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros c atuali zação monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 628
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
Assim, falando o mencionado artigo do Código de Defesa do Con sumidor que é nula de pleno direito cláusula contratual que preveja a perda total de parcelas pagas pelo consumidor na aquisição de móveis ou imóveis, quando houver a mencionada resolução, é mister que se fixem critérios para que se dê essa mesma resolução, com a justa compensação da parte inocente, e restabelecimento do status quo ante no que concerne ao inadimplente, que certamente deve ser penalizado, mas não com a perda total das parcelas já pagas. Aliás, o novo Código Civil deixa claro que o pedido de resolução pode ser feito pelo inadimplente,269 e não apenas pelo credor, como já fazia entrever, aliás, a letra do mencionado art. 53 do Código do Consumidor, permitindo-lhe, alternativamente, a modificação das condições do contrato.270 De qualquer forma, entretanto, tratando-se aqui da cláusula penal compensatória, em decorrência do inadimplemento do devedor, o § 2o do art. 53, ainda do Código de Defesa do Consumidor, diz apenas que, no caso de consórcios de produtos duráveis, e compensação ou restituição das parcelas quitadas, terá descontados, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente no sistema de consórcios causar ao grupo. E, nesse sentido, e à guisa de exemplificação, circular do Banco Central define pelo menos um critério para tanto. Ou seja: a devolução ao inadimplente de percentuais do que pagou e de acordo com o percentual amortizado para aquisição do bem. Não nos parece o mais adequado, porém, no que concerne à alienação fiduciária e à negocia ção de bens imóveis. E, mesmo nos consórcios de bens, a jurisprudência, cristalizada na Súmula n° 35 do Superior Tribunal de Justiça, possibilita a restituição das importâncias pagas ao consorciado excluído do grupo por ser desistente ou inadimplente, devidamente corrigidas monetariamente,271 269 “Art. 478. Nos contratos dc execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, cm virtude de aconte cimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagem à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, ofercccndo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva”. 270 Aliás, a jurisprudência já se estava firmando nesse sentido, a saber: “Se o legislador não tivesse concedido tal direito ao promitente comprador, teria criado um impasse intransponível no caso de contrato inadimplido pelo consumidor: o promitente vendedor não podendo resolver o contrato, sem restituir as quantias pagas, mantém-se inerte; o que acontece com o contrato? Fica num impasse eterno? Ora, tal exegese não é jurídica! Se o promitente vendedor não pode resolver o contrato sem restituir, o corolário lógico dessa premissa legal clara é que o promitente comprador tem o direito de resilir, pleiteando a restituição do que pagou, senão teremos de admitir que a lei criou uma situação de impasse absoluto, o que não é possível” (JTJ, Lcx 154/48). 271 Súmula n° 35 do STJ - “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua resti tuição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”. 629
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
já que a correção monetária nada mais significa que a não desvalorização da moeda, em face da inflação. [10.4] FÓRMULAS DE ESTIMATIVA DE PERDAS E DANOS (PARTES, MEIOS JUDICIAIS OU DETERMINAÇÃO LEGAL) - Vejamos algumas das dificuldades nesse encaminhamento, já no que tange à cláusula penal em geral O quantum das perdas e danos pode ser fixado, a rigor, por três maneiras,272 a saber: a) pelas próprias partes, antecipadamente, quando estipularem na con venção a cláusula; b) por meios judiciais, quando o juiz é chamado a decidir, na falta de convenção, ou ausência de preceito legal fixando a importância a título de indenização; c) por determinação legaly se a obrigação tem por objeto soma em dinheiro. Deixando para tópico distinto o primeiro aspecto atrás focado, permi timo-nos aduzir, quanto ao segundo, que caberá ao juiz apreciar, de uma maneira geral: o fato que deu lugar à ação, a imputação do fato, as perdas e danos daí resultantes, e a avaliação e determinação dessas perdas e danos. A sua missão é certamente das mais árduas, já que lhe caberá distinguir entre os diversos elementos de fato e os danos que deles advieram, os que devem ser imputados ao autor do mesmo fato etc. No artigo de lei que cuida da questão, ou seja, o art. 402 do Código Civil de 2002 (correspondente ao art. 1.059 do CC de 1916), o princípio geral é de que a indenização deve abranger não somente o damnus emergens, como também o lucrum cessans, de forma a corresponder, tanto quanto possível, ao valor total dos prejuízos sofridos. Isto não impede, todavia, que se proceda à fixação, mesmo porque ao juiz não é dado recusar a indenização ao credor sob esse pretexto, julgan do improcedente a ação, pois isso seria faltar com a sua missão de fazer reintegrar o direito violado e deixar impune uma injustiça provada. A indenização deverá, em tais casos, ser fixada segundo as regras da equidade, e o prudente arbítrio do julgador. Manda o Código Civil que, em tais casos, com efeito, se proceda à liquidação, consoante o parágrafo único do seu art. 944, e, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”. Ora, isto quer dizer que, quando 272 J. M. Carvalho Santos, op. cit., vol. 14, p. 264 e 11. 630
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
se atribui ao juiz a fixação do quantum da indenização em decorrência do inadimplemento de obrigação, é-lhe facultado o arbitramento desse mesmo valor. Para liquidar a importância de uma prestação não cumprida que tenha valor oficial no lugar da execução, tomar-se-á o meio-termo do preço, ou da taxa, entre a data do vencimento e a do pagamento, adicionando-se, ainda, os juros de mora. Mas as perdas e danos podem ser fixadas, ainda, pela lei, conforme atrás já consignado. Isso ocorre principalmente nas obrigações de pagamento em dinheiro, em que as perdas e danos consistem nos juros de mora, sem prejuízo da pena convencional, conforme estatuído pelo art. 404 do vigente Código Civil (correspondente ao art. 1.061 do Código Civil de 1916). Ou seja: “A s perdas e danos, nas obrigações, de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente esta belecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencionar. E seu parágrafo único complementa essa ordem de ideias, estabelecendo que, “provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar”. Em outras hipóteses também a lei determina o critério para tal fixação de perdas e danos: nos acidentes de trabalho, por exemplo, as indenizações são determinadas com base no salário da vítima e não na gravidade do infortúnio. De qualquer maneira, porém, restam evidentes os percalços que o credor é obrigado a vencer, afora a hipótese em que vige o princípio do risco. [10.5] VANTAGENS DA PRÉ-ESTIMATIVA - Parece-nos que o ideal é mesmo a fixação antecipada das perdas e danos, como de resto é revelado pela teleologia do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor. Senão, vejamos. Toda a reparação, em última análise, apresenta caráter de sucedâneo com relação ao efetivo dano experimentado por alguém, ou Ersatz, consoante a precisa terminologia jurídica germânica, segundo a qual: “o acontecimento danoso interrompe a sucessão normal dos fatos - o dever do indenizante, em tal emergência, é provocar um novo estado de coisas que se aproxime o mais que for possível da situação frustrada daquela situação, isto é, que segundo o cálculo da experiência humana e as leis da probabilidade, seria a existente (e que é, portanto, irreal) a não se ter interposto o dano”, no dizer de Hans Albrecht Fisher.273 E conclui essa ordem de ideias, asseverando que “no problema da reparação se considera adaptar a nova realidade àquela situação imaginária”. 27J Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, Rio de Janeiro, Ed. Barsa, s.d., vol. 14, p. 244. 631
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
Assim, considerando-se a cláusula penal como instrumento pré-determinado pelas próprias partes contratantes como sucedâneo daquele retorno ao status quo ante, tanto quando possível, é de suma relevância sua fixação desde logo, sobretudo no que toca à ciência prévia pelas mesmas partes de todos os riscos calculadamente, e para a própria dinamização das relações contratuais. Esse caráter, ao lado de se ver na cláusula penal uma simples punição ao contratante faltoso, ou seja, a circunstância de se encarar como prévia liquidação das perdas e danos, e tomando-se por base o que atrás foi dito quanto à natureza jurídica e no direito comparado, foi definido por Demolombe e Laurent. Assim, o primeiro a definiu como sendo o regulamento convencional estabelecido antecipadamente como indenização entre as partes com relação às perdas e danos, e que serão devidos aos credores no caso de inexecução da obrigação. Laurent considera a palavra pena como um termo impróprio, pois se trata, afirma ele, da compensação por perdas e danos que o credor suporta pela inexecução da obrigação, e essas perdas e danos representam a reparação de um prejuízo.274 Em sua função, pois, de ressarcimento pelos prejuízos, ela libera o credor do ônus de provar o dano sofrido, com a demonstração aproximada do seu quantum, eximindo-o, assim, de qualquer prova quanto a ele, já que se configura em sua pré-estimativa. Ainda que se ressalve, como Polacco,275 a característica mista da cláu sula penal, ou seja, não somente como sucedâneo de perdas e danos, mas também como meio coercitivo de levar o devedor a satisfazer a obrigação principal a que está sujeito, entendemos ser de muito maior relevância o primeiro aspecto. [10.6] CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA Como se sabe, há duas espécies de cláusula penal: a compensatória e a moratória, referindo-se a primeira à hipótese de inexecução completa ou total da obrigação; já a segunda, liga-se ao descumprimento de alguma cláusula especial ou simplesmente de mora. Enquanto a cláusula penal compensatória destina-se a assegurar o adimplemento integral da obrigação, a moratória dirige-se a uma proteção parcial quanto a uma cláusula especial da obrigação, como visto, ou à simples mora, ou seja, ao seu simples retardamento. Tanto assim que, nesse último caso, a realização da cláusula penal não exime o devedor do pagamento em forma específica. 274 Apud Scrpa Lopes, op. cit., p. 194 e 195. 275 Idem, acima, p. 195. 632
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
Daí resulta o direito do credor, ou a seu arbítrio, na cláusula penal moratória, de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal, consoante estatuído pelo art. 411 do Código Civil vigente (correspondente ao art 919 do CC de 1916), a saber: “Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal”. Desta forma, se o credor optou pela cláusula penal com vistas a obter o ressarcimento do prejuízo causado pelo inadimplemento da obrigação, não pode conjuntamente pedir a indenização por perdas e danos (electa uma via non datur regressum ad alteram), comportando tal princípio apenas uma exceção, a exemplo do que ocorre no direito francês. Ou seja: a de se apurar, no curso da lide, que a prestação se tornou impossível, hipótese em que poderá, então, valer-se o credor da cláusula penal, não sendo permitido que o prejuízo seja superior à pena fixada. [10.7] CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA: LIMITES - O profes sor Sílvio Rodrigues,276 entretanto, sustenta a tese de que, mesmo sendo a cláusula penal compensatória, pode o credor, em caso de inadimplemento, em vez de reclamá-la, exigir perdas e danos, “uma vez que se submeta ao encargo de prová-las”, reconhecendo desde logo que tal posicionamento é contestado pela doutrina brasileira, citando, dentre outros, os ilustres opositores Washington de Barros Monteiro, Clóvis Bevilácqua e Serpa Lopes, bem como pela estrangeira, no sentido de que a pena convencional é o máximo de indenização que o credor pode pleitear. Referido entendimento, minoritário entre nós, é inspirado nas posições alemã e suíça, cujos códigos permitem que, além da pena convencional, possa o credor reclamar o excesso do prejuízo, se prová-lo. Cita o mesmo autor, ainda, a legislação italiana (Código Civil, art. 1.382), no sentido de que se permitem as perdas e danos desde que, se subsistente a cláusula penal, convencionou-se, expressamente, o socorro das partes interessadas àquele outro recurso. Remata por dizer que se o art. 918 do Código Civil - no caso o de 1916277 - determina que a cláusula compensatória constitui uma alternativa para o credor, em caso de inadimplemento absoluto, é evidente que lhe defere a prerrogativa de preferir a indenização do prejuízo quando este, sendo maior do que a pena estipulada, for suscetível de prova. E conclui 276 In Direito Civil - Das Obrigações, Ed. Max Limonad, S.P., 1965, pp. 101 e 101 777 Atual: “Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal”. 633
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
essa ordem de raciocínio: “pois, caso contrário, nenhuma alternativa ficaria aberta ao credor, quando a prestação se houvesse tornado impossível, por culpa do devedor”. [10.8] CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA - Justificando, ainda, sua tese, nosso antigo mestre das Arcadas do Largo de São Francisco, afirma que: “a interposição contrária à que alvitro decorre, a meu ver, e data venia, de uma confusão entre a natureza da cláusula penal e da multa poenitentialis; esta é que defere a qualquer das partes a deserção do contrato mediante o pagamento da multa, enquanto aquela constitui benefício exclusivo do credor; tal distin ção entre a cláusula penal e a multa poenitentialis é tradicional e se encontra marcada no Código Civil Francês; enquanto este trata da cláusula penal sob rubrica desse nome, nos arts. 1.226 e seguintes cuida da multa penitencial no art. 1.152, acima transcrito, que se subordina à rubrica referente às perdas e danos resultantes da inexecução; enquanto a multa penitencial representa o máximo de indenização a que o faltoso pode ser condenado, pois lhe cabe o direito de pagá-la, para ilidir o cumprimento da obrigação, isto não ocorre, quando se trata de cláusula penal, esta constitui um benefício do credor, que a pode exigir, se quiser, ou pode preferir valer-se da regra geral do art. I.056278 do Código Civil, pleiteando a condenação do inadimplente em perdas e danos“.
Outros autores, como Demolombe e Demogue,279 sustentam que pode haver exceção à regra do código francês, no caso de a cumulação resultar de um pacto, baseando-se no fato de que se trataria de regra não de ordem pública, mas privada. Apressa-se Serpa Lopes em dizer, entretanto, que o nosso direito tem de ser resolvido, tendo-se em consideração o que a respeito dispõe o antigo Decreto n° 22.626, de 7.4.1933. “Claramente”, salienta, “trata-se de diploma legal revestido de caráter de ordem pública, pois que o seu objetivo, consoante a própria exposição de motivos, foi o de impor normas severas para regular, impedir e reprimir os excessos praticados pela usura, considerando, ainda, ser do interesse superior da economia do país não tenha o capital uma remuneração exagerada, de modo a impedir o desenvolvimento das classes produtoras”. Ora, e não é esse mesmo o espírito do Código de Defesa do Con sumidor, inspirado nos preceitos do art. 170 e seguintes da Constituição Federal, relativos à ordem econômica, dizendo aquele, ainda, em seu art. Io, tratar-se de lei de ordem pública e interesse social? 278 Pelo Código Civil dc 2002: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorário de advogado”. 279 Apud Scrpa Lopes, op. cit., p. 203. 634
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
A Medida Provisória n° 2.180-35/2001, a seu turno, estabeleceu a nu lidade das disposições contratuais que menciona, inverteu, nas hipóteses que prevê, o ônus da prova nas ações intentadas para sua declaração, e alterou o art. 1° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985. Dentre as salvaguardas estabelecidas pela mesma Medida Provisória, está a de se reputarem nulas de pleno direito estipulações usurárias, assim consideradas não apenas as que digam respeito a empréstimos em dinheiro, como também “nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corren te, ou, na hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido” (art. Io, II). E o parágrafo único do dispositivo ora citado esclarece que: “Para a configuração do lucro ou vantagem excessivos, considerar-se-ão a vontade das partes, as circunstâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo e natureza, a origem das correspondentes obrigações, as práticas de mercado e as taxas de juros legalmente permitidas”. Com efeito, citado decreto, de 1933, no seu art. 9o, fulmina de nuli dade absoluta a cláusula penal “superior à importância de 10% do valor da dívida Também o mencionado Código de Defesa do Consumidor, em seu art 52, § Io, reza que “as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”™ A Portaria n° 3, de 19.3.1999 da Secretaria de Direito Econômico,281 a seu turno, dispõe que se reputam abusivas cláusulas contratuais que “11. estabeleçam nos contratos de prestação de serviços educacionais e similares, multa moratória superior a 2% (dois por cento)”. Entende-se, ainda, que essa multa moratória também é de idêntico percentual máximo, no que concerne ao atraso no pagamento de contas relativas a serviços públicos essenciais (i.e., contas de fornecimento de água, energia elétrica, serviços de telefonia etc.). Tome-se como exemplo não apenas a questão dos serviços públicos, em que a multa tem sido, em sua grande maioria, da ordem de 2%, em face do próprio regime de concessão ou legislação de interesse do poder concedente e, mais recentemente, o disposto no § Io do art. 1.336 do Código Civil de 2002, segundo o qual: “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não 280 Redação dada pela Lei n° 9.298, de 1.8.1996, já que o texto anterior falava em "10% (dez por cento)”. 281 Cf. no nosso Manual de Direitos do Consumidor, 6* ed., São Paulo, Editora Atlas, p. 578. 635
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”. Ora, a antiga lei dos condomínios em edificações, a Lei n° 4.591/1964, como se sabe, mais precisamente em seu art. 12, § 3o, estabelecia que “o condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na Convenção fica sujeito ao juro moratório de 1% ao mês, e multa de até 20% sobre o débito, que será atualizado, se o estipular a Convenção, com a aplicação dos índices de correção monetária levantados pelo Conselho Nacional de Economia no caso de mora por período igual ou superior a seis meses”. Entende o autor citado linhas atrás, por conseguinte, que a pactuação de acúmulo da cláusula penal é de ser admitida, desde que se destine a completar o quantum dos danos, se tiver função ressarcitória, ou não excedente a 10% do valor da dívida, se atuar como função penaL Além disso, apesar de algumas decisões asseverando que tais restrições somente se referem aos contratos de mútuo, fizeram-no ao arrepio da lei, uma vez que essa expressamente dispõe, no seu art. Io, que suas regras se referem a quaisquer contratos. Além disso, seu art. 8o menciona as multas ou cláusulas penais, quando convencionadas, num sentido geral, sem se dirigir a uma determinada espécie de contrato, como o de mútuo, a que se referiria com exclusividade, segundo o entendimento de alguns. Por fim, o art. 11 do Decreto n° 22.626/1933 inquina de nulidade ab soluta “o contrato celebrado com infração dessa lei”, ficando assegurada ao devedor a repetição do que houver pago a mais”, consoante, aliás, o disposto pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pode-se concluir nesse aspecto, portanto, que, embora a cláusula pe nal, a rigor, refira-se a uma compensação que deve ser paga pelo devedor ao credor, por não haver cumprido uma obrigação, causando, portanto, sua inexecução e prejuízo ao referido credor, discutindo-se se as perdas e danos devam ser pré-estipuladas ou, se não, se caberia sua discussão judicial por meio da qual se pleitearia quantia ainda maior do que a estipulada, a ver dade é que essa pré-fixação não pode ultrapassar 10%, conforme a regra do Decreto n° 22.626/1933. Por outro lado, no que tange à chamada cláusula penal moratória, ou no dizer do professor Sílvio Rodrigues, multa poenitentialis, refere-se tam bém a uma compensação, mas com relação ao atraso no adimplemento de uma prestação ou de parte da obrigação principal. Ou, mais do que isso, visa a não apenas impor uma sanção ao devedor, como também estimulá-lo a cumprir a obrigação. Neste caso, igualmente, o percentual não pode ser superior a 10%, na forma do decreto mencionado linhas atrás. Parece-nos relevante salientar, em conclusão, que a chamada multa moratória, embora possa ser maior do que os 2% (dois por cento) estabele cidos pelo art. 52, § Io, do Código de Defesa do Consumidor, referindo-se, 636
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
neste caso, apenas às hipóteses de fornecimento de produtos ou serviços que envolva a outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor (cf. o caput do mesmo art. 52), não pode ser maior do que os referidos 10% do Decreto n° 22.626/1933. [10.9] INSUFICIÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL (DANOS A DE MONSTRAR EM AÇÃO AUTÔNOMA) - Traçadas essas diretrizes que nos parecem de extrema relevância, mormente à luz dos arts. 53 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, quer-nos parecer que, em consonância com o pensamento do professor Sílvio Rodrigues, uma vez estipulada a cláusula penal propriamente dita, e não querendo o credor da obrigação principal vê-la aplicada, poderá socorrer-se do remédio genérico do art. 402 do vigente Código Civil,282 desde que se submeta ao encargo de provar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento, e desde que haja prévio acordo a respeito. O que não pode ocorrer, entretanto, é a exigência, em se tratando de cláusula penal compensatória propriamente dita, de sua execução cumulada com perdas e danos. É esse o entendimento de Pothier:283 “essa pena é estipulada com a intenção de indenizar o credor pela inexecução da obrigação principal - ela é em consequência compensatória dos danos e interesses que ele sofre pela inexecução da obrigação principal, segue-se daí, que ele deve nesse caso escolher entre a execução da obrigação principal, ou da pena, deve ele se contentar com uma ou outra, e não pode exigir as duas; todavia, como a obrigação penal não pode causar qualquer comprometimento (átteinte), se a pena que o credor tenha visado para inexecução da obrigação principal não o indenizar suficientemente, ele não deixa de, qualquer que seja o modo que esta pena tenha sido visada, poder exigir os danos de interesses resultantes da inexecução da obrigação principal, descontado e levando em consideração os sobreditos danos e interesses da pena que já tenha exigido
A grande questão, como se observa, reside exatamente nos critérios para a fixação de tal compensação, já que o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor deixa subsumido que não haverá nem enriquecimento ilícito por parte do fornecedor de produtos móveis ou imóveis no caso de inadimplemento do consumidor, nem auferição de vantagens deste em face do descumprimento de sua obrigação ou simples desistência do negócio. 282 Correspondente ao art. 1.059 do CC de 1916, ou seja, "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. 283 Apud Sílvio Rodrigues, op. cit., p. 103. 637
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
E já que o dispositivo em pauta fala em bens móveis e imóveis, além de consórcios, observe-se que eles estão sujeitos àquelas limitações do Decreto-lei n° 911, de 1.10.1969, que estabelece normas do processo so bre alienação fiduciária, da Lei n° 4.691, de 16.12.1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações imobiliárias, da Lei n° 6.766, de 1979, que cuida do parcelamento do solo urbano, além de toda a legislação sobre consórcios. [10.10] ALCANCE DO ART. 53 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR Na verdade, o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor nada mais fez do que sintetizar, em matéria de resolução contratual por inadimplemento do consumidor na aquisição de bens imóveis e imóveis por alienação fidu ciária, os princípios da ética, boa-fé, equidade e equilíbrio que presidem as relações obrigacionais, de molde a garantir-se a compensação ao fornecedor que àquela não deu causa, como também impedir seu enriquecimento ilícito, caso se permitisse a perda total das prestações pagas. Referidos princípios, aliás, não são novidade, e já se encontravam presentes no direito romano, aperfeiçoados pelo direito canônico, manti dos pelos direitos germânico, francês e italiano, bem como acolhidos pelo direito nacional. A já referida Lei n° 4.591/1964, que cuida das construções e incorpora ções de imóveis em condomínios, e o Decreto-lei n° 911/1969, que cuida das vendas de bens com alienação fiduciária, já previam fórmulas de resolução contratual em casos de inadimplência da parte do compromissário-comprador de unidade condominial e adquirente fiduciário, respectivamente, fórmulas essas mantidas pelo advento do Código do Consumidor; mas abrandadas pela jurisprudência e princípios de boa-fé e equidade. Nos dois referidos casos, com efeito, admite-se a venda do bem em condomínio ou o bem móvel alienado fiduciariamente: a) no primeiro casoy o resultado do leilão serve para o pagamento do débito do inadimplente junto aos demais condôminos, e a quem se devolverá eventual saldo, com assunção do débito restante pelo arrematante, se houver; b) no segundo, porém, já que pode haver venda do bem alienado sem qualquer formali dade, inclusive por preço vil, eventual débito restante somente deverá ser pleiteado pelo credor fiduciário por ação de conhecimento. Tratando-se, porém, de incorporação de imóveis por empresas que alie nam a terceiros frações ideais de terreno e a unidade habitacional a ser construída, eventual previsão de antecipação de perdas e danos em contrato, à guisa de cláusula penal não poderá exceder a 10% do total já pago pelo compromissário-comprador; com as devidas atualizações. Por outro lado, consentâneo com a doutrina esposada e jurisprudência sobre o tema na interpretação dos mencionados dispositivos legais, eventuais 638
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
perdas e danos que ultrapassarem a cláusula penal compensatória de 10% deverão ser pleiteados em feito próprio, de ampla discussão. Caso contrário, e já que o consumidor é a parte vulnerável nas relações de consumo, haveria exigência unilateral de eventuais perdas e danos, sem qualquer possibilidade de seu questionamento. Quanto aos loteamentos, e nos termos do art. 35 da Lei n° 6.766/1979, combinado com o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, a resolução contratual, na hipótese de pagamento de mais de um terço do preço aven çado, acarretará a restituição integral, e será condição sine qua non para a liberação da venda a terceiro; caso contrário, ou seja, pagamento abaixo de um terço, é lícito convencionar-se cláusula penal de, no máximo, 10%, a ser descontado da restituição de quantia corrigida. Eventuais cobranças de débitos ainda pendentes e alegadas pelo empreendedor dependerão de medida judicial de amplo conhecimento. Referidas conclusões, aliás, constam do enunciado da Súmula de Es tudos CENACON n° 16, por nós elaborada em 1995, e que foi atualizada por nossos sucessores, pelo menos até 2002.284 Sua Ementa já era bastante elucidativa, a saber: “Resolução contratual. Cláusula de decaimento. Art. 53 do Código de Defesa do Consumidor. Incorporações de imóveis, loteamentos e alienações fiduciá rias. Ao dispor que, ‘nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento de prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado>, o art. 53 do CDC nada mais fez do que sintetizar, em matéria de resolução contratual por inadimplemento ou desistência do consumidor na aquisição de bens imóveis ou móveis por alienação fiduciária, os princípios da ética, boa-fé, equidade e equilíbrio que presidem as relações obrigacionais, de molde a garantir-se a compensação ao fornecedor que àquela não deu causa, como também impedir-se seu enriquecimento ilícito, caso se permitisse perda total das prestações pagas. Desta forma: a) no que tange à compra e venda de imóveis incorporados, ao par da possibilidade da venda em leilão dos haveres do inadimplente para pagamento dos débitos incorrido, com devolução de eventual saldo ou sub-rogação de dívida ainda persistente pelo arrematante, quando os prejudicados forem os próprios condôminos, eventual previsão de antecipação de perdas e danos em contrato firmado com empresa incorporadora, à guisa de cláusula penal, não poderá exceder a 10% do total já pago pelo compromissário-comprador, com as devidas atualizações, sendo que eventuais prejuízos, além da referida antecipação, dependerão da prova m CENACON - Centro dc Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor do Estado de São Paulo, extinto cm 2008, passando a integrar o Centro dc Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Interesses Coletivos. 639
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
cabal e em feito próprio que propicie ampla defesa; b) quanto aos loteamentos, a resolução contratual, na hipótese de pagamento em mais de um terço do preço avençado acarretará a restituição integral, devidamente atualizada, e será conditio sine qua norí para a renegociação do lote com terceiro e, caso o pagamento efetuado pelo adquirente seja inferior ao terço mencionado, é lícito convencionar-se cláusula penal de no máximo 10%, a ser descontada da restituição de quantia corrigida, dependendo eventuais cobranças de débitos pendentes de medida judicial de amplo conhecimento; c) nos casos de vendas de bens móveis com alienação fiduciária, a venda do bem apreendido sem as devidas cautelas pelo credor alienante, sujeita-o a procedimento ordinário para haver eventuais débitos285 ainda pendentes junto ao devedor fiduciário, não tendo valor executivo eventuais títulos dados em garantia do total da dívida assumida”.
[10.11] ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL -Vejam-se, em se guida, os entendimentos da jurisprudência a respeito da questão suscitada no Superior Tribunal de Justiça e em alguns de nossos tribunais estaduais, colhidas até então, e em atualização da referida Súmula de Estudos. 1. “Contrato de compra e venda. Devolução. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do art. 924 do Código Civil. Precedentes da Corte. Como já coberto por diversos e indiscrepantes precedentes da Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos anteriores à sua vigência, sendo a cláusula de decaimento, cláusula penal, com o que pode o juiz fazer incidir a regra jurídica do art. 924 do Código Civil. Recurso especial conhecido pela divergência e provido, em parte” (STJ, REsp n° 153.688/AM, reL Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. de 4.3.99); 2. “O Código de Defesa do Consumidor não autoriza a cláusula de decaimento estipulando a perda integral ou quase integral das prestações pagas. Mas, a nulidade de tal cláusula não impede o magistrado de aplicar a regra do art. 924 do Código Civil e autorizar, de acordo com as circunstâncias do caso, uma retenção que, no caso, deve ser de 10% (dez por cento)” (STJ, REsp n° 149.399/ DF, rei. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 29.3.99, p. 164); 3. “Reconhecida a nulidade da cláusula que prevê a perda total ou quase total das prestações pagas, em favor da promitente vendedora, nem por isso está o juiz inibido de reduzir o montante a ser devolvido, a fim de assegurar a vendedora o ressarcimento das despesas que teve com o contrato. Recurso conhecido em parte e provido para, assegurado o direito de retenção, reduzir seu montante a 10% das prestações pagas” (STJ, REsp n° 134.629/RJ, rei. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 16.03.98, p. 144); 285 Promotorias de Justiça do Consumidor - Atuação Prática, obra de orientação aos Promotores de Justiça do Consumidor do Estado de São Paulo, coordenado por José Geraldo Brito Filomcno, Procurador de Justiça-Coordenador do CENACON - Centro de Apoio Operacional das Promo torias de Justiça do Consumidor do Estado de São Paulo, e com a colaboração dos Promotores de Justiça Dora Bussab Castelo c Ronaldo Porto Macedo Jr., Imprensa Oficial do Estado, 1997. 640
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
4. “No compromisso de compra e venda, existindo cláusula que prevê não tenha direito o promitente comprador à devolução das importâncias pagas, tal cláusula deve ser considerada como de natureza penal compensatória, podendo ser reduzido o seu valor com base no art. 924 do Código Civil” (STJ, REsp n° 31.954-0-RS); 5. “A jurisprudência, acolhendo lição doutrinária, na exegese do art. 924 do Código Civil, delineia entendimento no sentido de que, cumprida em parte a obrigação, em caso de inexecução da restante, não pode receber a pena total, porque isso importaria em locupletar-se à custa alheia, recebendo ao mesmo tempo, parte da coisa e o total da indenização na qual está incluída justamente aquela já recebida, sendo certo que a cláusula penal corresponde aos prejuízos pelo inadimplemento integral da obrigação” (STJ, REsp n° 39.466-0-RJ); 6. “É lícita a cláusula penal que estipula a perda das prestações pagas na hipótese de rescisão do contrato por culpa do comprador. - É defeso ao juiz aplicar lei nova a negócio jurídico aperfeiçoado sob o império da Lei de Introdução ao Código Civil. - Não incidência, no caso, por lhe ser vedado efeito retro operante, art. 53 do Código do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11.9.90). - Recurso conhecido e provido” (STJ, REsp n° 38.492-3-SP, rei. Min. Antônio Torreão Braz, j. de 11.4.94); 7. “É válida a pena convencional que estipula a perda das parcelas pagas na hipótese de resolução do contrato. Código Civil, arts. 916 e seguintes. - Dis sídio de interpretação caracterizado. - Recurso conhecido e provido” (STJ, REsp n° 41.475-0-RS, reL Min. Antônio Torreão Braz, j. de 11.4.94); 8. “I - Não incidem os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor nos contratos celebrados antes de sua vigência. O só fato de se constituir os atos jurídicos formalizados sob a égide de norma anterior, eis que sem conteúdo de aplicação imediata e intervencionista, força da suspensividade nela mesma contida (art. 118, da Lei n° 8.078/90). II - Há de se respeitar a cláusula livremente pactuada, que prevê a perda das parcelas pagas, em caso de inadimplemento do contrato. Precedentes do STJ e STF. III - Re curso não conhecido” (STJ, REsp n° 40.228-9-SP, rei Min. Waldemar Sveiter, j. de 10.5.94); 9. “Inaplicabilidade do art. 53 da Lei n° 8.078/90 aos contratos celebrados antes da vigência do mencionado diploma legal. Precedentes do STJ” (STJ, REsp n° 45.666-5-SP, rei. Min. Barros Monteiro, j. de 17.5.94); 10. “I - Estipulada, em compromisso de compra e venda de imóveis, pena convencional de perda de todas as prestações pagas pelos compromissários-compradores, o juiz, declarando resolvido o ajuste, pode, autorizado pelo disposto no art. 924, CC, reduzi-la a patamar que entenda justo. II - De tal redução, contudo, não pode resultar condenação dos promissários adquirentes a quantias insuficientes a fazer face, pelo menos, às efetivas perdas e danos experimentadas pela promitente vendedora, sob pena de placitar-se enrique cimento sem causa. III - Hipótese em que, determinada a devolução das prestações (exceto as arras) ao compromissários-compradores, a estes incumbe 641
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
arcar com o pagamento dos aluguéis relativos ao período de ocupação, devidos desde a imissão na posse até a entrega do imóvel” (STJ, REsp n° 49.933-0-SP, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j. de 8.8.94); 11. “Não se aplicam as disposições do Código do Consumidor a contrato que lhe é anterior. A cláusula contratual que prevê, no caso de inadimplemento do promitente comprador, a perda das importâncias pagas tem caráter de cláusula penal compensatória, podendo o seu valor ser reduzido proporcio nalmente, com base no art. 924 do Código Civil, não havendo lugar, pois, para devolução integral. Recurso conhecido e parcialmente provido” (STJ, REsp n° 50.871-1-RS, rei. Min. Costa Leite, j. de 16.8.94); 12. “I - Hm se tratando de compromisso de compra e venda firmado em data anterior à vigência do Código de Defesa do Consumidor, é de ser havida como válida a previsão contratual de perda das quantias pagas pelo promissário adquirente, instituída, a título de cláusula penal compensatória, para o caso de resolução a que haja dado causa. II - Assim estipulada a pena convencional, pode o juiz, autorizado pelo disposto no art. 924, CC, reduzi-la a patamar justo, com fito de evitar enriquecimento à promitente vendedora” (STJ, REsp n° 45.409-3-SP, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j. de 31.8.94). E, nesse mesmo sentido, cf. no STJ, REsp n° 45.226-0-RS, rei. Min. Sálvio de Figueiredo; 13. “A decisão que não admite a retroatividade do art. 53 do Código do Consumidor não lhe nega a vigência. - Recurso especial conhecido, mas não atendido. Unânime” (STJ, REsp n° 48.491-0-SP, rei. Min. Fontes de Alencar, j. de 28.6.94); 14. “É válida a estipulação de perda das prestações pagas ante a inadimplên cia do promitente comprador, tratando-se de contrato anterior ao Código de Defesa do Consumidor. - Recurso especial atendido. Unânime” (STJ, REsp n° 52.396-6-RS, rei. Min. Fontes de Alencar, j. de 20.9.94); 15. “Compra e venda de imóvel. Inadimplência. Devolução da quantia paga. Há que se devolver o valor pago pelo comprador inadimplente, descontando, a título de indenização por perdas e danos, o valor locatício no período de inadimplência em que o imóvel ficou desocupado” (TJSP, 12a Câm. Cível, Ap. Cível n° 262.183-2/3, Bragança Paulista, reL Des. Carlos Ortiz, j. de 8.8.1995, v.u.); Fonte: Boletim AASP n° 1941, 6 a 12.3.96, p. 74/77; 16. Cf., também, REsp n° 45.511-1-SP, rei. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. de 28.11.1994. Entendeu-se que a cláusula de decaimento é válida, mas há impossibilidade de utilização imediata do art. 53 do CDC, cabendo ao juiz, na forma do art. 924 do Código Civil, fazer a devida adequação à regra contratual de perda da totalidade das prestações já pagas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, fixando, na hipótese em julgamento, o percentual de 10% para a retenção do preço pago, com restituição do restante, devidamente atualizado. O mesmo Tribunal, no Recurso Especial n° 57.974-0-RS (j. de 25.4.1995), também relatado pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, consignou que a limitação de cláusula penal em 10% já era do nosso sistema (Decreto n° 22.626/33), e tem sido usada pela jurisprudência quando da aplicação da 642
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
regra do art. 924 do Código Civil, o que mostra o acerto da regra do art. 52, § Io, do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica aos casos de mora, nos contratos bancários; 17. “Tendo sido afirmado pelo acórdão tratar-se de imóvel em construção, fato não questionado em declaratórios, inviável averiguar-se a real situação, a demandar incursão no campo fático-probatório, defeso nos termos do Enunciado n° 7 da Súmula/STJ. II - Partindo da premissa de estar em obra o imóvel, possível é a pactuação de correção pelo índice setorial da construção civil. III - Acordado pelas partes a correção com base no índice do ‘Sinduscon, descabe falar em cláusula potestativa, sendo válida tal estipulação. IV - Mesmo celebrado o contrato antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, o que impunha considerar eficaz, previsão contratual de perda das quantias pagas pelo promissário-adquirente, pode o juiz, autorizado pelo disposto no art. 924, CC, reduzi-la a patamar justo, com o fito de evitar enriquecimento sem causa que de sua imposição integral adviria à promitente vendedora. Circunstâncias específicas do caso impõem a perda de 10% (dez por cento) do que foi pago pelo comprador” (STJ, REsp n° 45.333-SP, rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. de 24.10.95); 18. Agravo de Instrumento n° 97.896-MG: “Vistos etc. Em ação de rescisão contratual c/c a devolução das quantias pagas proposta por compromissadas compradoras, a sentença acolheu o pedido, rescindindo o contrato e condenando a compromitente vendedora a devolver todas as parcelas recebidas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, a partir de 25 de janeiro de 1994, data em que houve a acareação entre as partes junto ao PROCON/BH. As autoras apelaram e ao seu recurso aderiu a ré, tendo a eg. 7a Câmara do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, dado provimento ao recurso principal e provido parcialmente ao adesivo, em acórdão assim ementado: *Compromis so de Compra e Venda - Frustração do contrato porque as promissárias não conseguiram financiamento bancário previsto ao contrato - Inocorrência de culpa - Impossibilidade de continuar os pagamentos - Restituição das parcelas pagas, com juros e correção monetária - Arts. 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor - Cláusulas abusivas - Nulidade absoluta. Se as promissárias com pradoras não conseguiram financiamento bancário, previsto no compromisso de compra e venda, tomando-se impossível o pagamento das parcelas restantes e não havendo culpa das devedoras, rescinde-se o contrato e retoma-se ao status quo ante, com a restituição das parcelas pagas, devidamente atualizadas a partir do dia em que se fez o pagamento de cada parcela. Nulidade da cláusula segundo a qual as compromissárias perdem, em favor da compromitente, parte das quan tias pagas!" (fl. 28). Rejeitados os embargos de declaração por protelatórios e aplicada a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC, ingressou a ré com recurso especial por ambas as alíneas, alegando violação ao citado artigo, aos artigos 49, 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor e diver gência jurisprudencial. Inadmitido o apelo, adveio o agravo de instrumento ora examinado, previsto no artigo 538, parágrafo único do CPC, o v. aresto bem andou ao aplicá-la, verbis: ...não havendo a omissão alegada, rejeitam-se os embargos, de cunho meramente protelatório, na medida em que visam retardar 643
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
o ressarcimento às embargadas daquilo que lhes é devido (fl. 40). No tocante à devolução das importâncias pagas, acrescidas da correção monetária a partir do dia em que se fez o pagamento, o aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste eg. STF”. ‘Compra e venda. Não aperfeiçoamento do negócio contratado, sem culpa dos compradores, imperiosa se faz a restitui ção das importâncias pagas, com correção monetária que será devida desde o desembolso das quantias, a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa, eis que a correção nada acresce ao montante a ser devolvido, apenas preserva seu valor real. Recurso não conhecido’ (REsp n° 35. 697/SP, 3a Turma, rela. o em. Min. Cláudio Santos, DJU de 15.5.95). “Processual Civil - Agravo Regimental - Promessa de Compra e Venda - Ação de restituição de prestações - Correção monetária - Dissídio Jurisprudencial Não caracterização. I - A restituição das importâncias pagas desde o efetivo pagamento das prestações pagas pelos compromissários-compradores sofre correção monetária desde o efetivo pagamento das prestações precedentes. II - Ausência de caracterização da divergência. III - Regimental improvido” (AGA n° 68.254/ MG, 3a Turma, rei. o em. Min. Waldemar Zveiter, DJU 11.12.95). 19. “Imóvel. Promessa de Compra e Venda. Restituição das importâncias pagas. Cláusula de decaimento de 90%. Modificação Judicial. Na vigência do Código de Defesa do Consumidor, é abusiva cláusula de decaimento de 90% das importâncias pagas pela promissória compradora do imóvel. Cabe ao juiz alterar a disposição contratual, para adequá-la aos princípios do Direito da Obrigações e às circunstâncias do contrato. Ação proposta pela promissória compradora inadimplente. A rt 51 e 53 do CODECON. Art. 924 do Cível. Recurso conhecido e provido, para permitir a retenção pela promitente ven dedora de 10% das prestações pagas” (STJ, 4a Turma, REsp n° 94.640-DF, j. de 13.3.96, v.u., rei. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 20. “Imóvel - Cláusula de Decaimento - Casa própria - Cláusula de comissão de venda e propaganda - Nulidade. ‘... nos contratos de compra e venda de imóveis poderá o consumidor inadimplente pleitear a resolução contratual e devolução das quantias pagas corrigidas monetariamente, nos termos do art. 53, do CDC. (...) Não é lícita a dedução de comissão de venda e propagan da, pois, à luz da legislação pertinente, os serviços prestados pelo corretor e editores de propaganda comercial são de inteira responsabilidade do apelante, uma vez que os apelados não participaram da transação, não podendo lhes ser transferidos tais encargos”’ (TJBA - JDC, ACv. n° 25.405-1, Salvador, j. de 19.5.96); 21. “Consumidor. Compra e venda de direitos de uso de propriedade. Desis tência do comprador. Pedido de devolução das parcelas pagas. Competência. Complexidade. Legitimidade. Cláusula penaL Competência - Nos contratos de adesão não é válida a cláusula de eleição do foro quando fixada em desfavor do consumidor - É competente o foro da realização do negócio ou de domi cílio do consumidor. Complexidade - Não registra complexidade o pedido de devolução de parcelas pagas em contrato de uso de imóvel, até porque, de fato, com a desistência do comprador, o contrato já está rescindido. Legitimidade passiva - A empresa que dá nome e participa da venda dos imóveis, inte 644
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
grando o contrato e recebendo valores, é parte legítima para responder ação rescisória do contrato. Cláusula penal - É aceita a cláusula penal ao redutor válido para a retenção de parte dos valores recebidos em contratos de compra e venda de imóveis em prestações, desde que em percentual não superior a 10%, limite imposto pelo CD C. - Recurso improvido” (Juizado de Direito, Ia Turma Recursal, RS, Processo n° 11968.7592.4, j. de 18.9.99); 22. “Civil Promessa de compra e venda de imóvel em construção. Inadimplemento. Perda parcial das quantias pagas. Mesmo se o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção estabelecer, para a hipótese de inadimplemento do promitente comprador, a perda total das quantias pagas, e ainda que tenha sido celebrado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, pode o juiz, autorizado pelo disposto no a rt 924, CC, reduzi-la a patamar justo, com o fito de evitar enriquecimento sem causa que de sua imposição integral adviria à promitente vendedora. Devolução que, pelas peculiaridades da espécie, fica estipulada em 90% (noventa por cento) do que foi pago pelo comprador. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido” (STJ, 4a Turma, REsp n° 114.071-DF, rei. Min. Cesar Asfor Rocha, j. de 11.5.99, v.u.); 23. V. também, em relação à matéria: Superior Tribunal de Justiça, REsp n° 88.788, Min. Nilson Naves, DJU de 1.3.99, p. 304; REsp n° 152.946, Min. Waldemar Zveiter, DJU de 9.11.1998, p. 89; REsp n° 148.229, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 13.10.98, p. 95; REsp n° 162.510, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU de 29.6.98, p. 216; REsp n° 161.317, Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU de 29.6.98, p. 211; REsp n° 89.600, Min. Costa Leite, DJU de 30.3.98, p. 40. 24. “Civil. Promessa de compra e venda de imóvel. Inadimplemento. Perda parcial das quantias pagas. Mesmo se o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção estabelecer, para a hipótese de inadimplemento do promitente-comprador, a perda total das quantias pagas, e ainda que tenha sido celebrado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, pode o juiz, autorizado pelo disposto no a rt 924, CC, reduzi-la a patamar justo, com o fito de evitar enriquecimento sem causa que de sua imposição integral adviria a promitente-vendedora. Devolução que, pelas peculiaridades da espé cie, fica estipulada em 75% (setenta e cinco por cento) do que foi pago pelos compradores. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora não conhecido” (STJ, 4a Turma, REsp n° 60.127-SP, rei. Min. Cesar Asfor Rocha, j. de 02.12.1997, v.u.); 25. “Compromisso de compra e venda de imóvel. Perda de parte das pres tações pagas. Percentual que impõe ônus exagerado para o promitente com prador. Contrato firmado na vigência do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de redução pelo juiz. Razoabilidade da retenção de 10% das parcelas pagas. Precedentes. Recurso parcialmente acolhido. I - Assentado na instância monocrática que a aplicação da cláusula penal, como pactuada no compromisso de compra e venda de imóvel, importaria em ônus excessi vo para o comprador, impondo-lhe, na prática, a perda da quase totalidade das prestações pagas, e atendendo-se ao espírito do que dispõe o art. 53 do 645
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao Juiz adequar o percentual de perda das parcelas pagas a um montante razoável. II - A jurisprudência da Quarta Turma tem considerado razoável, em princípio, a retenção pelo promitente vendedor de 10% do total das parcelas quitadas pelo comprador, levando-se em conta que o vendedor fica com a propriedade do imóvel, po dendo renegociá-lo” (STJ, 4a Turma, REsp n° 85.936-SP, j. de 18.6.1998, v.u., rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). 26. “Compromisso de compra e venda de imóvel. Perda das prestações pagas. Contrato pactuado na vigência do Código de Defesa do Consumidor. Nulidade da cláusula. Retenção pela construtora. Recurso parcialmente acolhido. Nula é a cláusula que prevê a perda da metade das prestações pagas, de contrato de compromisso de compra e venda celebrado na vigência do Código de Defesa do Consumidor, podendo a parte inadimplente requerer a restituição do quantum pago, com correção monetária desde cada desembolso, autorizada a retenção, na espécie, de dez por cento (10%) do valor pago, em razão do descumprimento do contrato” (STJ, 4a Turma, REsp n° 184.148-SP, rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. de 13.10.1998, v.u.); 27. “Direito CiviL Compromisso de compra e venda de imóvel. Cláusula penal que estabelece a perda da totalidade das parcelas pagas pelos promissários compradores. Contrato firmado na vigência do Código de Defesa do Consumidor. Nulidade da cláusula. Possibilidade de retenção pelo vendedor de parte das quantias. Recurso parcialmente provido. - Nula é a cláusula que prevê a perda das prestações pagas de um contrato de compromisso de compra e venda avençado na vigência da Lei n° 8.078/90, podendo a parte inadimplente requerer a restituição do quantum’ pago, com correção mone tária desde cada desembolso. Por outro lado, autoriza-se a retenção de parte dessas importâncias, atendendo às circunstâncias do caso concreto, em razão do descumprimento do contrato” (STJ, 4a Turma, REsp n° 99.440-SP, j. de 15.10.1998, rei Min. Salvio de figueiredo Teixeira, v.u.); 28. “Contrato de compra e venda. Rescisão. Perda da quantia. Inaplicabilidade da norma da ‘Lei de Usura a estabelecer que a multa não ultrapasse 10%” (STJ, 3a Turma, REsp n° 85.356-SP, rei. Min. Eduardo Ribeiro, j. de 20.5.1999, v.u.); 29. “Compra e venda. Perda das prestações pagas. Contrato firmado antes do advento do Código do Consumidor. Resolução. Restituição. Retenção pela vendedora de parte das parcelas a título de indenização. Precedentes da Corte. I - Mesmo se o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção estabelecer, para a hipótese de inadimplemento do promitente-comprador, a perda total das quantias pagas, e ainda que tenha sido celebrado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, deve o Juiz, auto rizado pelo disposto no art. 924 do Código Civil, reduzi-la a patamar justo, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes. II - No caso concreto, a retenção apenas do sinal, parcela insignificante em relação ao valor contratado e pago, não é suficiente para esse efeito, ficando estipulado que será de 10% dos valores adimplidos pelos recorridos, a título de indenização pelo descumprimento do contrato, a que deram causa. III 646
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
Recurso conhecido e provido em parte” (STJ, 3a Turma, REsp n° 186.009-SP, rei. Min. Waldemar Zveiter, j. de 30.9.1999, v.u.); 30. “Civil. Promessa de compra e venda. Contrato firmado anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor. Devolução de parcelas pagas. Art. 924 do Código Civil. Precedentes da Corte. I. Celebrado o contrato antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, válida é a cláusula que prevê a perda das prestações pagas de um contrato de promessa de compra e venda. II. Todavia, tal direito não é absoluto, havendo que conformar-se às particularidades de cada caso concreto. Retenção corretamente fixada pela instância a quo em 10% das parcelas pagas e, portanto, mantida. III. Recurso especial conhecido, mas improvido” (STJ, 4a Turma, REsp n° 89.598-RS, rei. Min. Aldir Passarinho Junior, j. de 29.2.2000, v.u.); 31. “Civil. Promessa de compra e venda. Contrato firmado anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor. Devolução de parcelas pagas. Art. 924 do Código Civil. Precedentes da Corte. I. Celebrado o contrato antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, válida é a cláusula que prevê a perda das prestações pagas de um contrato de promessa de compra e venda. II. Todavia, tal direito não é absoluto, havendo que conformar-se às particularidades de cada caso concreto. Retenção fixada em 10% das parcelas pagas. III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ, 4a Turma, REsp n° 60.664-RS, rei. Min. Aldir Passarinho Junior, j. de 29.2.2000, v.u.); 32. “Promessa de compra e venda. Resolução. Restituição. Julgamento a ser proferido na ação. A promitente vendedora tem o direito de reter 10% do que recebeu, mas fica obrigada a restituir o excedente, matéria que deve ser desde logo decidida na ação de resolução. Recurso conhecido e provido em parte” (STJ, 4a Turma, REsp n° 239.576-SP, rei. Min. Ruy Rosado Aguiar, j. de 29.2.2000, v.u.); 33. “COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. CONTRA TO DE ADESÃO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA DA QUAL NÃO CONSTA ALTERNATIVA EM BENEFÍCIO DO PROMITENTE COMPRADOR OU POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DAS IMPORTÂNCIAS JÁ PAGAS. NULIDADE DE PLENO DIREITO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 51, II, E 54, PAR. 2o DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. Nos compromissos de venda e compra de imóveis, constantes de contratos de adesão e firmados na vigência do Código do Consumidor, é nula de pleno direito cláusula resolutória que não contemple alternativa em benefício do promitente comprador, a ele deixando a escolha, e bem assim, aquela que dele retire a possibilidade de reembolso das importâncias já pagas. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. ART. 49 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. O art. 49 do Código do Consumidor é inaplicável às promessas de venda e compra de imóveis. No que tange a produtos, o texto deve ser entendido como se referindo a bens móveis, tal o seu conteúdo manifesto, ao fixar como dies a quo do prazo de arrependimento, em uma das hipóteses, o ato do recebimento do produto’. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA AONDE PREVISTA A PERDA DE 90% DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. 647
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
DISPOSITIVO LEONINO. INVALIDADE. O individualismo e a interpre tação que se atenha de maneira estrita ao teor de determinadas cláusulas contratuais, não se compadece com as modernas tendências do Direito, de procurar efetiva comutatividade e equilíbrio na interpretação e aplicação das normas convencionais. Não mais é passível, neste final de Século XX, argu mentar de maneira singela com a só prevalência do ajuste de vontades, para impor a uma das partes, em profundo desequilíbrio no cumprimento de contrato, não só a perda do imóvel, como também, da quase integralidade das parcelas pagas. Se a lei reserva um espaço para a autonomia da vontade, para a autorregulamentação dos interesses privados, sua importância e força diminuíram, levando à relativização da força obrigatória e intangibilidade do contrato, permitindo aos Juizes um controle de seu conteúdo, em ordem a suprimir as cláusulas abusivas. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELO NÃO PAGAMENTO DO PREÇO. DIREITO DA PROMITENTE VENDEDORA DE RETER O SINAL. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DOS ARTS. 53 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR E 1.097 DO CÓDIGO CIVIL. Harmonizam-se os arts. 53 do Código do Consumidor e 1.097 do Código Civil. Na rescisão de promessa de venda e compra por inadimplemento do promitente comprador é lícito à promitente compradora reter o sinal ou arras, na forma da Lei Civil. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. INTERPELAÇÃO PREVISTA NO DEC. LEI FED. 745/69. PEDIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES DE CONDENAÇÃO DA VENDEDORA A PAGAR-LHES O DOBRO DA PARCELA OBJETO DA INTERPELAÇÃO MEDIANTE A APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 42 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. ÔNUS EM QUE SE ENCONTRA O PROMITENTE VENDEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. CARÊNCIA DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO. O art. 42 do Código do Consumidor contempla hipótese de repetição do indébito (isto é, cobrar de volta quantia indevida) e por manifesto, não há cobrança na interpelação prevista no Dec.-Lei 745/69. Impago o preço, o vendedor está adstrito a promover a interpelação sob pena de não obter a rescisão da promessa de venda e compra, vale dizer, a um só tempo no ônus de assim proceder e no exercício regular de direito. Os dispositivos penais inadmitem interpretação analógica, extensiva de seu comando. Não tendo sido forçados a pagar quantia indevida, falta aos promitentes compradores a titularidade do direito que pretendem ver sancionado (legitimatio ad causam) por tal forma se caracterizando como carecedores de ação. PROMESSA DE VEN DA E COMPRA DE IMÓVEL. INSCRIÇÃO PELA PROMITENTE VEN DEDORA DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC). PEDIDO DE COMINAÇAO DE ASTREINTES PARA FORÇAR A PROMITENTE VENDEDORA A CO MUNICAR AQUELE SERVIÇO INDEVIDA TAL INSCRIÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 287 DO CPC. Em se tratando de obrigação fungível, que pode ser satisfeita por terceiro, não tem cabimento o pedido de fixação de astreintes. O cancelamento da indevida inscrição do nome do promitente comprador no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) pode ser obtido por determinação judicial, mediante simples ofício, não 648
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
tendo os autores, por isso, ação de preceito cominatório contra a ré. O art. 287 do CPC sequer em tese admite a ação de preceito cominatório quando o ato pode ser realizado por terceiros, entre eles o Estado/Juiz (TJSP, 13a Câm. Civil, Apelação Cível n° 238.020-2/0, rei. Des. Marrey Neto, j. de 30.6.1994, v.u., JTJ Lex 166, p. 34 a 54); 34. “Contrato. Compromisso de compra e venda. Distrato. Cláusula. Perda das quantias pagas. Nulidade. Contrato celebrado antes do advento do Códi go de Defesa do Consumidor. Irrelevância. Cláusula incluída no contrato de rescisão firmado durante a sua vigência. Ofensa inequívoca ao artigo 53 da Lei Federal n° 8.078, de 1990. Recurso não provido. Se já antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor qualquer cláusula contratual objetivando a perda pelo comprador das importâncias pagas ao vendedor, em caso de rescisão contratual, havia de ser vista com moderação, agora veio a questão posta não mais em termos de mero bom-senso mais de efetiva e expressa previsão legal” (TJSP, 19a Câmara Civil, Apelação Cível n° 246.098-2, rei. Christiano Kuntz, j. de 22.12.1994, v.u., Lex 168/JTJ 53/55; 35. “Promessa de compra e venda. Cláusula de decaimento. Código de Defesa do Consumidor. É nula a cláusula de decaimento inserta em contrato de ade são, celebrado na vigência do Código de Defesa do Consumidor. Procedência parcial da ação de restituição para condenar a empresa promitente vendedora a devolução de 80% das quantias recebidas” (STJ, 4a Turma, REsp n° 60.0650-SP, rei. Min. Ruy Rosado Aguiar, j. de 15.8.1995, v.u.); 36. “Compromisso de compra e venda. Rescisão. Redução do montante da cláusula penal pelo magistrado. Possibilidade. Código Civil, art. 924. Recursos não providos.£Embora em nosso direito prevaleça o princípio da imutabilidade da cláusula penal por importar pré-avaliação das perdas e danos, esta poderá ser modificada pelo magistrado, ainda que não haja pedido a respeito, ou mesmo que os contratantes tenham estipulado seu pagamento por inteiro, pois a norma do Código Civil, art. 924. é de jus cogens, não podendo ser alterada pelas partes\ ‘Nada impede, portanto, que, nesse caso o juiz, em atendimento a pedido do réu na contestação, já condene o autor a lhe pagar a valor dessas quantias, habilitando-o à execução dessa condenação no mesmo processo’” (TJSP, 9a Câmara Civil, Apelação Cível n° 258.912-2/7, rei. Celso Bonilha, j. de 25.5.1995, v.u., Lex 173/JTJ 119/123; 37. “Civil e processual civil. Compromisso de compra e venda de imóvel. Devolução das prestações pagas. Art. 53, CDC. Inaplicabilidade. CC, art. 924. Orientação da Corte. Precedentes. Divergência. Caracterização. Pedido de homologação de acordo. Não formalização. Desacolhimento. Recurso parcialmente provido. I - Mesmo celebrado o contrato antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, o que impunha considerar eficaz previsão contratual de perda das quantias pagas pelo promissário adquirente, pode o juiz, autorizado pelo disposto no art. 924, CC, reduzi-la a patamar justo, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa que de sua imposição integral adviria à promitente-vendedora. II - Desacolhe-se o pedido de homologação judicial de acordo se a parte, reiteradamente intimada para a sua regularização, 649
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
se mantém omissa” (STJ, REsp n° 142.942-SP, rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. de 13.12.99); 38. “O art. 35 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/79) foi derrogado pelo CDC (Lei 8.078/90, art. 53). É nula a cláusula que estabelece a perda das prestações pagas pelo compromissário comprador inadimplente, ainda que não atingido um terço do preço. Opostos Embargos de Declaração, foram recebidos apenas para suprir a omissão, sem modificação do resultado do julgamento. Recurso Especial - remessa ao STJ em 18.09.2001” (TJSP, 4a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n° 111.319-4/5-00, rei Narciso Orlandi, j. de 22.02.2001, v.u. aptes: Penido Stahlberg e Outros, apdo: Ladislau de Jesus Godoy).
Conferir, também, alguns outros arestos a respeito do assunto, obser vando-se, no primeiro caso, a eventual possibilidade de cobrança de outras despesas, desde que comprovadas pelo promitente-vendedor: “Promessa de compra e venda de imóvel. Perda do valor das prestações. Cláusula abusiva. Na exegese dos artigos 51 e 53 do Código do Consumidor são abusivas as cláusulas que, em contrato de natureza adesiva, estabeleçam, rescindido este, tenha o compromissário que perder as prestações pagas, sem que do negócio tenha auferido qualquer vantagem. Inviável na via do especial discutir dedução de quantias a título de despesas arcadas pelo promitente quando repelidas nas instâncias ordinárias por envolver reexame de provas (Súmula n° 07). Recurso conhecido e improvido” (STJ, 3a Turma, REsp n° 63.028-2-DF, rei. Min. Waldemar Zveiter, j. de 12.2.1996, v.u., ementa). BAASP, 1984, de 1.1.1997, JSTJ/TRF, 66/142, outubro de 1996); “Civil. Promessa de compra e venda de imóvel em construção. Inadimplemento. Código de Defesa do Consumidor. Restituição das quantias pagas. A cláusula contida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel prevendo a perda total das prestações já pagas é nula nos termos do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Autoriza-se, todavia, a retenção pelo promitente-vendedor de um certo percentual que, pelas peculiaridades da espécie, fica estipulado no sinal que foi pago pelo promitente comprador” (STJ, 4a Turma, REsp n° 139.999-SP, rei. Min. César Asfor Rocha, v.u., j. de 11.5.1999); “Promessa de compra e venda. Cláusula de decaimento. Ajustamento pelo juiz. 1. Admitida pela jurisprudência da Turma a validade da cláusula de decaimento, pela impossibilidade de aplicação imediata da norma do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao juiz, na forma do artigo 924 do C. Civil, fazer a devida adequação a fim de evitar o enriquecimento ilícito. 2. Fixação do percentual de 10% para a retenção do preço pago, com restituição do restante, devidamente atualizado. Recurso conhecido e provido em parte” (STJ, 4a Turma, REsp n° 45.511-1-SP, rei. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. de 28.11.1994).
650
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
Seção III D o s Contratos de Adesão
286
Art. 54.
Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consum idor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [1] § 1o A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. [2] § 2o Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que alternativa, [3] cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2o do artigo anterior. [4] § 3o O s contratos de adesão escritos serão redigidos em ter m os claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tam anho da fonte não será inferior ao corpo doze, de m odo a facilitar sua com preensão pelo consum idor (redação dada pela Lei n° 11.785/2008). [6] § 4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consum i dor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. [7] § 5o Vetado - Cópia do formulário-padrão será remetida ao Ministé rio Público que, mediante inquérito civil, poderá efetuar o controle preventivo das cláusulas gerais dos contratos de adesão. [8]
COMENTÁRIOS
[1] DEFINIÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO - A denominação contrato de adesão foi dada a essa técnica de contratação por Saleilles, quando analisou a parte geral do BGB alemão.287 Muito embora a no menclatura dessa forma de contratar tenha sofrido críticas da doutrina,288 ganhou aceitação tanto no Brasil como no exterior. 286 Sobre contrato dc adesão: Carlos Alberto Bittar, Ary Barbosa Garcia Junior e Guilherme Fernandes Neto, Os contratos de adesão e o controle de cláusulas abusivas, São Paulo, Saraiva, 1991; Josimar Santos Rosa, Contrato de adesão, São Paulo, Atlas, 1994; O rlando Gomes, Con trato de adesão (condições gerais dos contratos), São Paulo, Revista dos Tribunais, 1972; Renata M andelbaum, Contratos de adesão e contratos de consumo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1996; W aldírio Bulgarelli, Questões contratuais no Código de Defesa do Consumidor, São Paulo, Atlas, 1993. 287 Raymond Saleilles, De la déclaration de volonté, cit., n° 89, ps. 229-230. Ver a abordagem sobre o contrato de adesão na Introdução a este capítulo, supra. 288 Orlando Gomes, Contrato de adesão, cit., n° 3, ps. 5-9. 651
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
A doutrina faz distinção entre os contratos de adesão e os contratos por adesão. Aqueles seriam forma de contratar na qual o aderente não pode rejeitar as cláusulas uniformes estabelecidas de antemão, o que se dá, geralmente, com as estipulações unilaterais do Poder Público (v.g., cláusulas gerais para o fornecimento de energia elétrica). Seriam contratos por adesão aqueles fundados em cláusulas também estabelecidas unilateralmente pelo estipulante, mas que não seriam irrecusáveis pelo aderente: aceita-as, em bloco, ou não as aceita. O Código de Defesa do Consumidor fundiu essas duas situações, estabelecendo um conceito único de contrato de adesão. Assim, tanto as estipulações unilaterais do Poder Público (“aprovadas pela autoridade competente”, art 54, caputy CDC) como as cláusulas redigidas prévia e unilateralmente por uma das partes estão incluídas no conceito legal de contrato de adesão. Opõe-se ao contrato de adesão o “contrato de comum acordo” (contrat de gré à gré)y ou seja, aquele concluído mediante negociação das partes, cláusula a cláusula.289 O contrato de adesão não encerra novo tipo contratual ou categoria au tônoma de contrato, mas somente técnica de formação do contrato, que pode ser aplicada a qualquer categoria ou tipo contratual, sempre que seja buscada a rapidez na conclusão do negócio, exigência das economias de escala. [2] INSERÇÃO DE CLÁUSULA NO FORMULÁRIO - A doutrina, de há muito, vem preconizando a ideia de que a mera inserção de cláusula no formulário nem por isso deixa de caracterizar o contrato como sendo de adesão.290 Sensível a essa colocação, o Código diz não descaracterizar o contrato a inserção de cláusula no formulário, pois continua a ser consi derado como contrato de adesão. O principal objetivo da norma é fazer com que não sejam desfigura dos os contratos de adesão dos quais constem uma ou algumas cláusulas manuscritas ou datilografadas, acrescentadas ao formulário já impresso. Qualquer que seja a cláusula acrescentada, dizendo respeito aos ele mentos essenciais ou acidentais do contrato, permanece íntegra a natureza de adesão do contrato, sujeito, portanto, às regras do Código sobre essa técnica de formação contratual. [3] CLÁUSULA RESOLUTÓRIA ALTERNATIVA - O Código permite a cláusula resolutória nos contratos de adesão, mas restringe sua aplicação, 289 Alex Weil e François Terré, Droit Civil (les obligations), cit., n° 47, p. 47; Nicole Chardin, Le contrat de consommation de crédit et l’a utonomie de la volonté, cit., n° 42, p. 36. 290 Orlando Gomes, Contrato de adesão, cit., n° 110, p. 156. 652
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
pois só está permitida a cláusula resolutória alternativa. O estipulante poderá fazer inserir no formulário a cláusula resolutória, deixando a escolha entre a resolução ou manutenção do contrato ao consumidor, observado o disposto no § 2o do art. 53, isto é, a devolução das quantias pagas, monetariamente atualizadas, descontada a vantagem auferida pelo aderente. [4] ESCOLHA É DIREITO DO CONSUMIDOR - A resolução do contrato de consumo, prevista por cláusula constante do formulário de adesão, não poderá ficar na esfera de decisão do fornecedor. O Código somente considera lícita a cláusula resolutória se a escolha entre a resolução ou manutenção do contrato, ou, ainda, qualquer outra solução preconizada na estipulação, for assegurada ao consumidor aderente. Na estipulação da possibilidade de resolução alternativa, deverão ser observados os princípios fundamentais do CDC, entre os quais ressaltam o da boa-fé (art. 4o, n° III; art. 51, n° IV), o do equilíbrio nas relações de consumo (art. 4o, n° III) e o da proporcionalidade, que indica proibição de o fornecedor auferir vantagem excessiva em detrimento do consumidor (art. 51, n° IV, e § Io). É abusiva a cláusula contratual que implique renúncia, direta ou indi reta, do consumidor ao direito previsto neste dispositivo, por ferir o art. 51, n° I, do Código. [5] CONTRATO DE ADESÃO ESCRITO E VERBAL - O Código não restringe o conceito de contrato de adesão às fórmulas escritas do estipulante. Considera de adesão o contrato celebrado mediante estipulação unilateral, preestabelecida pelo fornecedor. Tanto os contratos concluídos por escrito como também os celebrados verbalmente podem ser contratos de adesão se verificados os requisitos da lei.291 Também os comportamentos socialmente típicos - ou, impropriamente, “relações contratuais de fato” (faktische Vertragsverhaltnisse) - têm efeitos que se equiparam aos derivados do contrato de adesão, razão pela qual toda a sistemática do CDC a respeito destes últimos (arts. 46 a 54) aplica-se a esses comportamentos.292 [6] REDAÇÃO CLARA EM CARACTERES OSTENSIVOS E LEGÍ VEIS - Com a adoção desse expediente, o Código consagrou o princípio da legibilidade das cláusulas contratuais. O dispositivo visa a permitir que o consumidor possa tomar conhecimento do conteúdo do contrato pela 291 Ver as considerações sobre o contrato de adesão na Introdução a este capítulo. m Ver, com maior desenvolvimento, os comentários sobre o tema na Introdução a este capítulo. 653
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
simples leitura, sem prejuízo do dever de esclarecimento por parte do fornecedor (art. 46, CDC). A redação em caracteres legíveis possibilita diminuir o âmbito do controle das cláusulas contratuais gerais, qualitativa e quantitativamente, além de consistir em instrumento de segurança das relações jurídicas e de liberdade contratual.293 A contratação em massa, exigência das economias de escala, deve ser exercida de forma compatível com os princípios fundamentais da ordem econômica, dentre os quais está a defesa do consumidor (art. 170, n° V, CF). A rapidez que deve informar esse tipo de contratação, que implica necessariamente a conclusão do negócio com base em cláusulas gerais pre estabelecidas, não deve servir de pretexto para que se incluam, no bojo de um longo formulário de futuro contrato de adesão, cláusulas draconianas consideradas pelo CDC como abusivas. Além desse perigo, está a inevitável imposição, na prática, das cláusulas pelo estipulante, porque o consumidor aderente geralmente não lê os termos do formulário, quer seja por pressa, preguiça, indolência, ignorância ou resignação, em face da dificuldade trazida pelas “letras miúdas”. Um mínimo de formalismo deve ocorrer nas relações de consumo, devendo-se ter o cuidado de evitar o excesso para não prejudicar ou re tardar a conclusão do negócio. Interessante observar que, quanto ao for malismo, o fornecedor nunca reclama da demora na conclusão de contrato de consumo, pela pesquisa de informações e cadastro do consumidor que pretende comprar a prazo. À perda de dois ou três dias para se colherem informações sobre o consumidor deve corresponder o tempo despendido pelo fornecedor para esclarecê-lo sobre o conteúdo do contrato e permitirlhe a leitura do formulário, agora escrito em letras legíveis. As “letras miúdas”, quase sempre ilegíveis por pessoa com razoável nível de visão, não mais são admitidas pelo sistema do Código, pois os formulários deverão ser impressos com caracteres legíveis. O Código não estabelece o padrão gráfico em que deveriam ser impressas as cláusulas contratuais gerais nos formulários, deixando a questão para ser resolvida em face do caso concreto. Como critério para estabelecer-se o que seriam “caracteres legíveis”, poderá tomar-se em consideração o corpo gráfico adequado para leitura por pessoa que possua grau médio de visão. O tipo da letra também não foi definido pelo Código. Sendo legível, o contrato poderá trazer qualquer tipo de caracteres gráficos. Diante da nova regra, os fornecedores de produtos e serviços, inclusive o Poder Público, deverão promover completa revisão em seus formuláriosm Georges Berlioz, Contrat d’adhésion, cit., n° 150, p. 83. 654
Capítulo V I - D A PROTEÇÃO CONTRATUAL
-padrão, a fim de adaptá-los às exigências do CDC. A questão, contudo, totalmente inócua e absurda, foi definir o corpo gráfico que deverão ter as letras dos contratos de adesão - fonte não inferior a doze -, por força da Lei n° 11.785, de 2008. Fica a dúvida: qual fonte, Arialy Times New Roman, Courrier7. E por que não corpo gráfico 18, 20, em vez de 12? Ora, o que realmente importa é que os caracteres gráficos dos contratos sejam ostensivos e legíveis, e não que tenham esta ou aquela fonte, e este ou aquele corpo gráfico. Conforme sempre fizemos questão de salientar, o Código de Defesa do Consumidor não está a ensejar qualquer tipo de modificação. Conforme já salientado no item 3 do Título I (Dos Direitos do Consumidor) desta obra, trata-se de uma lei basicamente principiológica, embora também dispositiva, de caráter interdisciplinar e multidisciplinar, e que não pode, ou melhor, não deve preocupar-se com detalhes ou minúcias como as que ora se analisam no tocante ao dispositivo em comento.294 [7] DESTAQUE PARA AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREI TO DO CONSUMIDOR - A sugestão, feita por Berlioz,295 de obrigar o destaque das cláusulas desvantajosas ao consumidor foi aceita pelo Código. Toda estipulação que implicar qualquer limitação de direito do consumidor, bem como a que indicar desvantagem ao aderente, deverá vir singularmente exposta, do ponto de vista físico, no contrato de adesão. Sobre os destaques, ganha maior importância o dever de o fornecedor informar o consumidor sobre o conteúdo do contrato (art. 46, CDC). Deverá chamar a atenção do consumidor para as estipulações desvantajosas para ele, em nome da boa-fé que deve presidir as relações de consumo. Estipulação como, por exemplo, “se deixar de pagar três parcelas con secutivas não poderá se utilizar dos serviços contratados”, implica restrição de direito, de modo que incide sobre ela o dispositivo do Código. O destaque pode ser dado de várias formas: a) em caracteres de cor diferente das demais cláusulas; b) com tarja preta em volta da cláusula; c) com redação em corpo gráfico maior do que o das demais estipulações; d) em tipo de letra diferente das outras cláusulas, como, por exemplo, em itálico, além de muitas outras fórmulas que possam ser utilizadas, ao sabor da criatividade do estipulante. [8] CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS CLÁUSULAS GERAIS DOS CONTRATOS DE ADESÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - O § 5o deste artigo foi vetado sob o mesmo argumento do veto ao § 3o do art 51. 294 Considerações feitas pelo coautor José Geraldo Brito Filomeno. 295 Georges Berlioz, Contrat d’adhésion, cit., n° 151, p. 84. 655
C D C - Volume I - Nelson Nery Junior
Do ponto de vista da eficácia, o veto não influiu no sistema de controle dos contratos de adesão, que continua permitido. Apenas ficou sem efeito a obrigatoriedade de os fornecedores estipulantes remeterem ao Ministério Público cópia do formulário-padrão utilizado por eles para os contratos de adesão. Nada obstante o veto, o controle efetivo dessas cláusulas, conforme já afirmado na Introdução deste capítulo e no comentário ao § 3o do art. 51, suprat pode ser realizado pelo Ministério Público, mediante a instauração do inquérito civil (art 8o, § Io, da LACP e art. 90 do CDC). Cumpre observar, ainda, que o parquet tem atribuição funcional e legitimidade para agir, tanto para efetuar o controle administrativo das cláusulas contratuais gerais do contrato de adesão quanto para pleitear ju dicialmente a exclusão, modificação ou declaração de nulidade de cláusula que entenda ser abusiva.296
296 Ver, a propósito, a análise do controle das cláusulas contratuais gerais, na Introdução a este capítulo, bem como o comentário precedente ao § 3o do art. 51. 656
Capítulo VII DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS Zelmo Denari
1. Norm as gerais de consum o
O capítulo relativo às sanções administrativas, em sua integralidade, é constituído por normas gerais de consumo, cujo destinatário é o legislador, e não o consumidor ou o fornecedor de serviços. O Estatuto do Consumidor se propôs, nesta sede, estabelecer um mí nimo de disciplina e de critérios, de observância obrigatória para o Poder Público, em qualquer nível de governo. Ninguém ignora que, tanto na esfera federal como na estadual e municipal, inúmeros textos normativos - em grande parte expressivos do poder de polícia - regulam toda sorte de atividade do Poder Público, concernentes à saúde, à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública, ao urbanismo, à edificação e parcelamento do solo urbano, à fiscalização de gêneros alimentícios, inclusive à disciplina da produção e do mercado de consumo. Esse microssistema normativo é que introduz no ordenamento jurídico pátrio os “deveres administrativos”, vale dizer, os deveres dos administra dos para com as entidades públicas federais, estaduais e municipais, os quais, violados, ensejam a aplicação das correspondentes sanções admi nistrativas. Incontáveis textos legislativos e respectivos regulamentos - editados tanto pela União como pelos Estados e Municípios - se ocupam da previsão de toda sorte de sanções referidas à violação dos precitados deveres. Como é intuitivo, à exceção das disposições manifestamente incompatí veis, todo esse microssistema, regulador das relações de consumo, continuará em pleno vigor após a vigência do Código de Defesa do Consumidor.
C D C - Volume I - Zelmo Denari
2. Decreto n° 2.181 de 1997
Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, a União - a pretexto de dispor sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e de estabelecer as normas gerais de aplicação das respectivas sanções administrativas - baixou o Decreto n° 861, de 9 de julho de 1993, publicado no Diário Oficial do dia 12 do mesmo mês e ano.1 O referido diploma normativo - editado por força do disposto no art. 2o da Lei n° 8.656, de 21 de maio de 1993, que autorizou o Poder Executivo a regulamentar o procedimento de aplicação das sanções administrativas - não foi bem recebido, quer pela doutrina, encarre gada da descrição e interpretação das normas de consumo, quer pelas entidades federativas, encarregadas do respectivo processo de elaboração legislativa.2 Na verdade, preocupava o governo paulista a redação ambígua do seu art. 4o, que limitava a jurisdição e competência dos órgãos estaduais e mu nicipais de defesa do consumidor, convertendo-os em meros fiscalizadores de sanções administrativas instituídas pela União. Até porque a Secretaria local de proteção e defesa do consumidor já havia instaurado inúmeros processos administrativos para apuração de infrações de consumoyiniciativa esta que parecia desautorizada pelo texto federal. Provavelmente, foram estas as razões determinantes da revogação do Decreto n° 861/93 pelo Decreto n° 2.181, de 20 de março de 1997. Para dirimir controvérsias, seu art. 5o está vazado nos seguintes ter mos: 1 A propósito da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, v. estudo crítico de Daniel Roberto Fink constante do Título IV desta obra. 2 O Estado de São Paulo, irrcsignado, ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidadc do ato normativo baixado pelo Presidente da República, para que sejam declarados inconstitucionais inúmeros dispositivos do aludido decreto, sob dois fundamentos: a) o decreto regulamentar é usurpador da competência concorrente assegurada aos entes federa tivos pelo art. 24, ines. V c VIII, da Constituição Federal, cm caráter exclusivo, quando autoriza a União, os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre “produção e consumo”, bem como sobre “responsabilidade por danos causados ao consumidor” b) além do que, o presidente da República - violando frontalm ente o princípio da legalidade, e ao arrepio dos arts. 5o, II, e 37, caput, da Constituição Federal - inova a ordem jurídica das relações de consum o, criando tipos c sanções adm inistrativas sem consulta ao Poder Legislativo. A Suprema Corte, pelo voto do relator Celso de Mello, não conheceu da ADIn sob o fundamento de que eventual extravasamento do ato regulamentar (Decreto-Lei n° 861/93) poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Somente em desdobramento ulterior esse vício jurídico poderá significar violação da Carta Magna. Trata-se de uma questão de inconstitucio nalidadc reflexa ou oblíqua, cuja apreciação é prematura. (Cf. ADIn n° 996-6, de 11 de março de 1994). 658
C apítulo V II - D A S SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
“Art. 5oQualquer entidade ou órgão da Administração Pública federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuições para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo. Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pes soas jurídicas de direito público distintas, para apuração de infração decor rente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo DPDC, que poderá ouvir a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor - CNPDC, levando sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica.”
Portanto, não se questiona mais a respeito da competência dos governos estaduais e municipais para apurar e punir infrações ao decreto regulamentador. De resto, na hipótese de duplicidade de processos, instaurados por entes públicos distintos, o conflito de competências será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, órgão subordinado ao Ministério da Justiça. O momento é oportuno para discorrer sobre alguns aspectos interes santes do nosso processo de elaboração normativa. Em primeira aproximação, o cultor do Direito não pode confundir lei e norma jurídica. A palavra lei designa o ato por meio do qual o Estado, da forma mais solene possível, vale dizer, por meio do seu Poder Legislativo, manifesta a sua vontade. Por sua vez, norma jurídica é um preceito que, de modo geral, regula o comportamento das pessoas (regras de conduta), bem como os procedimentos normativos, vale dizer, os próprios meios de produção normativa (regras de competência). Quando dizemos que “a lei é um comando”, ou que “a lei ordena ou proíbe determinadas condutas”, ou, ainda, que “não é lícito violar a lei”, estamos somente nos utilizando de uma sugestiva figura de linguagem, tropo que os estilistas designam como sinédoque, pois, na verdade, quem comanda, ordena ou proíbe não é a lei, mas a norma jurídica. A doutrina publicística mais atualizada já advertiu que existem leis normativas e leis não normativas, quer contenham ou não, no plano conteudístico, normas jurídicas. Como exemplos das primeiras podemos lembrar todas as nossas codificações de Direito Material e Processual, inclusive a Constituição Federal; das segundas, as leis orçamentárias em qualquer nível de governo, bem como as leis declaratórias da utilidade ou necessidade pública nas expropriações.3 J Cf. amplamente Salvatore Fodcraro, II concetto di legge, 3a ed., Roma, Bulzoni Editore, ps. 117 e segs. 659
C D C - Volume I - Zelmo Denari
Reversamente, sob outra perspectiva, podemos distinguir as nor mas legislativas - quando os respectivos preceitos jurídicos decorrem das leis, enquanto manifestação de vontade emanada do Poder Legis lativo - das normas não legislativas, quando os respectivos comandos decorrem de atos administrativos menos solenes, como os decretos, portarias, circulares, emanados dos diversos setores ligados ao Poder Executivo, bem como do Poder Judiciário, como é o caso das sentenças prolatadas em juízo. Por todo o exposto, é fácil concluir que a lei é somente a princi pal fonte de normas jurídicas - talvez a mais im portante delas, pois o Estado manifesta sua por meio através do Poder Legislativo -, mas existem outras fontes, como os decretos, regulamentos, os tratados internacionais, as decisões judiciais e até fontes não escritas, como os costumes. Pois bem, o art. 59 da Constituição Federal dispõe sobre os tipos que podem ser utilizados em nosso processo legislativo: emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções do Senado. Da leitura do art. 60 e segs. deflui-se que a Constituição Federal coloca os tipos legislativos à disposição do legislador atendendo a critérios substanciais, segundo a matéria objeto de disciplinamento legislativo. Muito mais requintado o tema da classificação das normas jurídicas. A teoria geral do Direito sempre se ocupou das normas jurídicas como regras de comportamento, e neste sentido é que se faz alusão à sua tripartição clássica em imperativas, proibitivas e permissivas. De repente, os juristas se deram conta de que, do ponto de vista dos respectivos destinatários, é possível identificar, ao lado das normas de conduta, verdadeiras regras-matrizes que Norberto Bobbio designa como normas de competência ou de estrutura.4 O ordenamento jurídico - segundo Bobbio -, além de regular o com portamento das pessoas, regula também o modo de produção das normas. Equivale a dizer que o ordenamento jurídico regula a própria produção normativa. Assim sendo, ao lado das normas de conduta, dirigidas aos súditos da nação, podemos surpreender as normas procedimentais de elaboração normativa, destinadas aos próprios legisladores.5 * Cf. Norberto Bobbio, Teoria dell’o rdinamento giuridico, Torino, Giappichclli Editorc, p. 35. s Cf. Norberto Bobbio, Teoria dellbrdinamento giuridico, Torino, Giappichclli Editore, p. 35.0 modelo legislativo guarda semelhança com as chamadas leggi-cornici, lois-cadres e skeletonlaw, utilizadas pelo governo central para atribuir competência legislativa às regiões, nos regimes centralizados. Para estudo mais detalhado desses tipos legislativos, cf. a dissertação de mestrado de José Roberto Fernandes Castilho, Contribuição ao estudo da descentralização regional do poder político: o caso italiano, São Paulo, 1991, ps. 101 e segs. 660
C apítulo V II - D A S SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A Constituição de qualquer país é, em sua quase integralidade, um repositório de normas de competência encarregadas de difundir aos le gisladores e não aos súditos da nação regras de comando, proibição ou permissão.6 Da mesma sorte, as normas infraconstitucionais podem ser destinadas aos legisladores e não aos súditos. Nossa Constituição, ao longo do tempo, denominou-as normas gerais, e quem quiser saber as razões determinan tes de sua introdução no universo normativo deve tomar como ponto de partida o advento do Estado Federal7 O federalismo é um fenômeno político relativamente recente, pois nasceu com a Constituição dos Estados Unidos da América do Nor te, em 1787. Uma das características mais marcantes dessa forma de Estado é que as entidades federativas se despem de sua soberania no momento mesmo do ingresso na federação, mas conservam - e esta é a particularidade de maior importância para a explicação das normas gerais - as respectivas autonomias políticas, administrativas e, princi palmente, legislativas.8 As designadas normas gerais surgem, portanto, como decorrência na tural do regime federativo, pois sempre que interessar à nação imprimir uniformidade de orientação ou emprestar tratamento isonômico à regulação de qualquer matéria de interesse político-administrativo poderá recorrer ao comentado tipo normativo. 6 A simples leitura do art. 5o da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fun dam entais, nos revela um elenco de norm as dessa natureza. D entre as normas imperativas de competência: os hom ens e m ulheres são iguais em direitos e obrigações (I); é livre a manifestação do pensam ento (IV); é assegurado o direito de resposta (V); é garantido o direito de proprie dade (XXII). Dentre as normas proibitivas de competência: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (II); a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (XXXV); a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (XXXVI). E, finalmente, entre as normas permissivas de competência: todos podem reunir-se pacificamente, em locais abertos ao público, indepen dentem ente de autorização (XVI); as entidades associativas têm legitim idade para representar seus filiados (XXI); no caso de im inente perigo público, a autoridade com petente poderá usar de propriedade particular (XXV). 7 No Brasil, após explicitar que a lei é um ente legislativo e a norma, um ente lógico, Sacha Calmon Navarro Coelho foi um dos primeiros a observar que para bem “compreender as normas gerais é preciso entender o federalismo brasileiro” (cf. Comentários à Constituição de 1988, Rio de Janeiro, 1990, p. 133). 8 Buscando traçar as linhas identificadoras do Estado Federal, José Afonso da Silva observa que “no Estado Federal há que distinguir soberania c autonomia c seus respectivos titulares. Houve muita discussão sobre a natureza jurídica do Estado Federal, mas, hoje, já está definido que o Estado Federal, o todo, como pessoa reconhecida pelo Direito Internacional, é o único titular da soberania, considerada poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação. Os Estados federados são titulares tão só de autonomia, compreendida como governo próprio dentro do círculo de competências traçadas pela Constituição Federal” (cf. Curso de Direito Constitucional Positivo, 9* ed., São Paulo, p. 92). 661
C D C - Volume I - Zelmo Denari
As normas gerais costumam ser editadas através de leis complementares, quando se trata de dispor sobre a matéria tributária descrita nas alíneas a, b e c do art. 146, inc. III, da Constituição. Nada obsta, no entanto, que sejam editadas mediante simples leis ordinárias, como autorizam os incs. XXI e XXVII do art. 22, para tratar da “organização das polícias militares e corpos de bombeiros” ou da “licitação e contratação para a administração pública”, bem como o § Io do art. 24, quando dispõe sobre a competência concorrente. Como se constata, é equivocado supor que, no plano infraconstitucional, a edição de normas gerais - no sentido ora admitido de praeceptum legislatoris - seja apanágio exclusivo das leis complementares. Em nosso sistema normativo, as normas gerais podem ser editadas por leis comple mentares ou por leis ordinárias, ad libitum do legislador constitucional. Feitas essas considerações preliminares, já podemos nos ocupar da estrutura normativa do Código de Defesa do Consumidor, bem como do alcance e eventuais limites normativos introduzidos pelo Decreto Federal n° 2.181, de 20 de março de 1997. O Código de Defesa do Consumidor, promulgado por lei ordinária (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), é um corpo normativo constituído por normas de conduta, algumas delas principiológicas, e cujos destinatários são todos os partícipes das relações de consumo, como, por exemplo: Da Política Nacional de Relações de Consumo (Cap. II), Dos Direitos Bási cos do Consumidor (Cap. III), Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos Danos (Cap. IV), Das Práticas Comerciais (Cap. V), Da Proteção Contratual (Cap. VI), Das Infrações Penais (Tít. II), Da Defesa do Consumidor em Juízo (Tít. III). Além dessas, no entanto, o Capítulo VII, disciplinador das sanções administrativas, é constituído por normas gerais de competência editadas com fundamento no art. 24, § Io da Constituição Federal9 e cujos destinatá rios são os entes federativos investidos de competência legislativa ordinária para dispor sobre o exercício do poder de polícia administrativa (União, Estados e Municípios). Pelas razões expostas, devemos concluir que, em matéria de sanções administrativas, tendo a União exercitado, plenamente, a competência 9 Buscando precisar os contornos da designada competência concorrente, Fernanda Dias Menezes de Almeida ministra o seguinte ensino: “Além de partilhar entre os diversos entes federativos certas competências exclusivas, que cada um exerce sem participação dos demais, o constituinte demarcou uma área de competências exercitáveis conjuntamente, em parceria, pelos integrantes da Federação, segundo regras preestabelecidas. Trata-se da competência concorrente, assim tradicio nalmente denominada porque, relativamente a uma só matéria, concorre a competência de mais de um ente político.O que o constituinte deseja é exatamente que os Poderes Públicos em geral cooperem na execução das tarefas e objetivos enunciados” (Cf. Competências na Constituição de 1988, São Paulo, 1991, ps. 139-148). 662
C apítulo V II - D A S SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
legislativa concorrente para edição de normas gerais, prevista no § Io do art. 24 da Constituição Federal, por meio da edição do Código de Defesa do Consumidor, cumpre aos demais entes federativos (a própria União, os Estados e Municípios), em cada área de atuação administrativa, editar normas ordinárias de conduta para tipificação das infrações e respectivas sanções administrativas, nas relações de consumo, à luz das normas de elaboração legislativa (normas de competência) previstas no Decreto n° 2.181/97. Por todo o exposto, tendo em vista o elenco de sanções administrati vas descritas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como as normas integrativas previstas no Decreto n° 2.181/97 - que tipificam condutas e definem práticas inffativas na área das relações de consumo -, a União já conta com necessário instrumental para apuração das infrações administrativas. Por sua vez, as demais unidades da Federação já contam com norma de sistematização do procedimento de aplicação das sanções - um dos maiores méritos do decreto regulamentador - a par de instituir, nos seus arts. 56 e 57, um “elenco de cláusulas abusivas” que será divulgado anualmente para orientação dos consumidores, bem como o Cadastro de Fornecedores relapsos, com a mesma finalidade. Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas [1 ] relativas à produção, industrialização, distribuição e consum o de produtos e serviços. § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fis calizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas [2] que se fizerem necessárias. § 2oVetado - As normas [5] referidas no parágrafo anterior deverão ser uniformizadas, revistas e atualizadas, a cada dois anos.
§ 3o Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões [3] permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1o, sendo obrigatória a par ticipação dos consumidores e fornecedores.
§ 4o
[4]
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornece dores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
663
C D C - Volume I - Zelmo Denari
COMENTÁRIOS
[1] NORMAS GERAIS DE CONSUMO - O caput do art. 55 determina que a União e os Estados-membros, além do Distrito Federal, nas respec tivas áreas de atuação administrativa - ou seja, nos respectivos territórios -, editem, em caráter concorrente, normas jurídicas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Que normas seriam essas? À luz das considerações feitas a respeito do Decreto n° 861/93 (v. retro, item 2), e revendo, nesta oportunidade, nossa anterior opinião, trata-se de mera reiteração do disposto no art. 24, §§ Io e 2o da Cons tituição Federal, que atribuem aos citados entes federativos - à exceção do Município - competência legislativa concorrente para editar normas gerais de consumo, vale dizer, normas de competência, endereçadas aos legisladores dos três níveis de governo. O dispositivo, portanto, tem ca ráter introdutório, pois todos os dispositivos deste capítulo são normas gerais de consumo. [2] NORMAS DE CONSUMO - O § Io, por sua vez, atribui aos três entes políticos - incluindo, portanto, os Municípios - competência para fiscalizar e controlar o fornecimento de bens ou serviços, no interesse da preservação da vida, saúde, segurança, informação e bem-estar do consu midor, baixando as normas que se fizerem necessárias. Nesta passagem, o dispositivo tanto faz alusão às normas ordinárias de consumo quanto às normas regulamentares de fiscalização e controle das atividades de fornecimento de bens ou serviços, expressivas do poder de polícia administrativa, que podem ser editadas por quaisquer entes políticos, nas respectivas áreas de atuação administrativa. A competência suplementar do Município, para suprir omissões e la cunas da legislação federal e estadual, está prevista no inc. II do art. 30 da Constituição Federal e deve ser acionada sempre que presente o requisito do interesse local ou, como dizia o anterior texto constitucional, quando se tratar de matéria de peculiar interesse do Município. Municípios do nosso Estado e de outras unidades da Federação têm editado leis reguladoras do tempo máximo de permanência nas filas para atendimento bancário.10 Na hipótese de descumprimento, os textos legis lativos municipais preveem a cominação de pesadas sanções pecuniárias e até a suspensão do alvará de licença para funcionamento da atividade nos casos de reincidência. 10 A iniciativa parece ter sido da Câmara Municipal de João Pessoa, a primeira a promulgar lei nesse sentido. 664
C apítulo V II - D A S SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sabidamente, os bancos - instituições financeiras que mais prosperam neste País - prestam maus serviços à população. Após o advento do com putador, reduziram drasticamente o número de empregados para minimizar os respectivos custos e aumentar seus lucros. Por isso, questionam a constitucionalidade dessa iniciativa municipal, argumentando que a organização dos bancos e o controle do sistema financeiro nacional é matéria reservada à competência da União. À luz das considerações feitas neste título, é inarredável a competên cia suplementar dos Municípios para legislar sobre relações de consumo, e o tema em pauta envolve a utilização de serviços bancários. Resta induvidosa, portanto, a competência legislativa dos entes municipais para editar normas de bom atendimento aos Municípios, nos bancos e demais instituições de crédito, bem como cominar sanções repressivas das res pectivas infrações. Segundo José Afonso da Silva, o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades componentes do Estado Federal é o da predominância do interesse. Predominando o interesse geral, a competência é da União; predominando o interesse regional, a competência é dos Estados; e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local. Dos entes federados, somente o Município reúne condições para disciplinar e fiscalizar o atendimento dispensado aos clientes nas filas dos bancos. [3] COMISSÕES PERMANENTES - Tamanha a importância que o Código confere às normas ordinárias e regulamentares de consumo que o § 3o atribui aos órgãos públicos, encarregados da fiscalização e controle dos atos de fornecimento, o encargo de manter comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização daquelas normas, com participação obrigatória de representantes dos fornecedores e dos consumidores. [4] NOTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES - Por último, o § 4oconfere àqueles mesmos órgãos prerrogativa da mais alta importância, permitindo a expedição de notificação aos fornecedores, com vistas à obtenção de in formações no interesse dos consumidores, sob pena de desobediência. Naturalmente, a sanção administrativa mais apropriada para punir a desobediência é a penalidade pecuniária, sem prejuízo, evidentemente, das penas detentivas previstas no Código Penal (art. 330). [5] REVISÃO PERIÓDICA DAS NORMAS DE CONSUMO - O § 2o do art. 55 - vetado pelo presidente da República - tem a seguinte redação: “As normas referidas no parágrafo anterior deverão ser uniformizadas, revistas e atualizadas, a cada dois anos.” 665
C D C - Volume I - Zelmo Denari
Nas razões do veto se obtemperou que “a União não dispõe, na ordem federal, de competência para impor aos Estados e Municípios obrigação genérica de legislar”. O argumento não colhe, pois, como foi evidenciado no introito, todo o Capítulo VII do Código é constituído por normas gerais de consumo, e quando a União edita normas gerais legisla para os legisladores, não para os súditos da Nação. A despeito do veto, portanto, os entes políticos não devem perder de vista o objetivo último da uniformização, revisão e atualização das respectivas normas jurídicas, de vital importância para as relações de consumo. Art. 56. As infrações das normas de defesa do consum idor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções [1] administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, poden do ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
COMENTÁRIO
[1] MODALIDADES DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - O art. 56 enumera as sanções que poderão ser aplicadas pelas autoridades admi nistrativas no âmbito das respectivas jurisdições. 666
C apítulo V II - D A S SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Código distingue, basicamente, três modalidades de sanções admi nistrativas: a) sanções pecuniárias - representadas pelas multas (item I) aplicadas em razão do inadimplemento dos deveres de consumo;11 b) sanções objetivas - são aquelas que envolvem bens ou serviços colo cados no mercado de consumo e compreendem a apreensão (item II), inutilização (item III), cassação do registro (item IV), proibição de fabricação (item V) ou suspensão do fornecimento de produtos ou serviços (item VI);12 c) sanções subjetivas - referidas à atividade empresarial ou estatal dos fornecedores de bens ou serviços, compreendem a suspensão temporária da atividade (item VII), cassação de licença do esta belecimento ou de atividade (item IX), interdição total ou parcial de estabelecimento, obra ou atividade (item X), intervenção ad ministrativa (item XI), inclusive a imposição de contrapropaganda (item XII).13
11 No REsp n° 1.138.591/RS, 2* Turma do STJ, rei. Min. Castro Meira, foi julgada a competência e a legitimidade ativa do Procon no que tange à aplicação e julgamento de multa, nos seguintes termos: “Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretam ente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções adm inistra tivas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execu ção do serviço público cm seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio cconômico-fmanceiro do contrato de concessão e da m odicidade tarifária. !2 No REsp n° 620.237/PR, 5“ Turma do STJ, rcl. Min. Fclix Fischcr, foi considerada dispensá vel a prova pericial na esfera adm inistrativa, quando se trata de apreensão de produto com prazo de validade vencido: “conduta do comerciante que expõe à venda a m atéria-prim a ou m ercadoria, com o prazo de validade vencido, configura, em princípio, a figura típica do art. 7o, inciso IX da Lei n° 8.137/90 c/c o art. 18, § 6o, da Lei n° 8.078/90, sendo despicienda, para tanto, a verificação pericial, após a apreensão do produto, de ser este últim o realmente im próprio para o consumo. O delito em questão é de perigo presum ido (Precedentes do STJ e do Pretório Excelso)”. O STJ, por sua Primeira Turma, reL Min. José Delgado, julgou o CC (Conflito de Competência) n° 47784/SP, DJ de 26.9.2005, em que se discutiu eventual conflito de competência entre Juiz Fe deral e Estadual cm matéria de interdição de estabelecimento: “Incxiste conflito positivo entre Juiz Estadual que processa e julga ação civil pública, com base no Código de Defesa do Consumidor, e Juiz Federal que processa e julga medida liminar com base em legislação sobre relação jurídica administrativa. 2. O estabelecimento comercial ou industrial pode sofrer interdição por efeitos do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que tenha recebido autorização para funcionar, em face da discussão sobre legislação administrativa aplicada. 3. A decisão em ação civil pública, por proteger interesses difusos, tem alcance mais amplo do que a proferida cm sede de medida cautclar onde se discute interesses individuais. Prevalência daquela”. 667
C D C - Volume I - Zelmo Denari
Art. 57. A pena de multa, graduada [1] de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo [2] de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.14 Parágrafo único. A multa [3] será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.15
COMENTÁRIOS
[1] GRADUAÇÃO DA MULTA - O artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante - a vantagem auferida ou a condição econômica do fornecedor. [2] FUNDOS ESPECIAIS - A aplicação da multa deve ser precedida do devido processo legal, e o resultado, evidentemente apurado a este título, reverter-se-á em benefício do Fundo previsto na Lei de Ação Civil Pública (cf. Lei n° 7.347, de 24.7.85) destinado à reconstituição dos bens lesados. O art. 13 do precitado diploma legislativo prevê a criação de um Fundo na área federal, gerido por um Conselho Federal, e de Fundos estaduais, criados nas diversas unidades federativas, geridos por Conselhos Estaduais de que participarão, necessariamente, o Ministério Público, além de repre sentantes da comunidade. Por isso, o dispositivo distingue as infrações ou danos de âmbito na cional daqueles de âmbito estadual ou municipal, destinando o resultado financeiro das penalidades aos respectivos Fundos. [3] APLICAÇÃO DA MULTA - Nos termos do parágrafo único, a multa deve ser instituída em montante nunca inferior a 200 UFIRs nem superior a três milhões de UFIRs, cabendo aos agentes administrativos a fixação da multa, de acordo com os critérios retrocitados. 14 Com a redação dada pela Lei n° 8.696/93. 15 Com a redação dada pela Lei n° 8.703/93. 668
C apítulo V II - D A S SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Por último, deve-se ter presente que as importâncias eventualmente arrecadadas a este título devem ser depositadas em estabelecimento oficial de crédito, com cláusula de correção monetária, enquanto os Fundos previs tos na Lei de Ação Civil Pública não forem regulamentados (cf. parágrafo único do art. 13 da Lei n° 7.347, de 1985). Art. 58.
As penas [1] de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do forneci mento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.
COMENTÁRIO
[1] SANÇÕES POR VÍCIO - O dispositivo prevê a aplicação das sanções objetivas (v. comentário ao art. 56), envolvendo a apreensão, inutilização, cassação de registro, proibição de fabricação, suspensão do fornecimento de produto ou serviço, bem como a sanção subjetiva da revogação da concessão ou permissão de uso, sempre que forem constatados vícios de qualidade ou de quantidade que envolvam a adequação ou segurança do produto ou serviço. Assim, o alimento ou medicamento que não corresponderem aos padrões normais de consumo ou que, comprovadamente, forem considerados noci vos ou perigosos, poderão ser apreendidos, inutilizados, ter sua fabricação proibida ou suspensa ou ter seu registro cassado, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa ao fornecedor. Da mesma sorte, o produto cujo conteúdo ou medida for inferior às indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, estará sujeito às sanções administrativas previstas no dispo sitivo. Art. 59. As penas [1] de cassação de alvará de licença, de in terdição e de suspensão temporária da atividade, bem com o a de intervenção administrativa [2] serão aplicadas mediante procedimen to administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste Código e na legislação de consumo.
669
C D C - Volume I - Zelmo Denari
§ 1o A pena de cassação [3] da concessão será aplicada à con cessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual. § 2°A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. § 3o Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de pe nalidade administrativa, não haverá reincidência [3] até o trânsito em julgado da sentença.
C O M EN TÁRIO S
[1] SANÇÕES SUBJETIVAS - As sanções administrativas de caráter subjetivo, previstas no art 56 (cf. comentários), compreendendo a suspensão temporária de atividade, cassação de alvará de licença, a interdição de esta belecimento, bem como a intervenção administrativa, devem ser aplicadas in extremis, justamente por envolver restrição ao princípio constitucional da livre iniciativa, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica (cf. art. 170 e parágrafo único). O Código teve o cuidado de autorizar a aplicação dessas sanções nos casos extremos de reincidência na prática das infrações de maior gravidade, previstas no próprio Código ou legislação esparsa. [2] INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA - Dentre as modalidades interventivas, a cargo do Poder Público, podemos lembrar a intervenção nos serviços de transportes coletivos, cada vez mais frequentes nos gran des centros urbanos, sempre que ficar demonstrada a inadequação ou periculosidade dos serviços prestados pelas respectivas concessionárias de serviço público. A propósito, o § Io do art. 59 vai além e prevê a cassação da concessão quando ocorrer violação de obrigação legal ou contratual. De todo modo, o § 2o imprime um balizamento à intervenção admi nistrativa, somente admitindo sua aplicação nos restritos casos em que não for aconselhável a cassação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade empresarial. [3] REINCIDÊNCIA - Por último, o § 3o clarifica o critério de rein cidência para as infrações à legislação do consumo, na pendência de ação judicial: o infrator somente será considerado reincidente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 670
C apítulo V II - D A S SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 60.
A imposição de contrapropaganda [1] será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. § 1°Acontrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veí culo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. § 2o Vetado - A contrapropaganda [2] será aplicada pelos órgãos públicos com petentes da proteção ao consumidor, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, cabendo recurso para o Ministro de Estado da respectiva área de atuação administrativa, quando a mensagem publicitária for de âmbito nacional. § 3o Vetado - Enquanto não promover a contrapropaganda, o fornecedor, além de multa diária e outras sanções, ficará impedi do de efetuar, por qualquer meio, publicidade de seus produtos e serviços.
COMENTÁRIOS
[1] IMPOSIÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA - A imposição de contrapropaganda é a modalidade de sanção mais temida dos consumidores que praticam a publicidade enganosa ou abusiva, previstas no art. 37 e seus respectivos parágrafos. A redação do dispositivo ressente-se de erro formal, pois o Código faz equivocada remissão ao art. 36 do CTN. A publicidade é enganosa quando induz em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos ou serviços (cf. art. 37, § Io). É enganosa por omissão quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (cf. § 2o do art. 37). A publicidade abusiva é aquela que discrimina, incita à violência, explora o medo ou a superstição, aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança ou desrespeita valores ambientais (cf. § 2o do art. 37). [2] EXECUÇÃO DA MEDIDA - Nas razões do veto, o presidente da República obtempera que “a imposição de contrapropaganda sem que se estabeleçam parâmetros legais precisos pode dar ensejo a sérios abusos, que poderão redundar até mesmo na paralisação da atividade empresarial, como se vê, aliás, do disposto no § 3o do art. 60. Por outro lado, é inadmis sível, na ordem federativa, atribuir a ministro de Estado competência para 671
C D C - Volume I - Zelmo Denari
apreciar em grau de recurso a legitimidade de atos de autoridade estadual ou municipal, tal como previsto no § 2o, do art. 60”. Como se decalca, o veto ao § 2o somente se insurge contra o cabi mento de recurso do ministro de Estado da respectiva área de atuação administrativa. Não alcançada pelo veto presidencial, remanesce a parte introdutória do comando normativo - dispondo que a contrapropaganda será aplicada pelos órgãos públicos competentes de defesa do consumidor, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa - de inteira apli cação na espécie sujeita. Esses órgãos públicos de defesa do consumidor podem ser instituí dos em qualquer nível de governo, pois, nos termos do § Io do art. 55, compete concorrentemente aos três entes políticos editar normas relativas à fiscalização e controle da publicidade de produtos e serviços. E a con trapropaganda se oferece como um dos mais eficientes instrumentos de controle da publicidade, à disposição daqueles entes administrativos, em nível federal, estadual ou municipal.
672
Título II DAS INFRAÇÕES PENAIS José Geraldo Brito Filomeno
1. Da defesa d o consum idor no âm bito penal
Além dos âmbitos administrativo e civil de defesa do consumidor, assume relevante papel nas diretrizes traçadas pelo Código Brasileiro de Defesa do Consumidor sua tutela no âmbito penal até como forma de assegurar-se a efetividade das demais normas insertas no referido Código. Deve ficar claro de início, porém, e o próprio art. 61 já o enuncia expressamente, que os delitos previstos a partir do art. 62 (vetado) em absoluto excluem outros crimes contra as “relações de consumo”: quer os previstos no corpo das normas penais básicas consistentes no Código Penal (crimes contra a saúde pública, por exemplo, e outros), quer os da legislação especial ou extravagante, constante de outros diplomas legais (crimes contra a economia popular, nas incorporações imobiliárias etc.). 2. Desinform ação e desinteresse individual
Em mais de 10 anos de experiência na qualidade de membro do Mi nistério Público do Estado de São Paulo na área de proteção e defesa do consumidor, o que temos constatado frequentemente é que, desesperado, o consumidor, diante, por exemplo, de um conflito individual surgido de relações de consumo (a não entrega de uma obra de serralheria apesar de pagamento de entrada razoável ou então grande parte do preço), muitas vezes denuncia tal circunstância à autoridade policial, certo de que isto bastará para a solução do seu problema particular. E, muitas vezes, sobretudo em cidades menores não providas dos PROCONs ou outras entidades de proteção ou defesa do consumidor, ou ainda de promotores de justiça que fazem suas vezes, quando inexistentes,
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
realmente é suficiente tal “queixa” feita na delegacia locaL Mas isso apenas para a solução do conflito em siyesquecendo-se o mesmo consumidor, muitas vezes, de que, embora satisfeita sua pretensão de natureza civil, subsistirá muitas vezes o aspecto criminal a ser analisado. Todavia, já que o seu problema foi solvido, não se dá a vítima-consumidor ao trabalho de acompanhar o desfecho da questão em seu aspecto criminal, ainda que em tese e sob investigação, desinteressando-se por completo. E tal desinteresse por certo não deriva exclusivamente da desinforma ção manifesta da população como um todo a respeito de seus interesses e direitos, ou ainda de seus deveres como cidadão, como também da notória lentidão da justiça, quer nos pleitos de natureza civil, quer nos de natureza penal. Aliás, e como se sabe, a responsabilidade civil é independente da penal, nos termos do que preconiza o art. 935 do Código Civil, “não se podendo mais questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. Entretanto, como nem sempre o processo criminal chega a termo com a almejada rapidez, caso em que a sentença daí advinda poderá servir já de título executivo judicial (arts. 63 e segs. do Código de Processo Penal), o que se verifica é a simultaneidade dos feitos, não raro com a suspensão do de natureza civil. Além disso, refoge ao senso de percepção normal do consumidor isoladamente considerado o interesse coletivo ou até mesmo difuso, no sentido de que os que atentam contra as relações de consumo venham a ser punidos efetivamente, não apenas porque praticaram infrações àquelas, mas também para que não continuem a praticá-las. Tal desinteresse, aliado sempre ao dano individualizado e muitas vezes pequeno do ponto de vista econômico, mas relevante no sentido coletivo, bem como à impunidade nos chamados “crimes econômicos”, é que leva a uma sensação de desproteção do consumidor e desalento quanto a ver seus interesses ou direitos efetivamente velados. 3. Parâmetros para a defesa d o consum idor no âm bito penal
Aludidos aspectos de desinformação e desinteresse, ou quando não de temor em denunciar abusos que arranham o ordenamento jurídico também no âmbito penal, e não apenas no administrativo e/ou civü,1 não são privi légios de nosso País, onde o sentimento de impotência do cidadão diante 1 José Geraldo Brito Filomeno, Manual de direitos do consumidor, 6“ cd., São Paulo, Atlas, Capítulo 5, item 5.4. 674
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
da sensação de impunidade não se faz sentir apenas nos denominados “crimes econômicos”, ou aqui, mais particularmente, nos delitos contra as “relações de consumo”, mas em todos os crimes em geral. Autores estrangeiros, como Robert Lowe e Geoffrey WoodrofFe,2 apon tam exatamente para o desinteresse dos consumidores individualmente considerados em face de pequenos prejuízos experimentados em verem punidos os fornecedores de produtos e serviços, o que certamente favorece a continuidade de fraudes e outros atos atentatórios às boas relações de consumo. São no mesmo sentido as ponderações de Carlos Ferreira de Almeida,3 Haemmel, George e Bliss,4 e outros. Observa-se ainda a tendência da jurisprudência, insensível, de passar a cuidar, como casos secundários e sem muita importância, de delitos contra o consumidor, como, por exemplo, o de “substância avariada” (art. 279 do Código Penal), entendendo ser necessário a demonstração de “nocividade” dela quando exposta ao público consumidor, quando fica claro que referido tipo não contém tal elemento normativo, ao contrário do que consta do art 272, ainda do Código Penal, ao tratar de adulteração de substância alimentícia ou medicinal.5 Referido dispositivo, aliás, vem de ser revogado expressamente pela recente Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, mais precisamente em seu art. 23, uma vez que o inc. IX de seu art. 7o cria novo tipo, salutarmente mais abrangente, no sentido de que constitui crime contra as “relações de consumo”: “vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo”. Tal dispositivo casa-se perfeitamente com o § 6o do art. 18 do Código ora comentado e, além disso, restabelece o art. 62, vetado, e tudo pelas razões oportunamente tratadas na análise das infrações penais. Também no que concerne aos crimes contra a economia popular, ainda se debate a jurisprudência no sentido de considerar-se ou não a “essencialidade de gêneros e mercadorias” para efeito de tabelamento ou controle de preços, quando se sabe que é à autoridade administrativa, e não ao Judiciário, que compete definir tal questão, sendo o próprio tabelamento uma maneira de optar-se ou indicar-se tal “essencialidade”, tanto que se controla o preço devido a circunstâncias do momento, 2 Consumer law and practice, Londres, Swcet and Maxwel, 1985, p. 175. Os direitos dos consumidores, Coimbra, Livraria Almcdina, 1982, p. 154. 4 Consumer law, Saint Paul, West Publishing Co., 1975, ps. 8-9. 5 Art. 272. “Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo”. V. discussão prática, do autor, no Manual de Direitos do Consumidor. 10. ed. São Paulo: Atlas, Capítulo 5. 675
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
mormente a escassez ou então especulação em torno de determinados produtos e serviços.6 Como se verifica, pois, a preocupação do legislador, além de pretender, mediante a criminalização de comportamentos reputados graves na parte material do Código do Consumidor, e dessarte garantir o seu efetivo cum primento, foi no sentido de não prejudicar a legislação penal, codificada ou extravagante, ressaltando-se, dentre os tipos elencados no Título II de que ora se cuida, os que versam sobre os abusos em matéria de publicidade ( i . e . y as publicidades “enganosa” e “abusiva”). Vale aqui relembrar o pensamento de Othon Sidou7 no sentido de que seria na prática impossível preverem-se todos os fatos que prejudicam ou então venham a prejudicar os consumidores, mormente em se tratando de fraudes contra eles cometidas e outros comportamentos lesivos. Isso por certo demandaria a revisão constante da própria legislação penal, sem se esquecer de que da mesma forma na fraude civil ou então nas infrações administrativas há normas a mancheias, às vezes até mesmo conflitantes, donde a necessidade de harmonizar-se a existência das normas que já constam do Código Penal e legislação especial, com as ora introdu zidas pelo Código do Consumidor. 4. Dilema inicial da com issão elaboradora do anteprojeto
O promotor de justiça aposentado e que exerceu as funções de inspe tor regional do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em São Paulo, Roberto Durço, ao relatar seu parecer a respeito do que deveria constar do Código de Defesa do Consumidor no que concernia às infrações penais, e ainda no âmbito da Comissão Conjunta Ministério Público/Secretaria de Defesa do Consumidor de São Paulo, que este autor teve a honra de presidir, para a apresentação de sugestões ao anteprojeto do Código do Consumidor,8 indagava o seguinte: os dispositivos penais e processuais penais “deverão constituir simples capítulos do Código de Defesa do Consumidor, ou deverão constituir um diploma legal à parte”? Ou então, mais explicitamente, perguntava: 6 Cf. RT, n° 582, p. 304. 7 Proteção ao consumidor, Rio dc Janeiro, Forense, 1977, ps. 2 e 3. 8 Também integraram a referida comissão os promotores dc justiça Walter Antônio Dias Duarte, Marco Antônio Zancllato, Daniel Roberto Fink, Luiz Cyrillo Ferreira Jr., Renato Martins Costa, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, o procurador de justiça Nelson Nery Jr., o diretor técnico e a assistente jurídica do PROCON-SP, Marcelo Gomes Sodré e Mariângcla Sarrubbo (Fonte: Arquivos da Comissão, doados pelo autor, seu presidente, ao setor dc Documentação Histórica do Ministério Público do Estado de São Paulo). 676
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
“Ter-se-ia tão simplesmente um diploma legal sem qualquer pretensão de Có digo ou Consolidação - com a denominação ‘Leis Penais e Processuais Penais de Repressão a Infrações contra a Economia Popular’ ou outra mais singela, que desse abrangência de toda a legislação vigente, com certas alterações e com o acolher de novos tipos penais, em especial que resguardem penalmente o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor? Ter-se-ia uma ‘Consolidação de Leis Penais sobre Infrações contra a Economia Popular’ - por ter por objeto a ‘reunião de normas legais dispersas, com o fim de harmonizar e facilitar a sua execução’ (Dicionário jurídico brasileiro, Monteiro Lopes)? Ter-se-ia, ambiciosamente, um Código de Repressão a Infrações contra a Eco nomia Popular, pois conteria a ‘formação orgânica do Direito’ (como exigia Clóvis das codificações) afeto à defesa do Consumidor?”
E a percuciente sugestão, à unanimidade encampada pelos membros da Comissão Conjunta Ministério Público/Secretaria de Defesa do Consumidor de São Paulo, cindiu-se em duas etapas, a saber: Sugestão: - em Iaetapa - inserir no Código de Defesa do Consumidor tão só: a) tipos penais que resguardem especificamente o cumprimento desse Código; b) normas processuais que reforcem o combate a essas infrações (especialmente, com princípios de responsabilidade objetiva e de imediata interdição do estabelecimento) quando o prosseguir de suas atividades criminosas se evidenciar como altamente danoso à economia popular. - em 2a etapa - elaboração de um diploma legal que abrangesse de forma orgânica e harmônica as inúmeras infrações penais nessa área (com aprimoramento da descrição penal) e o criar de novos tipos penais que se fazem necessários (com logicidade na gradação da pena), e com especial cuidado da parte processual, a fim de serem sanadas omissões, incongruências e constantes dúvidas. Como já salientado, e à medida que se for comentando os tipos cria dos pelo Código de Defesa do Consumidor se verá, foi precisamente esse critério que norteou seus redatores. Ainda à guisa de histórico da parte penal do Código sob análise, assinale-se que os membros da sobredita comissão chegaram a ensaiar uma das alternativas já mencionadas, ou seja, o transplante puro e simples dos tipos penais já constantes da Lei n° 1.521, de 26.12.51, que trata dos crimes contra a economia popular em geral, mas já modernizados diante 677
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
da experiência de vários “planos de estabilização econômica” (i.e.y “controle de preços”, “congelamento” e “tabelamento”, produtos “maquiados”, fórmula CDL, ou seja, “custo, despesa e lucro” etc.). O resultado foi desastroso, já que também tiveram de ser incorporados ao texto do título especial então experimentado outros tipos penais con siderados igualmente próprios ao tema “economia popular”, bem como as infrações contidas na Lei Delegada n° 4, de 1962, tudo fazendo com que o mencionado título ficasse totalmente desproporcional com relação aos demais dispositivos do Código, com poucos artigos, mas com infindáveis parágrafos, incisos, alíneas etc. Por outro lado, chegou-se à conclusão de que tal opção contrariava o espírito que inspirara a estrutura do próprio Código, no sentido de estabe lecer uma filosofia ou diretriz de defesa e proteção ao consumidor, pinçando os seus aspectos mais relevantes e tratando-os de forma harmônica. No que diz respeito à mencionada “2a etapa” de elaboração de normas penais de proteção ou defesa do consumidor, assinale-se que, mediante a Mensagem Presidencial n° 179/89, foi encaminhado projeto de lei, que tomou o n° 2.176, ainda de 1989, por via do qual se tentava modernizar os sobreditos tipos constantes da antiga Lei n° 1.521/51. Aludido projeto, porém, foi sumariamente rejeitado pela Câmara dos Deputados e, ao ensejo do início do novo governo federal, se tentou reavivá-lo com algumas modificações mediante a Medida Provisória n° 153, de 15.3.90, tornada sem efeito, porém, por outra subsequente, de n° 175. Agora, finalmente, referidos dispositivos acabam de ser contemplados na Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que “define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências”, merecendo especial atenção o art 7o, que estabeleceu crimes “contra as relações de consumo”, obedecendo-se à nomenclatura do Código de Defesa do Consumidor. Em prol da tese de etapas na consolidação das normas de caráter penal-econômico, assinalamos que, pelas Resoluções SJDC-10, de 3.3.93, e SJDC-37, de 21.9.93, a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo constitui comissão de juristas com vistas àquele estudo, e especialmente com o fito de colaborar com a “Comissão de Juristas” do Ministério da Justiça, encarregada de elaborar um “Anteprojeto de Código Penal”, parte especial, presidida pelo prof. Evandro Lins e Silva. A comissão paulista chegou a apresentar seu trabalho que, em última análise, consolidou os delitos esparsos pelas leis já aqui discutidas, optou pelos tipos abertos e de perigo, independentemente de qualquer lesão, levando-se em vista a sociedade como potencial vítima das práticas reprováveis, entendendo-se que o simples fato de atentarem contra as relações de consumo torna-os “delito de lesão” pelo bem jurídico relevante lesado. Foram propostos, por 678
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
exemplo, os seguintes delitos: de oferta ou publicidade enganosa, oferta ou publicidade abusiva, omissão de organização de dados informativos da pu blicidade, omissão de recomendações, dizeres ou sinais sobre nocividade ou periculosidade, omissão de comunicação, serviço perigoso ou nocivo, venda casada, infringência a preço tabelado ou controlado, não afixação de preços, reajustamento ou indexação irregular, ágio, favorecimento ou preferência irregular, oferta ou fornecimento de produto ou serviço em desacordo com as normas regulamentares, produtos fraudulentamente misturados, adulte ração de produto, fraude no preço, fraude no peso, medida ou quantidade, alteração de prazo de validade, produto ou serviço sem registro ou autori zação, elevação ilegal de preço na venda a prazo, sonegação de produto ou matéria-prima, recusa de prestação de serviço, produto impróprio, reaproveitamento de produto descartável, sonegação de informações e impedimento de exames, falsidade intelectual, emprego de peças ou componentes usados, cobrança ilegal de dívida, impedimento indevido de acesso a informações, omissão de correção de informações, especulações e processos fraudulentos, omissão indevida de entrega de produto ou realização de serviço, além de usuras pecuniária e real Apesar de tudo isso, porém, constatamos que do anteprojeto da parte especial do Código Penal, que acabou encaminhado ao Congresso Nacional como projeto efetivo e publicado no Diário Oficial da União, de 25 de março de 1998, não constou sequer menção àquele trabalho de consolidação de delitos contra as relações de consumo. Ou seja, permanece a diversidade de diplomas legais contendo delitos que interessam, direta e indiretamente, às relações de consumo, sem consolidação. 5. Da legislação com parada
À exceção da chamada Lei sobre a Proteção do Consumidor da provín cia canadense de Quebec, de 23.1.85, em que se observa séria preocupação no sentido de punir-se também criminalmente comportamentos formais em desobediência às regras fixadas em seus cânones administrativos, como, por exemplo, o simples fato de deixarem os fornecedores de produtos e serviços de prestar às autoridades competentes as informações necessárias sobre aqueles - e são exatamente nesse sentido os arts. 63 e 64 do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor -, outras legislações consultadas (por exemplo, da Venezuela, México, Espanha etc.) apenas tratam de infrações de natureza administrativa, conquanto severamente sancionadas sobretudo pelo pagamento de pesadas multas, vedação de atividade e outras. Assim, o art. 277 do mencionado diploma legal canadense dispõe que é passível de pena todo aquele que: “a) contrarie a presente lei ou seu regulamento; b) preste informação falsa a ministro, presidente ou a 679
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
qualquer pessoa habilitada a proceder a investigações em decorrência da presente lei;9 c) obste a aplicação da presente lei ou de seu regulamento; d) não se adéque ao compromisso assumido em decorrência do disposto no art. 134;10 e) não cumpra a decisão do presidente; f) não se submeta a uma ordem expedida por tribunal em decorrência do art. 288,11 se omita ou recuse conformar seu comportamento a essa ordem”. O art. 278 ainda da lei do consumidor de Quebec cuida das penas e define responsabilidade das empresas, nos seguintes termos: Penas: “Art. 278. Qualquer pessoa, ainda que não ligada a empresa consi derada culpada de uma infração que constitua uma prática proibida ou que desrespeite as alíneas b, c, d, e ou / do art. 277 é passível de: a) por uma primeira infração, uma multa de 200 a 5.000 dólares; b) por uma infração subsequente a um mesmo dispositivo da presente lei ou seu regulamento, cometida no período de dois anos, multa de 400 a 10.000 dólares, detenção de até seis meses, ou alternativamente multa ou detenção. Empresas: Uma empresa considerada culpada por infração prevista nas alíneas anteriores é passível de multa de no máximo dez vezes o valor das previstas nas mencionadas alíneas.”
No art. 279 do diploma legal alienígena ora discutido se encontra ainda a coibição de comportamentos reputados lesivos aos interesses dos consumidores, mas constantes de outras leis que deles se ocupam, e isto tanto no que diz respeito a pessoas ligadas a empresas como a estas, o que reforça seu caráter de norma penal de mera conduta e assecuratória de todo o feixe de direitos e interesses tutelados. Já o art. 280 da lei canadense de proteção ao consumidor trata das circunstâncias que o juiz ou tribunal devem considerar na aplicação da pena em concreto, tais como “o prejuízo econômico causado pela infração ou lesão a um consumidor isolado ou a vários consumidores”, “os lucros e vantagens que a pessoa que cometeu tais infrações ou lesões haja expe rimentado”. 9 O “presidente”, no caso, é do “escritório de proteção ao consumidor”, incumbido da implementação da lei especial de proteção ao consumidor. 10 “Art. 134. Sempre que o presidente entender que uma pessoa infringiu ou ainda infringe uma lei ou regulamento cuja aplicação incumbe ao escritório, ele pode aceitar dela compromisso voluntário de respeitar a lei ou regulamento em questão”. 11 “Art. 288. O tribunal que condenar uma pessoa acusada de uma das infrações previstas no art. 278 poderá, além disso, a pedido da acusação, ordenar que o infrator divulgue, pelos meios que o tribunal entenda adequados a assegurar a comunicação rápida e apropriada aos consumidores, as conclusões de julgamento efetivado contra ela bem como as reprimendas, as explicações, as advertências e as outras restrições que o tribunal entenda necessárias para restabelecer os fatos relativos ao bem ou a um serviço ou publicidade feita a propósito de um bem ou de um serviço que possa induzir em erro os consumidores”. 680
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
O art. 281 ainda prevê o sequestro de bens do infrator de molde a ga rantir, no cível, a indenização dos prejuízos sofridos pelos consumidores. Já o art. 282 fala da responsabilidade dos administradores de empre sas por atos atentatórios aos interesses dos consumidores, quer no âmbito administrativo, quer no civil e no penal. Interessante se nos afigura ainda o enfoque dado à “coautoria” pelo art. 282 da lei de proteção ao consumidor de Quebec, a saber: “Uma pessoa que, por ação ou omissão, contribui para que outrem cometa uma infração à presente lei ou regulamento, ou que aconselhe, encoraje ou induza outrem a cometer uma infração, incide nas penas a ela cominadas.” O art. 284 trata da legitimidade para ação penal competente, de alça da exclusiva do órgão do Ministério Público, prevendo-se ainda o direito de representação àquele mesmo órgão da parte de quem tenha legítimo interesse. O art. 285 cuida da presunção de titularidade do pleito judicial no caso de indenizações, e o art. 286, da reincidência. 5.1. A lei mexicana e infrações contra o consum idor
Em seus arts. 86 a 90 cuida a lei mexicana de proteção ao consumidor de infrações de caráter administrativo, que diríamos quase de caráter criminal, apenas não o sendo stricto sensu por não preverem penas corporais. Sempre, entretanto, a exemplo do que ocorre com a lei canadense, a tipificação das condutas faz expressa remissão a comportamentos pre vistos no corpo da lei, ainda e sempre com o intuito de sancioná-los e dar-lhes eficácia. Assim, por exemplo, os arts. 52 a 54 da lei mexicana de proteção ao consumidor determinam que “todo fornecedor de bens e serviços ficará obri gado a respeitar os termos, prazos, datas, condições, modalidades, reservas e circunstâncias conforme as quais se houver oferecido ou se houver estipulado com o consumidor a entrega do bem ou a prestação do serviço” (art. 52). Ou ainda, nos termos do art 53, prevê-se que “a violação reiterada ou contumaz ao disposto no artigo anterior, tratando-se de serviços públicos de concessão federal, turísticos ou de transporte, viagem, hotéis, restaurantes ou outros serviços análogos, poderá ser sancionada pela autoridade competente, independente da multa que corresponder, com o cancelamento ou revogação da concessão, licença, permissão ou autorização respectivos, e, se for o caso, com o fechamento temporário ou definitivo do estabelecimento”. E o art. 54 estabelece que “fica estritamente proibido que, em qualquer estabelecimento comercial ou de serviços, se exerçam contra o público 681
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
ações diretas que atentem contra sua liberdade, segurança, e integridade pessoal, bem como qualquer gênero de inquisições e registros pessoais ou em geral atos que ofendam sua dignidade ou pudor”. Com extrema minúcia, prescreve ainda o mencionado art. 54 da lei mexicana de proteção ao consumidor que, “caso o consumidor seja surpre endido no flagrante cometimento de um delito, os gerentes, funcionários ou empregados do estabelecimento se limitarão, sob sua responsabilidade, a pôr sem demora o suposto infrator à disposição das autoridades compe tentes”, prevendo-se ainda que “a infração a esta disposição será sancionada conforme o previsto no artigo anterior, independentemente da reparação do dano moral e da indenização por perdas e danos ocasionados no caso de não se comprovar o delito imputado”. 5.2. A lei venezuelana de proteção ao consum idor e infrações
A lei venezuelana de proteção ao consumidor cuida em seus arts. 33 a 42 de infrações administrativas, reportando-se, quanto à sua caracterização, aos arts. 7o, 8o, 9o, 10 e 21, infrações essas punidas com multas variáveis, sem prejuízo de indenização civil tarifada em “tres veces el monto de los danõs y perjuicios sufridos\ E o mencionado art. 7o diz que “para efeitos” (desta lei) “são proibidas as seguintes condutas ou práticas enganosas ou injustas nas ofertas de bens e serviços: 1) oferecer produtos e serviços mediante promoção publicitária de qualquer tipo e por qualquer meio atribuindo-lhes características, qua lidades, propriedades, resultados e certificados diversos dos que realmente têm e podem ser comprovados de maneira objetiva; 2) anunciar ofertas de produtos e serviços sem a possibilidade de atender a uma demanda razoável, a menos que o anúncio inclua uma limitação; 3) anunciar ou vender produtos como novos, quando os mesmos hajam sido usados ou recondicionados; 4) fazer declarações falsas concernentes à existência de baixas nos preços dos produtos e serviços; 5) fazer promoção de produtos e serviços com base em declarações falsas relativas a desvantagens e riscos de qualquer outro produto ou serviços dos concorrentes; 6) incluir, em qualquer de suas condições, a promessa de presentes, prêmios, amostras grátis ou outras coisas gratuitas que possam induzir o público à compra de produtos e serviços; 7) oferecer descontos nos preços dos artigos sem colocá-los em seção especial separada dos outros que são vendidos pelos preços correntes; 8) oferecer descontos sem indicar o preço anterior à oferta”. O art. 8o ainda da lei venezuelana trata de exigências feitas com rela ção aos produtos de primeira necessidade no que tange à sua rotulagem, principalmente quando pré-embalados, ou seja, no sentido de que devam conter o seu peso líquido ou medida, o preço máximo de venda ao con 682
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
sumidor final, assinalando ainda, como parâmetro para sua fixação, “os rendimentos do capital investido, os custos, os riscos, e as necessidades de reposição do estoque, sem prejuízo das revisões que possa efetuar o executivo nacional”. O art. 9o trata das etiquetas de preços máximos para os produtos e gêneros essenciais, bem como da afixação de listas dos mesmos preços nos estabelecimentos comerciais. O art. 10, a seu turno, fala da exigência de que “as instruções concer nentes ao uso, funcionamento, utilidade, bem como a garantia oferecida com o produto ou serviço, se for o caso, deverão ser redigidas ou traduzidas no idioma castelhano”. E, finalmente, o art. 21 trata do uso indevido de marca de qualidade, ou seja, da sigla NORVEN, definida pelo art. 20 como o símbolo distintivo outorgado pelo Ministério da Economia da Venezuela, e cujo logotipo e demais especificações indicam ser o produto que os ostenta fabricado de acordo com as normas nacionais técnicas e sob especificações de controle de qualidade aprovadas pelo mesmo Ministério.12 5.3. Infrações e sanções na lei espanhola de proteção ao consum idor
Referida lei segue os mesmos estratagemas dos diplomas latino-ameri canos de proteção ao consumidor, fazendo-o de forma exaustiva nos seus arts. 32 a 38, mas sempre no âmbito administrativo. Merecem destaque, inicialmente, os itens 1 e 2 do art. 32, segundo os quais “as infrações em matéria de consumo serão objeto das sanções admi nistrativas correspondentes, prévia instrução do oportuno procedimento, sem prejuízo das responsabilidades civis, ou de outra ordem que possam ocorrer”, e “a instrução da causa penal perante os tribunais de justiça suspenderá a tramitação do expediente administrativo sancionador que houver sido instaurado pelos mesmos motivos e, no caso, a eficácia dos atos administrativos de imposição de sanção”. Conclui ainda o item 2 do citado art. 32 que “as medidas administra tivas que tiverem sido adotadas para salvaguardar a saúde e segurança das pessoas serão mantidas desde que as autoridades judiciárias se pronunciem sobre as mesmas”. 12 No Brasil, tais normas corresponderiam às estabelecidas pelo CONMETRO/INMETRO e órgãos por esses credenciados, como a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), por exemplo, ou mesmo “selos de qualidade” conferidos por entidades privadas, como o “selo ABIC (Associação Brasileira das Indústrias de Moagem e Torrcfação do Café)”, lojas filiadas ao clube de diretores lojistas demonstrando preocupação com o bom atendimento de consumidores etc. 683
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
O art. 33 prescreve que não haverá imposição dúplice pelos mesmos fatos apurados ou em função dos mesmos interesses públicos protegidos, “sem prejuízo”, porém, “da exigência das demais penalidades que decorram de outros fatos ou infrações concorrentes”. O art. 34 da lei espanhola de proteção ao consumidor define as infrações em matéria de defesa dos consumidores e usuários merecendo destaque e citação na íntegra: “Art. 34. Consideram-se infrações em matéria de defesa dos consumidores e usuários: 1) O descumprimento das exigências, condições, obrigações ou proibições de natureza sanitária. 2) As ações ou omissões que produzam riscos ou danos efetivos para a saúde dos consumidores ou usuários, seja de forma consciente ou deliberada, seja por abandono da diligência ou precauções exigíveis na atividade, serviço ou instalação de que se trate. 3) O descumprimento ou transgressão dos requisitos prévios que concretamente formulem as autoridades sanitárias para situações específicas, com o objetivo de evitar contaminações nocivas de outro tipo e de que possam resultar grave perigo para a saúde pública. 4) A alteração, adulteração ou fraude a bens e serviços suscetíveis de consumo por adição ou subtração de qualquer substância ou elemento, alteração de sua composição ou qualidade, descumprimento das condições que corres pondam à sua natureza ou à garantia, ou reparação de bens duráveis, e, em geral, qualquer situação que induza a engano ou confusão ou que impeça de reconhecer a verdadeira natureza do produto ou serviço. 5) O descumprimento das normas reguladoras de preços, a imposição injusti ficada das condições sobre prestações não solicitadas ou quantidades mínimas ou qualquer outro tipo de intervenção ou atuação ilícita que suponha um aumento dos preços ou margens comerciais. 6) O descumprimento das normas relativas ao registro, normalização ou tipifica ção, etiquetagem, embalagem, envasamento e publicidade de bens e serviços. 7) O descumprimento das disposições sobre a segurança enquanto afetem ou possam oferecer um risco ao usuário ou consumidor. 8) A obstrução ou negativa de fornecer dados ou de facilitar as funções de informação, vigilância ou inspeção. 9) Em geral, o descumprimento dos requisitos, obrigações ou proibições estabelecidas nesta lei e disposições dela decorrentes.”
O art. 35 fala da graduação das infraçõest ou seja, elas podem ser “leves, graves e muito graves”, atendidos nessa graduação os critérios de risco para a saúde, posição no mercado do infrator, quantia ilicitamente por ele auferida, intensidade do elemento subjetivo, coletividade atingida, reincidência etc. 684
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
Já o art. 36 trata das multas impostas, de acordo com sua gravidade: “infrações leves, até 500.000 pesetas; infrações graves, até 2.500.000 pesetas, podendo-se reduzir dita quantia até alcançar o quíntuplo do valor dos pro dutos e serviços objeto da infração; infrações muito graves, até 100.000.000 pesetas, podendo reduzir-se dita quantia até alcançar o quíntuplo do valor dos produtos e serviços objeto da infração”. Importante salientar-se ainda neste passo que, consoante o disposto no item 2 do mesmo art. 36 do Código Espanhol de Defesa do Consumidor, “no caso de infrações muito graves o Conselho de Ministros poderá decidir pelo fechamento temporário do estabelecimento; instalação ou serviço por um prazo máximo de 5 anos”. O item 3 ainda do comentado art. 36 trata da atualização das multas de acordo com o aumento dos preços das mercadorias objeto das infrações em pauta. O art. 37 diz ainda que o fechamento e encerramento de atividades do fornecedor infrator não terão caráter de sanção, se as mesmas não tiverem autorização ou registros sanitários prévios, e que referidas medidas de po lícia administrativa poderão ainda ter o caráter preventivo e temporário, desde que se sanem as irregularidades constatadas sobretudo em matéria de saúde, higiene e segurança. Por fim, o art. 38 da lei espanhola de proteção e defesa do consumidor prevê a decretação pela autoridade administrativa competente de outras sanções: “A autoridade a que competir resolver o expediente poderá impor, como sanção acessória, a inutilização da mercadoria adulterada, deteriora da, falsificada, fraudada, não identificada ou que possa acarretar risco ao consumidor”, afirmando ainda que “os gastos com transporte, distribuição, destruição da mercadoria mencionada no parágrafo anterior, serão por conta do infrator”. 5.4. O novo C ódigo Penal espanhol
Ainda na Espanha, e mais recentemente, sobreveio seu novo Código Penal, consubstanciado na Lei Orgânica n° 10, de 23.11.95, que, sob o título “Delitos contra o Patrimônio e contra a Ordem Socioeconômica”, conglobou, em seu Capítulo XI e em quatro seções, os “Delitos Relativos à Propriedade Intelectual”, os “Relativos à Propriedade Industrial”, os “Re lativos ao Mercado e Consumidores” e, finalmente, “Disposições Comuns às Seções Anteriores”. Especificamente na 3a seção, cuidou o novo Código Penal espanhol de definir os delitos contra o mercado e as relações de consumo, com destaque para esses últimos, de especial interesse nesses comentários, a saber: 685
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
• Art. 281. 1 - “Aquele que sonegue do mercado matérias-primas ou produtos de primeira necessidade com a intenção de desabastecer um de seus setores, forçar uma alteração de preços, ou de prejudicar gravemente os consumidores, será punido com pena de prisão de um a cinco anos mais multa de doze a vinte e quatro meses. 2 - Impor-se-á pena agravada se o fato se realiza em situações de grave necessidade ou catástrofes.” • Art. 282. “Serão punidos com pena de prisão de seis meses a um ano ou multa de doze a dezoito meses os fabricantes ou comerciantes que, em suas ofertas ou publicidade de produtos ou serviços, façam alegações falsas ou manifestem características incertas sobre os mesmos, de tal forma que possam causar prejuízo grave ou manifesto aos consumidores, sem prejuízo da pena que corresponda à comissão de outros delitos.” • Art. 283. “Serão impostas penas de prisão de seis meses a um ano mais multa de seis a dezoito meses àqueles que, em prejuízo do consumidor, cobrem valores superiores por produtos e serviços cujo custo ou preço sejam aferidos por meio de aparelhos automáticos, mediante sua alteração ou manipulação.” • Art. 284. “Será imposta pena de prisão de seis meses a dois anos, ou multa de doze a vinte e quatro meses, àqueles que, difundindo notícias falsas, em pregando violência, ameaça ou erro, ou utilizando informação privilegiada, tentem alterar os preços que resultariam da livre concorrência de produtos, mercadorias, títulos de valores, serviços ou quaisquer outros bens móveis ou imóveis que sejam objeto de contratação, sem prejuízo da pena que possa corresponder a outros delitos cometidos.” • Art. 285. “Quem de forma direta ou por interposta pessoa usar de alguma informação relevante para a quotação de qualquer classe de valores ou ins trumentos negociados em algum mercado organizado, oficial ou reconhecido, à qual tenha tido acesso reservado em razão do exercício de sua atividade profissional ou empresarial, ou a subministrar obtendo para si ou para um terceiro um benefício econômico superior a 600.000 euros, ou causando um prejuízo de idêntica quantidade, será punido com pena de prisão de um a quatro anos, multa equivalente ao triplo do benefício obtido ou favorecido e inabilitação especial para o exercício da profissão ou atividade de dois a cinco anos. Aplicar-se-á a pena de prisão de quatro a seis anos, a multa equivalente ao triplo do benefício obtido e inabilitação especial para o exercício da pro fissão ou atividade de dois a cinco anos, quando para as condutas descritas no dispositivo anterior concorra alguma das seguintes circunstâncias: 1 - Que os sujeitos se dediquem de forma habitual a tais práticas abusivas. 2 - Que o benefício obtido seja de notória importância. 3 - Que cause graves danos aos interesses gerais.” • Art. 286. “1 - Será punido com as penas de prisão de seis meses a dois anos e multa de seis a 24 meses aquele que, sem consentimento do prestador de serviços e com fins comerciais, facilite o acesso inteligível a um serviço de radiodifusão sonora ou televisiva, a serviços interativos prestados a distância por via eletrônica, ou subministre o acesso condicional aos mesmos consi derado como serviço independente, mediante: 1. A fabricação, importação, distribuição, colocação à disposição por via eletrônica, venda, aluguel, ou 686
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
posse de qualquer equipamento ou programa informático, não autorizado em outro Estado-membro da União Europeia, elaborado ou adaptado para tornar possível esse acesso. 2. A instalação, manutenção ou substituição dos equipamentos ou programas informáticos mencionados no parágrafo. 3. Com idêntica pena será punido quem, com o propósito de lucro, altere ou duplique o número identificador de equipamentos de telecomunicações, ou comercialize equipamentos que hajam sofrido alteração fraudulenta. 4. A quem, sem propó sito de lucro, facilitar a terceiros o acesso descrito no inciso 1, ou por meio de uma comunicação pública, comercial ou não, subministre informação a uma pluralidade de pessoas sobre o modo de conseguir o acesso não autorizado a um serviço ou ao uso de um dispositivo ou programa, dos mencionados nesse mesmo dispositivo 1, incitando lograr obtê-los, será imposta a pena de multa nele prevista. 5. A quem utilize os equipamentos ou programas que permitam o acesso não autorizado a serviços de acesso condicional a equipamentos de telecomunicação, se lhe imporá a pena prevista no artigo 255 deste Código, independentemente da quantia da defraudação.” Quanto às “Disposições Comuns às Seções Anteriores”, conforme assinalado, dispõem os arts. 287 e 288 do Código Penal da Espanha o seguinte: • Art. 287. 1 - “Para a persecução dos delitos previstos nos artigos anteriores do presente capítulo será necessário representação da pessoa prejudicada ou de seus representantes legais. Quando elafor menor de idade, incapaz ou carente, também poderá representá-la o Ministério Público. 2 - Não será necessária a representação exigida no inciso anterior quando a comissão do delito afetar os interesses gerais ou a uma pluralidade de pessoas.” • Art. 288. “Nas hipóteses previstas nos artigos anteriores determinar-se-á a publicação da sentença nos jornais oficiais e, se o solicitar o prejudicado, o juiz ou tribunal poderá determinar sua reprodução total ou parcial em qual quer outro meio informativo, sob encargo do condenado. Além disso, o juiz ou tribunal, à vista das circunstâncias particulares do caso, poderá adotar as medidas previstas no art. 129 do presente Código.” Importante salientar que o art. 129 cuida das penas acessórias, assim discriminadas: • Art. 129. 1 - “O juiz ou tribunal, de acordo com os pressupostos previstos neste Código, e sem prejuízo do estabelecido no artigo 31 do mesmo, com audiência prévia do Ministério Público e das partes ou de seus representantes legais, poderá impor, motivadamente, as seguintes medidas: a) Fechamento da empresa, suas instalações ou estabelecimentos, em caráter temporário ou definitivo. O fechamento temporário não poderá ser superior a cinco anos. b) A dissolução da sociedade, associação ou fundação, c) Suspensão das ativi dades da sociedade, empresa, fundação ou associação por um prazo que não poderá exceder cinco anos. d) A proibição de realizar no futuro atividades, 687
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
operações mercantis ou negócios nos setores em que o delito tenha sido co metido, favorecido ou simulado. Essa proibição poderá ter caráter temporário ou definitivo. Se tiver caráter temporário, o prazo de proibição não poderá exceder cinco anos. e) A intervenção na empresa para salvaguardar os direitos dos trabalhadores ou de seus credores pelo tempo que for necessário e sem que exceda o prazo máximo de cinco anos. 2 - 0 fechamento temporário previsto na alínea a e a suspensão mencionada na alínea c do inciso anterior poderão ser determinados pelo juiz instrutor também durante a tramitação da causa. 3 - As penas acessórias previstas neste artigo destinar-se-ão a prevenir a continuidade da atividade delitiva e seus efeitos”
Observa-se claramente, por conseguinte, que a diretriz, no caso, tem em conta a consolidação de preceitos penais econômicos no próprio corpo da legislação penal geral, e não específica, como é o caso brasileiro. Essa diretriz, com efeito, também foi traçada pela comissão elaboradora do anteprojeto, como já assinalado no item 4 destes comentários, para um segundo momento. E, com efeito, constituída comissão específica para a redação da nova parte especial do Código Penal no âmbito do Ministério da Justiça, e realizados seus trabalhos, não se sabe até o momento que direção será tomada. 6. Conclusões
Embora mereçam tais aspectos a devida atenção e consideração, ou seja, a ênfase dada pela legislação de outros países quanto a considerar-se mais o aspecto administrativo das infrações do que o penal, é de convir-se que, em nosso País, havendo incontáveis órgãos federais, estaduais e municipais que disciplinam as relações de consumo, sobretudo agora em que se dará ainda maior regulamentação nos Municípios e Estados à vista da competência concorrente fixada pelo inc. V do art. 5o da Constituição da República, tanto assim que o próprio Código de Defesa do Consumidor contemplou capítulo especial para as sanções administrativas (vide arts. 55 e segs. do mesmo Código), seria extremamente difícil reunir-se na lei ora tornada realidade todas as infrações possíveis. A não ser que se transformasse em infrações o descumprimento puro e simples dos dispositivos da mesma lei de proteção e defesa do consu midor, erigindo-se em crime igualmente as infrações ainda que de menor gravidade, e com relação às quais a simples advertência administrativa já seria suficiente, por exemplo. Daí por que a preocupação ao capitularem-se alguns delitos se deveu, sinteticamente, aos seguintes parâmetros fixados e já tratados: 688
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
Io) Especialização, ou seja, a tipificação de condutas que dizem respeito à defesa do consumidor dentro das obrigações fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2o) Harmonização delas com as normas penais já existentes. 3o) Punição de comportamentos considerados de tal forma graves que seriam insuficientes meras sanções administrativas ou indenizações civis. 4o) Prevenção de novos delitos contra as “relações de consumo” (punitur ut ne pecetur). 5o) Efetividade das normas de natureza civil e administrativa do próprio Código, bem como de outras normas de proteção/defesa indireta e direta das “relações de consumo” 7. Críticas à concepção penal do C ódigo
Não foram poucas nem suaves as críticas que se fizeram em torno dos aspectos penais do novo Código de Defesa do Consumidor, já a partir da elaboração de seu anteprojeto. E elas já se iniciavam pela simples oposição a que a lei dessa natureza contivesse dispositivos de caráter penal, tendo-se mesmo chegado a dizer que o seu texto “instala o regime de terror, já que prevê a prisão dos empresários responsabilizados por fraude na venda de produtos”,13 ou então críticas à cominação de penas detentivas. Tenha-se em conta, primeiramente, que em qualquer legislação pe nal do mundo é previsto ainda o encarceramento como principal forma de sanção, embora se concorde que a tendência moderna enverede pela adoção de sanções de natureza pecuniária ou então restritivas de direitos, como, aliás, o demonstra a parte geral do Código Penal brasileiro (Lei n° 7.209, de 1984), circunstância tal que não escapou da análise dos autores do criticado anteprojeto. E, no que tange à crítica primeiramente feita, seja-nos permitido adu zir que as penas sugeridas para os comportamentos delituosos previstos são efetivamente para os “responsabilizados por fraude na venda de pro dutos ou prestação de serviços”, sim, e não para os fornecedores de bens e serviços que agem corretamente, assim como também são passíveis de pena corporal rigorosa os autores de crimes de homicídio, roubo, estupro, sequestro etc. A verdade é que quando se trata, por exemplo, de se sugerir penas cada vez mais graves para o autor de simples furto, ou então um dos delitos Manifestação do Sr. Mário Amato, presidente da FIESP, in Folha de Sâo Paulo, edição de 8.12.88, p. B-3. 689
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
retromencionados, e outros ainda mais gravosos ao patrimônio individual ou incolumidade das pessoas - e não é que foi até editada lei de punições exatamente nesse sentido contra os chamados “crimes hediondos”? todos são favoráveis, chegando-se mesmo a sugerir a pena capital.14 Entretanto, quando se trata de, ainda por exemplo, punir-se aquele que defrauda substância que deve entregar ao consumidor, ou então o engana mediante meios publicitários e de marketing mendazes ou abusivos, ou, mais grave ainda, coloca no mercado produtos ou serviços que comprometam a saúde, a vida e a segurança de um número indeterminado de pessoas, desde logo sobrevêm duras críticas, pretendendo tratar a matéria como simplesmente econômica e resultante da própria atividade empresarial. Melhor esclarecendo: trata-se da questão como se bastasse uma razoável indenização, tal qual num balcão de um estabelecimento comercial, com o que se resolveria o conflito surgido, o que é certamente inconcebível, à vista, como já visto, do consumo em massa em que o consumidor é, certamente - e isso ninguém poderá em sã consciência negar -, a parte mais fraca das relações de consumo, não tendo qualquer meio de por si só intervir em tal processo inexorável da produção em massa de produtos e serviços. E, nesse aspecto, pensamos ser gritante e inconteste o exemplo da talidomida, que produziu legiões de deficientes físicos, ou então da não menos sinistra substância medicinal chamada clioquinol, que produziu milhares de paralíticos e deficientes visuais, principalmente no Japão. Não se pode, por outro lado, olvidar que um determinado fato pode constituir um ilícito administrativo, penal e civil ao mesmo tempo, deman dando tratamento nas três órbitas de atuação, como já retroasseverado. Ocorre-nos, como exemplo, a “questão do álcool adulterado”, que suscitou muita celeuma por ocasião do chamado Plano Cruzado I, uma vez que, pressionados pelo controle de preços, sobretudo mediante o seu “congelamento” nos praticados em 27.2.86, diversos engarrafadores e pro dutores de álcool para uso doméstico passaram a “batizá-lo” com água, alcançando, por vezes, mais da metade de água.15 Administrativamente, o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) procedia à autuação dos infratores à medida que se procedia à fiscalização nos su permercados e outros postos de venda. Tal providência, contudo, não era suficiente, uma vez que os fornecedores preferiam pagar a multa administrativamente fixada e continuar a fraude, razão pela qual os promotores de justiça de proteção ao consumidor de São Paulo passaram a instaurar inquéritos civis com base no que dispõe a 14 Cf. Lei n° 8.072, de 25.7.90. 15 “Curadoria de proteção ao consumidor”, Cadernos informativos, São Paulo, Edições APMP, ps. 83 a 93, do autor. 690
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
Lei n° 7.347/85,16 que é medida investigatória para a propositura da ação civil pública prevista no referido diploma legal com sua efetiva propositura, hipótese em que, mediante sentenças (âmbito civil, pois), foram os mesmos infratores obrigados a se adequarem às normas técnicas de fabricação e engarrafamento de álcool, sob pena de pagamento de multa por frasco doravante apreendido fora das especificações. Referido comportamento igualmente incide, porém, no tipo previsto pelo inc. V do art. 2o da Lei n° 1.521/51, ou seja, é crime contra a econo mia popular. Daí por que nos pareceram igualmente improcedentes, na ocasião ainda dos estudos do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor,17 as críticas feitas pelos dirigentes da Federação do Comércio e Centro do Comércio do Estado de São Paulo, no sentido de que teriam constatado no mesmo impropriedade consistente na cominação de penas de natureza criminal, uma vez que, na confrontação com os Códigos Civil, Comercial e Penal, já seriam encontradas sanções até mesmo mais brandas para os casos de fraudes, tais como perdas e danos e outras sanções, sendo total mente desnecessário subverter o procedimento legal. Resta mais que evidente, por conseguinte, e esta foi sem dúvida a preocupação da comissão incumbida da elaboração do anteprojeto, que determinados comportamentos definidos nos capítulos relativos às normas de natureza civil e administrativa são de tal forma graves que não estariam a merecer tão somente sanções naqueles âmbitos, mas igualmente no de natureza penal, até mesmo para o próprio cumprimento daquelas outras normas, garantindo-se, outrossim, a incolumidade dos consumidores, a lisura das relações de consumo e o patrimônio daqueles. Estas foram, em síntese, as metas eleitas pelos redatores do anteproje to do Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito às infrações penais, a seguir comentadas. Art. 61 .
Constituem crimes contra as relações de consum o pre vistas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. [1]
Art. 62.
Vetado — Colocar no mercado, fornecer ou expor para fornecimento produtos ou serviços impróprios: Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
16 Cf. Manual de direitos do consumidor, 6* ed., Capítulo 8 (“Aspectos práticos da defesa e proteção jurídica do consumidor”). 17 Cf. Diário Oficial da União, de 4.1.89, ps. 241 c scgs., cm que todas as sugestões e críticas foram rigorosamente analisadas a respeito. 691
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
§ 1o Se o crime é culposo: Pena - Detenção de três meses a um ano ou multa. § 2o As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das corres pondentes à lesão corporal e à morte. [2]
Art. 63.
Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: [3] Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. § 1o Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. [3] § 2o Se o crime é culposo: [4] Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 64.
Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado: [5] Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade compe tente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo. [5]
Art. 65.
Executar serviço de alto grau de periculosidade, contra riando determinação de autoridade competente: [6] Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. [7]
COMENTÁRIOS
[1] A ADVERTÊNCIA DO ART.61 -Como já salientado noutro passo, não é porque está em vigor o Código de Defesa do Consumidor que estão prejudica dos outros diplomas legais que cuidam, ainda que de forma indireta, da temática “defesa ou proteção ao consumidor”, notadamente no aspecto criminal. Daí por que a advertência do art. 61, no sentido de que “constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes”. Referido artigo, com pequenas variações, constava da versão do an teprojeto do mesmo Código do Consumidor que a Comissão Especial do 692
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
Conselho Nacional de Defesa do Consumidor entendera por bem consignar antes mesmo das críticas feitas e analisadas, bem como da análise procedida pelo plenário do aludido órgão colegiado. Na ocasião, referida comissão acatara a ponderação e crítica então for mulada pelo prof. Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, a quem se encaminhara o texto para a devida apreciação. Ponderara então o eminente penalista e processualista penal que refe rido dispositivo seria absolutamente desnecessário e redundante, uma vez que o art. 12 do Código Penal já determina expressamente que “as regras deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso”. E realmente assiste razão à crítica então formulada, porquanto a preocu pação, embora didática, estaria a repetir regra da “especialidade” da norma penal não constante do corpo sistemático do Código Penal, prevenindo-se, com isso, eventuais “conflitos aparentes de normas”. Referido artigo vale, todavia, precisamente pelo seu caráter didático e de modo a advertir o intérprete sobretudo no sentido de que as infrações penais aqui previstas não excluem, e nem poderiam fazê-lo, outras que dizem respeito, ainda que de forma indireta, às “relações de consumo”. Tenha-se em conta, ainda nesse aspecto, que, à medida que os autores efetivos do Código foram avançando em seu trabalho exatamente no sentido de ouvir-se todos os interessados e deles colhendo valiosas sugestões, ilustres parlamentares de ambas as Casas do Congresso Nacional, abeberando-se naqueles estudos, foram modificando o texto aqui e acolá, embora sem tirar-lhe o espírito e a sistematização que, no nosso entender, é o ponto mais forte de todo o corpo do texto final aprovado. E, no caso específico do artigo ora analisado, verifica-se que se reavi vou o texto anterior. Com efeito, se analisado o texto então submetido ao plenário do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor que, como já salientado linhas atrás, foi publicado no Diário Oficial da União, em 4 de janeiro de 1989, para amplo conhecimento público e oferecimento ainda de novas sugestões, observa-se que nele não figurava, passando-se de imediato, após a rubrica “Das Infrações Penais”, à sua definição. De qualquer maneira, repita-se, vale pela advertência contida no co mentado artigo, até pelo seu caráter didático-pedagógico. E apenas à guisa de exemplificação, tenha-se em vista que também são “crimes contra as relações de consumo”1* os de apropriação indébita, no caso, por exemplo, de um empreiteiro de qualquer tipo de obra com 18 Cf., do autor deste segmento, Manual de direitos do consumidor, cit., Capítulo 5 (“Defesa do consu m idor nos âmbitos administrativo, civil e penal”), sobre os diversos delitos envolvidos e sobretudo 693
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
fornecimento pelo empreitador de material ou dinheiro para sua compra, que deles se apropria; ou então o estelionato, nas suas mais variadas for mas (no caso, por exemplo, de pequenos fantasmas cujo objetivo é captar “sinais” ou “entradas” para a execução de serviços, sem sua realização, porém); é ainda crime contra as sobreditas “relações de consumo” a fraude no comércio, capitulada pelo art. 175 do Código Penal (“gato por lebre”), a defraudação na entrega de coisa (ou seja, e por exemplo, o objeto que exposto à venda tem qualidades que chamam a atenção do consumidor em potencial, mas que é destituído das mesmas qualidades quando de sua entrega, frustrando-se as expectativas do consumidor adquirente). Especial relevo, sob a ótica de crimes indiretamente contra as relações de consumo, merecem alguns crimes contra a saúde pública, previstos pelo art 267 e seguintes do Código Penal,ly com especial destaque para: a infringência de determinações do Poder Público, destinadas a impedir a introdução sua aplicação prática, doutrina e jurisprudência colhida na experiência de oito anos de atuação na área específica. 19 Por força da Lei Federal n° 9.695, de 20.8.1998, os crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (i.e., art. 273, caput e §§ Io-A e 1°-B, com a redação dada pela Lei Federal n° 9.677, de 2.7.1998) foram definidos como crimes hediondos, conforme a Lei Federal n° 8.072, de 25.7.1990. Também a tipificação, cm parte, e as penas cominadas aos crimes contra a saúde pública ora tratados foram alteradas pela citada Lei Federal n° 9.677, de 2.7.1998, a saber: “Art. 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena - reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa. § Io Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. § 1°-A Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem cm depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado. Modalidade Cul posa. § 2o Se o crime é culposo: Pena - Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. § Io Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem cm depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. § I o-A Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso cm diagnóstico. § 1°-B Está sujeito às pe nas deste artigo quem pratica as ações previstas no § Io em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; V - de procedência ignorada; VI - adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente. Modalidade Culposa. § 2o Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Emprego de Processo Proibido ou de Substância Não Permitida. Art. 274. (...) Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Invólucro ou Recipiente com Falsa Indicação. Art. 275. Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra cm seu conteúdo ou que nele existe em quantidade m enor que a mencionada. Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Produto ou Substância nas Condições dos Dois Artigos Anteriores. Art. 276. (...) Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Substância Destinada à Falsificação. Art. 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Pena reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, c multa.” 694
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
ou propagação de doença contagiosa (art. 268 do CP, por exemplo: o abate clandestino de animais); a corrupção, adulteração, falsificação ou alteração de substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo (art. 272 - por exemplo, adição de sulfito de sódio na carne já em estado de decomposição para dar-lhe coloração avermelhada); ou então falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273 - é o caso, por exemplo, de remédios como o “Androcur”, destinado a tratamento de câncer de próstata, que foi falsificado por laboratório concorrente do fabri cante, tornando-o inócuo, ou, então, a redução do princípio químico ativo do medicamento tornando-o ineficaz etc.); o emprego de processo proibido ou de substância não permitida expressamente pelas autoridades sanitárias (art. 274 do CP - lembram-se aqui as questões envolvendo a adição de bromato de potássio na indústria de panificação, sendo certo que tal aditivo não é permitido em nosso País, sendo irrelevante perquirir-se sobre sua nocividade ou não, uma vez que não exigível tal elemento normativo para a caracterização do tipo penal em questão). Ainda dentro dos crimes contra a saúde pública apontaríamos para o tipo do art. 275 do Código Penal, que pune o fato da inculcação em invólucros ou recipientes de falsas indicações, lembrando-nos neste passo de caso apreciado pela Curadoria de Proteção ao Consumidor da Capital de São Paulo relativo ao medicamento Regaine, fabricado pela Rhodia, e que contém o insumo chamado minoxidil. Um outro laboratório de cosméticos passou a anunciar produto com nome semelhante (Regaine) somente à venda por telefone, e com minoxi dil, mas que em verdade não o continha, tendo-se a respeito instaurado inquérito civil e se requisitado a instauração de inquérito policial. O art. 278 ainda do Código Penal prevê o delito de fabricação, venda, exposição à venda, depósito para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo de coisas ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal E em nossa vida profissional tivemos dois casos graves a respeito: a produção de “thinner*9 com benzeno, substância comprovadamente cance rígena, e o envio de amostras grátis de poderoso agrotóxico pelo correio em campanha de marketing.20 Ainda com relação ao delito previsto pelo art. 278 da Código Penal, merecem destaque dois acórdãos, proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, ambos relativos à venda de defensivo agrícola altamente tóxico, popularmente 20 Cf. Revista dos Tribunais, n° 629, ps. 336 e segs. 695
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
conhecido por “chumbinho”, e preparado líquido com “monofluor acetato”, ambos utilizados como raticidas.21 21 É a seguinte a ementa do acórdão prolatado, por votação unânime, pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: “Crime contra a saúde pública c o meio ambien te. Agrotóxico. Autoria. Testemunhas de visu. Depoimentos seguros e coerentes. Sistema do livre convencimento. Negativa irrelevante. Comércio ilegal. Tcmik 150. Vulgo ‘chumbinho’. Utilização como raticida. Operação de compra c venda. Material altamente tóxico. Dcscumprimcnto das normas vigentes. Falta de registro oficial e de rotulagem. Embalagem inadequada. Armazenagem com risco à saúde hum ana e ao meio ambiente. Delito caracterizado. Pena privativa de liberdade superior a seis meses. Substituição pela de multa. Inadmissibilidade. Sursis. Prestação de serviços à comunidade. Condição legal obrigatória no primeiro ano do prazo” (Apelação Criminal n° 121/93, rei. Des. Enéas Machado Cotta, j. de 9.11.93, Diário de Justiça do Rio de Janeiro, 10.3.94, p. 192). Com relação ao Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, assim se manifestou sua 14a Câmara, por votação unânime: “A imutação é de que a ré, proprietária do estabelecimento comercial Giriboni, vendeu, bem como tinha em depósito para vender, o produto denominado ‘Era Rato’, destinado à utilização como veneno para rato e considerado nocivo à saúde. A apelada negou ter vendido o produto em questão, que confessou saber ser ‘altamente tóxico’, admitindo que comercializa, isto sim, o produto ‘Klcrat parafinado’, que também constitui um veneno para ratos e cuja venda é permitida. A sua negativa, porém, ficou inteiramente isolada nos autos. Dois gatos de estimação da testemunha Evangclina Fátima Vicgas Barros morreram envenenados, vindo ela a saber que isso aconteceu porque os animais tomaram o veneno ‘Era Rato’ (fabricado em forma de substância líquida), colocado por seu vizinho Vicente Ribeiro de Almeida cm barracão existente nos fundos de sua casa. Tendo Vicente lhe mostrado o vidro de veneno usado e lhe contado que o havia adquirido na ‘Comercial Giriboni’, Evangclina, que sabia ser esse produto proibido, solicitou ao seu genro Marcos Sordcra que fosse ao aludido estabelecimento comprar uma unidade. Marcos dirigiu-se à loja da apelada e ali comprou, sem nenhuma dificuldade, um frasco desse veneno, solicitando nota fiscal. A loja deu-lhe o documento pedido, só que, no campo destinado à discriminação das mercadorias, fez constar o produto ‘Klerat parafinado’, e não o produto ‘Era Rato’, que efetivamente foi vendido e entregue. A esse quadro fático, constituído de depoimentos emanados de testemunhas idôneas e isentas, acrescente-se que Otávio Vieira de Souza, agente de saneamento de vigilância municipal, em outra oportunidade, cm operação de fiscalização, encontrou no estabelecimento da apelada três frascos do veneno ‘Era Rato’. Um frasco desse produto (aquele comprado por Marcos) foi levado à delegacia e, encaminhado ao Instituto Médico Legal; as análises químicas e cromatográficas forneceram resultado positivo para monofluoracctato, que é um rodcnticida. Posteriormente, em laudo complementar, os peritos esclareceram que ‘o monofluoracctato é um rodcnticida extremamente tóxico a todos os mamíferos, incluindo o homem. A dose letal para o homem, extrapolada de estudos em animais de experimentação, é de aproximadamente 5mg/kg de peso corpóreo. O fluoracctato age inibindo reações de Ciclo de Krebs, que envolve uma série de reações vitais para o organismo. Os sintomas da intoxicação se relacionam principalmente àqueles relacionados ao sistema nervoso central e cardiovascular? A sentença de primeiro grau, no caso, havia absolvido a ré, porque, embora demonstrados os fatos rctrossumariados, não configurariam o delito cm pauta, uma vez que o produto não seria destinado ao consumo humano. E, em segundo lugar, porque uma dada substância, ainda que cm princípio seja tóxica ao organismo humano, seria inofensiva se usada em sua destinação específica. A questão agora, todavia, é de se saber se o dispositivo do Código Penal sob comento foi ou não derrogado pela “lei de agrotóxicos”, de 1989, ou então pela “lei de crimes ambientais”, de 1998. O u seja, analisados os elementos de três tipos penais bastante semelhantes, do art. 278 do Código Penal, do art. 15 da Lei n° 7.802, de 11.7.89, e do art. 53 da Lei n° 9.605, de 12.2.98, vê-se cla ramente que a objetividade jurídica de todos é a proteção da saúde pública, em face de produtos ou substâncias nocivas, a saber: Art. 278 do Código Penal - “Fabricar, vender, expor à venda, ter cm depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal. Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa”. 696
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
De grande incidência entre nós o tipo do art 279 do estatuto penal repressivo que define como crime contra a saúde pública vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou, de qualquer forma, entregar a consumo substância alimentícia ou medicinal avariada, ora revogado, como visto, pela Lei n° 8.137/90. E isto sobretudo nas feiras livres e açougues, em que são apreendidos produtos cárneos em péssimas condições de higiene, ou, o que é bem pior, já quase putrefatos, com presença já de amónia e ácido sulfídrico, disfarçando-se tal circunstância mediante expedientes dos mais imaginativos possíveis, como, por exemplo, utilização de luzes ou azulejos coloridos, nos açougues, adição de sulfito de sódio, ou então a pré-moagem da carne e sua exposição à venda. A chamada uempurroterapian de medicamentos, ou seja, a “receituação” ilegal pelo próprio balconista da farmácia ou drogaria, é expediente bas tante comum, sobretudo quando se sabe da presença no mercado de um número excessivo de remédios com a mesma fórmula ou então assemelhada, mas com marcas diversificadas, e as “comissões” pagas pelos laboratórios interessados na sua difusão e venda cada vez mais crescente, expediente esse punido pelo tipo penal consubstanciado no art. 280 do Código Penal: fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica; ou ainda, Art. 15 da Lei n° 7.802/89 - “Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, cm dcscumprimcnto às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito a pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa”; Art. 56 da Lei n° 9.605/98 - “Produzir, pro cessar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde hum ana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa; § Io Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput, ou os utiliza em desacordo com as norm as de segurança; § 2o Sc o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada em um sexto a um terço”. Quer-nos parecer, portanto, que o art. 278 foi derrogado pelo terceiro dispositivo retrocolacionado, já que certamente fala de qualquer tipo de substância nociva à saúde hum ana ou ao meio am biente, sendo, por conseguinte, mais abrangente. Além do mais, exsurgc claríssima, dentro ainda de sua objetividade jurídica, a preocupação com a gravidade do fato de se comprometer a saúde humana, apenando o novo tipo com maior severidade. E, sem dúvida, tal preocupação mais do que se justifica, já que nosso ambiente transformou-se numa enorme lixeira de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, destacando-se dentre os primeiros os resíduos químicos e nucleares de grande toxicidade e, portanto, nocivos à saúde hum ana e ao ecossistema. E com relação ao tipo da “lei dos agrotóxicos”, já que ambos os tipos cm questão não só falam daquela toxicidade, como também falam em dcscumprimcnto de regulamentos? Entendemos que, dada a especialidade da mencionada “lei dos agrotóxicos”, não houve derrogação do tipo de seu art. 15, já que agrotóxicos, cufcmisticamentc denominados “defensivos agrícolas”, são uma classe especial de substâncias virtualmente nocivas tanto à saúde hum ana como ao am biente. Desta forma, entendemos serem esses tipos compatíveis entre si, dadas a especialidade de um e a generalidade de outro. 697
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
pelo art. 282, que trata do exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Com relação à chamada legislação especial ou extravagante, fora do texto sistematizado do Código Penal, merecem destaque os chamados “crimes contra a economia popular” e dentre eles os tipificados pela Lei n° 1.521/51, além dos previstos, igualmente com tal conotação de economia popular, na Lei n° 4.591/64' ou seja, no campo das incorporações imobiliárias (arts. 65 e 66), na Lei n° 8.245/91 das locações prediais urbanas (contravenções previstas no seu art. 43), e loteamentos (Lei n° 6.766/79). Tenham-se ainda em conta os “crimes do colarinho branco e contra a ordem financeira”, consubstanciados, respectivamente, nas Leis nos 7.492/86 e 4.595/64, os praticados contra os genericamente considerados “direitos do consumidor” e “abastecimento de combustíveis” (cf. Lei n° 8.176/91), o novo Código da Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), e muitos outros, fora do corpo do Código Penal. [2] COLOCAÇÃO NO MERCADO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS IMPRÓPRIOS - Embora vetado, e exatamente por isso, merece análise o tipo do art. 62 do Código de Defesa do Consumidor, de teor seguinte: Art. 62. Colocar no mercado, fornecer ou expor para fornecimento produtos ou serviços impróprios: Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. § Io Se o crime é culposo: Pena - Detenção de três meses a um ano ou multa. § 2o As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.
O veto oposto ao comentado art. 62 diz, laconicamente, que, “em se tratando de norma penal, é necessário que a descrição da conduta vedada seja precisa e determinada”. “Assim”, prossegue, “o dispositivo afronta a garantia estabelecida no art. 5o, inc. XXXIX da Constituição”. Ora, o referido art. 5o, inc. XXXIX da Constituição da República, como se sabe, apenas enuncia o princípio tradicional da “reserva legal”, estabelecendo que não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia cominação legal. Dessarte, quer-nos parecer que quem assessorou a Presidência da República nesse aspecto por certo desconhece a chamada “norma penal em branco”, ou seja, a que fica na dependência de outra que a complemente ou adare. No caso, entretanto, o tipo vetado já aponta para o intérprete o que entende por “produtos e serviços impróprios” para consumo, a saber: 698
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
Art. 18 (...) § 6o São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aque les em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.
Quanto aos serviços, são considerados impróprios: Art. 20 (...) § 2o São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.
Ora, pergunta-se, onde está a falta de previsão ou reserva legal7. É evidente que as condições dos produtos e serviços impróprios são definidas em normas específicas de saúde pública, metrologia e qualidade industrial. Mas não é para isso mesmo que existem as normas sanitárias, de polícia administrativa sanitária, CONMETRO/INMETRO, CONTRAN, ABNT, órgãos do Ministério da Agricultura, ou sobretudo do Ministério da Saúde etc.? Aliás, como se verifica da interpretação doutrinária e jurisprudencial do art. 279 do Código Penal, retrorreferido,22 o dispositivo vetado e ora examinado viria a acabar de uma vez por todas com as controvérsias rela tivas à questão da exigência jurisprudencial, no sentido de que o alimento ou medicamento avariado exposto à venda seja efetivamente nocivo quando o typus em testilha não exige tal elemento normativo, à questão da impro priedade de tais produtos, à problemática do prazo de validade vencido, que, conquanto possa muitas vezes não significar que os produtos estejam já avariados, representam, sem dúvida, situação de perigo in abstrato a um número indeterminado de consumidores etc. A já referida Lei n° 8.137/90 veio finalmente resolver tal impasse, ao dizer que é crime contra as relações de consumo “vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”, prevendo-se 22 Cf. aqui também, do autor, Manual de direitos de consumidor, Capítulo 5. 699
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
ainda a forma culposa (cf. inc. IX e parágrafo único do art. 7o - cf. ainda o art. 18, § 6o, do Código do Consumidor, em comparação). Tais aspectos e realidade somente podem ser apreendidos, por certo, na prática do dia a dia do Direito Penal, e não nos gabinetes fechados de Brasília, fora da realidade das coisas do mundo fático. A jurisprudência, ainda pobre, porém, parece tampouco ter apreendido a exata teleologia do dispositivo vetado no corpo do Código do Consumi dor, mas ressuscitado pela mencionada Lei n° 8.137/90. E, com efeito, ao decidir sobre fato consistente na apreensão de produ tos alimentícios avariados e com omissão em seu rótulo quanto ao prazo de validade e data de fabricação, decidiu o Tribunal de Alçada Criminal, tendo como relator o juiz Walter Guilherme, que “inocorre o delito previsto no art. 7* IX, da Lei n° 8.137/90, quando o produto apreendido, mesmo que avariado, não se qualifica como impróprio ao consumo ou mesmo nocivo à saúde; a omissão da data de fabricação e de validade do produto a ser comercializado não se encontra criminalizada quer no Código Penal, quer no Código de Defesa do Consumidor”.22' Ora, contrariamente ao entendimento ali manifestado, tenha-se em vista que se cuida na hipótese de autêntica norma penal em branco, certamente preenchida pelo já citado art. 18, § 6o, do Código do Consumidor. Ou seja, em se tratando de produto alimentício, por exemplo, cuja embalagem não ostente o prazo de validade, ou então avariado, os incs. I e II do referido dispositivo legal consideram-no expressamente impróprios ao uso e consumo. E, com efeito, não tem mais lugar a alegação, quando da permanência do tipo do art. 279 do Código Penal, no sentido de exigir-se para a con figuração do delito - aliás, de perigo abstrato - a constatação de se tratar de produto, além de avariado, também nocivo e impróprio ao consumo. Aliás, a jurisprudência, ao interpretar o revogado dispositivo, já se vinha manifestando no sentido de cuidar-se na espécie de delito formal e de perigo abstrato, não exigindo para sua configuração a constatação de que o alimento avariado fosse também nocivo à saúde, ou então o medi camento nas mesmas condições. Consoante pondera Damásio Evangelista de Jesus,24 ao cuidar do perigo presumido ou abstrato, diz ser ele *considerado pela lei em face de determinado comportamento positivo ou negativo”, ou seja, “é a lei que o presume juris et de jure”, acrescentando ainda que “não precisa ser provado”, porquanto 23 Revista de Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, n° 18, p. 171. 24 Direito PenaU São Paulo, Saraiva, 1980, vol. 1, p. 178. 700
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
“resulta da própria ação ou omissão”, ou ainda mais objetivamente: “o perigo é presumido”, porque “decorre da simples inércia do sujeito”. E, consoante também o entendimento jurisprudencial majoritário, a objetividade jurídica desse crime é, indiscutivelmente, a incolumidade pública relativa à sua saúde, que fica exposta ao perigo.25 Nem é necessário que o agente tenha fabricado o produto, conforme decidido na Revista dos Tribunais n° 433, p. 445, cabendo a este a prova de ter ocorrido um fato acidental, sendo outrossim irrelevante o conhecimento eventual do estado de avariação da mercadoria pelo comprador, porque o art. 279 do Código Penal sugere a interpretação, aceita por muitos doutores, de que a avaria em foco não é oriunda de “obra humana”, senão da “ação do tempo ou outro fator não provocado propositadamente”.26 E mais: a generalidade dos doutores grava que o crime do art. 279 é doloso e de perigo, mas não se preocupam em esclarecer porque o art. 279 do CP não prevê, também, a modalidade culposa, como seria de se espe rar; a razão é fácil de atingir, se se tiver presente que os crimes de perigo se subdividem em crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto (...); como bem pondera o insigne Maurach, em seu Strafrecht, 1958,1/90, quanto aos crimes de perigo abstrato, a norma traz ínsita uma presunção de dolo, e atenção ao resultado potencial (...); o nosso art. 279 pertence a esses crimes de perigo abstrato, como uso realçado, e, pois, pelo simples fato de ter em depósito para vender, o que é coisa diferente.27 Quer-nos parecer, por conseguinte, que o ilustre juiz relator do acórdão retrocitado do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, atualmente extin to, não atentou para o preenchimento do tipo em discussão, manifestamente em branco, eis que previsto expressamente pelos incisos do § 6o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, em perfeita consonância não só com os preceitos de direito sanitário vigentes, como também com os conceitos de tcperigo presumido ou em abstrato”, e respectivas doutrina e jurisprudência. Dessa forma, dispondo o inc. IX do art. 7o da Lei n° 8.137, de 27.12.90, que é crime contra as relações de consumo ctvender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”, com previsão inclusive de modalidade culposa, a explicação para tal impropriedade é-nos dada pelo mencionado dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque eventual nocividade é legalmente presumida, abstratamente. E, com efeito, na Ap. Crim. n° 948.193/0 - Capital -1 4 aCâm. TACRIM-SP, cuidou-se de medicamentos com prazos de validade vencidos. Absolvido em 25 In JULTACRIM-SP, 82/391, e RF, 282/353. 26 Edgard Magalhães Noronha, Direito Penal, São Paulo, Saraiva, 1962, vol. IV, p. 62. 27 In Acórdão proferido pelo TJGB na Apelação Criminal n° 52.510, rei. Des. Alcino Pinto Falcão. 701
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
primeira instância, o réu foi condenado na segunda. A absolvição baseava-se precisamente na “ausência de nocividade”. Trechos do acórdão: “A imputação é de que o acusado expôs à venda, na Drogaria Droga 20 Ltda.,
da qual é sócio-proprietário e gerente, diversos medicamentos em condições impróprias para o consumo, por estarem com o prazo de validade já vencido; a materialidade da infração está demonstrada pelo auto de apreensão dos me dicamentos (f. 8/8^' pelos exames periciais dos mesmos produtos (fls. 16/17,
28/29 e 68/69) e pela prova oral produzida; quanto à autoria, o acusado ad mitiu que todos os medicamentos, apreendidos em sua drogaria, já tinham o prazo de validade vencido; afirmou, porém, que eles não estavam expostos à venda, mas se encontravam sob o balcão do estabelecimento, separados dos demais produtos (com datas de validade ainda não vencidas), prontos para serem triturados; mencionou que a Prefeitura realiza, diariamente, a recolha dos medicamentos inutilizados (fls. 22 e 45vo); Ricardo dos Reis e Luciene Severina da Silva, funcionários do mesmo estabelecimento, prestaram relatos semelhantes, falando que, semanalmente, se procedia à vistoria dos produtos ali existentes, e os que estavam com prazo de validade vencido eram tritura dos, colocados em sacos plásticos e recolhidos pela fiscalização da Prefeitura (fls. 59 e 61); é óbvio, no entanto, que, se essa versão fosse verdadeira, não seriam encontrados no aludido estabelecimento, quando da realização da diligência, em 15 de abril de 1994, medicamentos com prazo de validade superado há mais de um ano...; na hipótese do delito do art. 279 do Código Penal, invocado na sentença, era justificável a exigência de análise pericial para comprovar a impropriedade ou nocividade da substância, uma vez que não existia, então, texto legal prevendo que essa condição pudesse advir apenas da circunstância de estar avariada a substância; já no caso do art. 7o, inc. IX da Lei n° 8.137/90, a situação é diversa; no Código do Consumidor (Lei n° 8.078/90), preceituam-se, expressamente (art. 18, § 6o), que são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos* (inc. I); o dispositivo em questão complementa a figura penal em exame, segundo a qual (art. 7o) constitui crime contra as relações de consumo ‘vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo’ (inc. IX); conforme ressaltado pelo eminente procurador de justiça, Dr. José Geraldo Brito Filomeno, ao falar-se de ‘impropriedade para o consumo’, presume a lei, claramente, que, embora possa até estar bom’ o medicamento, ou a substância alimentícia com prazos de validade vencidos, representam evidente ‘potencia lidade de dano à saúde’ de um número indeterminado de consumidores’ (fl. 112); isto porque ‘nem o art. 279 do Código Penal, revogado pelo a rt 23 da Lei n° 8.137, de 27.12.90, e muito menos seu substituto de que ora se cuida, ou seja, o inc. IX do art. 7o do segundo diploma legal retrocitado, utilizam a normatividade ‘nocividade à saúde’, donde descaber o comento sobre a análise que o reputado Instituto Adolfo Lutz teria deixado de proceder a exames específicos nas amostras apreendidas na drogaria de que o ora apelado é o sócio-proprietário’ (parecer, fl. 115); por outro lado, não se pode negar vigência
ao art. 18 do Código do Consumidor como fonte de complementação apenas
702
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
por regular relações de natureza civil; no Código Penal, há crimes, como o do art. 237, que só podem ser aplicados recorrendo-se ao art. 183 do Código Civil, onde estão relacionados os impedimentos que causam a nulidade absoluta do casamento, ou a violação de direito autoral (art. 184), onde se deve verificar em que consistem os direitos autorais (art. 2oda Lei n° 5.988/73), ou o do art. 178 (emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant), em que o conteúdo da norma penal é complementado pelo Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 1903 etc.; aliás, há também leis especiais, como a Lei n° 1.521, de 26.12.51, que define crimes contra a economia popular no inc. VI, de seu art. 2o, cuja definição legal é incompleta, uma vez que se condiciona à expedição de portarias administrativas com as tabelas de preço; e, como bem observado no parecer ministerial, se um simples regulamento, ou portaria, servem para o preenchimento da norma penal em branco - como as antigas tabelas de preço da SUNAB -, não existe razão para concluir-se que uma lei, da mesma etiolo gia (relações de consumo - crimes contra as relações de consumo), não poderia servir à mesma finalidade (fls. 118/119)7 Já na Ap. Crim. n° 917.985/9 - Capital, a 9a Câm. TACR1M-SP assim decidiu, conforme trecho do acórdão de maior interesse: “Consta dos autos, em síntese, que na lanchonete da qual o réu é um dos sócios-proprietários foi constatada a existência de substância alimentícia ava riada exposta à venda ao público; tal material, filés de frango à milanesa, foi apreendido e examinado pericialmente, constatando-se estar realmente avariado (cf. fl 12); assim resumidos os fatos, afasta-se desde logo a crítica lançada ao trabalho pericial, que está regular e formalmente perfeito, valendo notar, pelo documento de fl. 10, que no mesmo dia do fato - 10.3.93 - as amostras do produto, acondicionadas em sacos plásticos lacrados, foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz para exame; (...) deveria o apelante, ainda, utilizar-se da amostra que ele próprio recebeu para eventual contraprova (cf. fl. 7v°J nada tendo feito, todavia, para demonstrar a existência de falha na colheita, na guarda, e no exame do material coletado; assim rejeitada a argumentação de imprestabilidade do laudo pericial, no mérito verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada com os documentos de fls. 7/14, e a autoria igualmente restou bem esclarecida; de fato, consoante admite o réu em seus interrogatórios, os filés de frango estavam guardados no refrigerador do estabelecimento, e haviam servido para o almoço do dia anterior, sendo que as sobras serviriam para a refeição noturna dos funcionários do local, e o que ainda sobrasse seria jogado fora; entretanto, tal providência não havia sido tomada pelo responsável até a chegada dos policiais que realizaram a apreensão do produto avariado, sendo irrelevante que a imprestabilidade da came apreendida não fosse aparente, pois, como já se decidiu, não pode alegar ausência de dolo o agente que tem em depósito para venda, ou expõe à venda, substância alimentícia avariada, porque estará assumindo o risco de entregá-la ao consumo, que tendo ou sendo-lhe indiferente tal resultado, donde a irrelevância por igual da justi ficação de que seria submetida a preparo prévio, uma vez que a lei não faz
703
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
essa distinção (RF 226/321); estando a mercadoria guardada em frigorifico,
tudo leva a crer que se destina ao consumo público, não sendo de ser aceito desconhecimento por parte do comerciante do estado da mercadoria, pois que ele tem obrigação de verificar e bem conhecer o estado de higidez do que vende (RF 182/317).” Na Ap. Crim. n° 950.701/2 - Capital - 1 5 a Câmara do TACRIM-SPnesse caso cuidava-se da exposição à venda de salgadinhos considerados impróprios ao consumo. Nosso parecer apenas opinava pelo provimento parcial do apelo do réu, no sentido da adequação da multa ao art. 49 do CP. Trecho do acórdão: “Ê dos autos, que após receber notícias, via telefone, de que o Supermercado Herjan Ltda., situado na Estrada Kizaemon Takeuti, n° 1.558, Taboão da Serra, de propriedade de Herani Cesário Gomes Perneta, o qual arrendou o açougue ali localizado a Marinaldo Praxedes de Oliveira, estava vendendo produtos estragados, agentes da polícia apreenderam amostras de duas porções de produto alimentício carne pré-moída, e amostras de duas porções do produto alimentício cebolinha-salgadinho de milho’, que, examinadas pela Divisão de Bromatologia e Química do Instituto Adolfo Lutz, foram consideradas impróprias para o consumo, por se encontrarem adulteradas, com presença de substância comprometedora de seu valor nutritivo, e avariadas, por apresentarem cheiro rançoso; verifica-se, pelo contrato de arrendamento de fL 33, em sua cláusula 4a, que a gerência do açougue, objeto deste contrato, bem como qualquer responsabilidade oriunda desta atividade mercantil perante fornecedores, fisco federal, estadual e municipal, Ministério do Trabalho, Departamento de Saúde Pública, e quaisquer outras a partir desta data, ficará a cargo do Sr. Marinaldo Praxedes de Oliveira, acima e anteriormente qualificado’; des tarte, inobstante o art. 11, da Lei n° 8.137, de 27.12.90, preceitue que quem de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade’, não se pode certamente presumi-la diante de um simples contrato de arrendamento; se não se poderia também falar, data venia, da responsabilidade em coautoria de qualquer proprietário-locador em relação a um crime cometido por seu inquilino no imóvel a este alugado’, como bem salientado pelo ilustre procurador de justiça, em seu lúcido Parecer, à fL 170; por essa razão, o recorrente não pode ser responsabilizado pela exposição da carne pré-moída alterada pela substância química, ou seja, contendo dióxido de enxofre, aditivo expressamente proibido pela legislação sanitária, bem como o sulfito de sódio, produtos nocivos à saúde humana, reduzindo a qualidade nutritiva do produto; concementemente aos salgadinhos de milho em forma de massa frita, o laudo de fL 17 e verso, da Divisão de Bromatologia e Química, do Instituto Adolfo Lutz, concluiu: £Trata-se de substância alimentícia avariada, imprópria para o consumo por apresentar cheiro rançoso e reação de Kreiss positiva; pode ser nociva à saúde pela alteração físico-química desta classe de alimentos; esta variação não foi perceptível a olho nu, mas através do olfato; o
704
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
material em questão é efetivamente o indicado em sua embalagem; a marca do produto era Benfica, não constando data de fabricação e período de validade do produto’; o próprio informante, interrogado em pretório, declarou, entre outras coisas: ‘havia um único pacote, nos fundos do display, aparentemente mais velho, o qual justamente foi o apreendido pela fiscalização’; aduziu que
ele mesmo poderia repor pessoalmente os estoques dos salgadinhos a cargo dos vendedores do fabricante dos salgadinhos (fl. 74 e verso)... em face do exposto, dá-se provimento parcial ao apelo, para excluir a responsabilidade do apelante quanto à exposição da carne pré-moída contendo dióxido de enxofre, ficando responsabilizado pela exposição à venda dos salgadinhos de milho em forma de argolas de massa frita, fixando-se a pecuniária em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1 (um) salário-mínimo por dia-multa.”
Outros casos: Ap. Crim. n° 949.951/9 - Capital - no caso cuidava-se de queijo impróprio ao consumo, tendo havido recurso do Ministério Público, por fim provido, considerando-se que a simples exposição do produto, impróprio, caracterizava a hipótese em testilha. Na Ap. Crim. n° 959.337/8 - Capital, tratava-se de farinha de rosca e presunto tipo “copa” sem datas de fabricação e prazo de validade, além de conter o segundo leveduras. Merece citação trecho do acórdão então proferido: “A irresignação, porém, não merece prosperar; realmente, como bem observou o ilustre procurador de justiça oficiante, a versão apresentada pelo ora apelante, ou seja, no sentido de que a farinha de rosca é de sua própria fabricação, antes de ser uma justificativa, é uma verdadeira admissão de culpa, já que sequer se preocupava em marcar os pacotes pelo menos com o dia de fabri cação (aliás, consistente apenas na moagem e torrefação dos restos de pães), e com a filtragem da farinha, donde a apresentação de pêlos de roedores; além disso, e o que realmente chamou a atenção dos policiais e técnicos do Instituto Adolfo Lutz, o referido produto não continha as informações mínimas sobre suas qualidades, como exigido pelo art. 31 do Código de Defesa do Consumidor; com relação à copa’, já estava passada, mesmo porque rançosa e, pior, exposta à venda com o prazo de validade vencido; tendo levantado o argumento de que aquilo ocorreu, mas que o produto em questão estava para ser devolvido ao fabricante, não o demonstrou; o órgão acusatório, ao revés, demonstrou não apenas as condições impróprias dos produtos concentradas basicamente, repita-se, no descumprimento do dever de informar do art. 31 do Código do Consumidor, quanto à farinha de rosca, e demonstração do prazo de validade, como também sua efetiva exposição à venda; tanto assim
que os dois policiais do DECON (fls. 32/91 - Terezinha das Graças Garcia; e fls. 42/90 - William Lopes de Souza) categoricamente disseram que a copa’ pendia de um gancho, bem à mostra, e a farinha de rosca estava na prate leira do supermercado, bem ao alcance da vista dos eventuais consumidores; ora, cuidando-se na espécie de delito de perigo presumido, basta para sua ocorrência que se haja constatado a exposição à venda dos produtos impró
705
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
prios, sendo outrossim irrelevante se fizeram mal ou não à saúde de alguém; referido tipo, aliás, e como sabido, revogou expressamente o do art. 279 do Código Penal, inexistindo o elemento normativo consistente na ‘nocividade do produto’; os laudos técnicos do Instituto Adolfo Lutz, por fim, juntados às fls. 13 e 20, comprovam a impropriedade dos produtos, e, cuidando-se de norma penal em branco, a figura do inc. IX do art. 7o da Lei n° 8.137/90 é na hipótese vertente complementada pelo art. 31 do Código do Consumidor, no tocante às informações exigidas para os produtos no mercado, e pelo inc I do § 6o do seu art. 18, no que toca ao prazo de validade (fls. 119/121); Como
se vê nada mais pode ser acrescentado ao parecer do ilustrado procurador Brito Filomeno, que, aliás, é um dos autores do Anteprojeto do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e, ainda, escreveu obra doutrinária sobre a lei em apreço (cf. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ia ed., Forense Universitária, 1991, comentado por Ada Pellegrini Grinover e outros).”
Na Ap. Crim. n° 949.267/7 - Capital, com recurso da defesa, foi-lhe negado provimento, por votação unânime, em hipótese de exposição de produto impróprio na modalidade culposa, entendendo-se que o dono do estabelecimento, a quem incumbia verificar constantemente as condições de produtos expostos à venda, descurou-se desse dever, propiciando, dessarte, perigo potencial à saúde de seus consumidores. Na Ap. Crim. n° 967.441/0 - Capivari, proveu-se recurso do Ministério Público, com vistas a anular-se o feito. É que a denúncia falava ainda no crime do art. 279 do Código Penal, revogado, como já assinalado, pelo art. 23 da Lei n° 8.137/90. E, quando pretendeu aditá-la o ilustre promotor de justiça oficiante, já havia transcorrido o prazo prescricional, extinguindose o feito. Já na Ap. Crim. n°971.345/1 - Santo André, a 3a Câmara do TACRIM-SP negou provimento ao recurso do Ministério Público. Cuidava-se de questão relativa à indeterminabilidade da responsabilidade, embora fosse ela do gerente do setor de produtos perecíveis (Carrefour). Trechos do acórdão: “2. Sem embargo do zelo demonstrado pelo representante do Ministério Público, agasalhado, em parte, pelo nobre procurador de justiça, verifica-se que não foram espancadas as dúvidas no tocante à interferência direta dos acusados na fiscalização dos produtos expostos à venda nas gôndolas, trabalho que estaria afeto aosfuncionários das equipes relacionadas com os diversos setores, tal como ficou esclarecido pelas testemunhas defensórias; o corréu Antônio era gerente do departamento de perecíveis; supervisionava as gerências de diversos setores; atendia somente os problemas mais graves em sua própria sala; não interferia diretamente na fiscalização dos produtos expostos; cada gerente fiscalizava o respectivo setor contando com o apoio de uma equipe de funcionários; isso foi o que esclareceu o interrogando e tais esclarecimentos não foram contestados (fls. 101/102); Darci era gerente do setor de padaria; a farinha de rosca era preparada pelo menos duas vezes por semana e embalada em pacotes de 500 706
Titulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
gramas; o prazo de validade era de 5 (cinco) dias, o que dava uma boa margem de segurança, já que o referido produto dura muito mais; no dia do fato não houve reclamações de fregueses; o interrogando não foi chamado para acom panhar a apreensão de um pacote de farinha de rosca entre outros volumes (fl. 103); isso foi o que esclareceu o corréu Darci, e também não teve a sua versão frontalmente contrariada no bojo destes autos; em favor deste corréu ainda existe a portaria defl. 266, que retroage à data do fato por ser benéfica e traçar limites mais elevados para a existência de fragmentos de insetos no produto... Ora, como consta da r. sentença recorrida, com citação doutrinária, a acusação deve demonstrar a responsabilidade criminal de cada gerente ou de cada sócio; no caso sub judice, os depoimentos das testemunhas defensórias não foram totalmente contrariados pelas explicações dadas pelo corréu Antônio, e sim pelo corréu Armando, que atirou toda responsabilidade sobre os gerentes de cada setor, mas não se pode descartar o esforço desse interrogando no sentido de se livrar da imputação que lhe foi feita; não consta destes autos que era dever do gerente de setor examinar os produtos nas prateleiras inferindo-se, ao contrário, que eram eles responsáveis pela coordenação da equipe; enfim, pairando essa dúvida, a melhor solução estava mesmo no non liquet de todos os implicados para que não se cometa a injustiça de punir somente um dos corréus, como se fosse ele bode expiatório Entretanto, na Ap. Crim. n° 914.079/7, a 16a Câmara do TACRIM-SP, por votação unânime, deu provimento a apelo da Promotoria Criminal para condenar o responsável por panificadora, onde se constataram insetos em farinha de rosca. Observação relevante: a Portaria MS-DNVS n° 74, de 4.8.94, aumentou o limite máximo de fragmentos de insetos na farinha de trigo e derivados: para cada 50 gramas de farinha, máximo de 75 fragmen tos; em subprodutos, 225 gramas, máximo de 225 fragmentos. A Ap. Crim. n° 904.319/6 - Capital cuidou da exposição de peixe sal gado com larvas, substituindo-se pena detentiva por multa. Já na Ap. Crim. n° 974.997/4 - Taquaritinga, a 3a Câmara do TACRIM-SP julgou causa relativa a medicamentos com prazo de validade vencido. O réu fora originariamente denunciado pelo art. 279 do CP, revogado pela Lei n° 8.137/90 (art. 23). A arguição de nulidade, porém, foi repelida, porque, na verdade, ele defendera da acusação e não da capitulação do delito. No mérito, e por votação unânime, negou-se provimento ao seu apelo. Na Ap. Crim. n° 967.325/8 - São Paulo, da 2a Câmara do TACRIM-SP, foi dado provimento ao apelo do réu por votação unânime, absolvendo-se-o, porque o queijo amorfo e a farinha de rosca encontrados em seu estabelecimento não estavam propriamente expostos à venda, mas separados para troca ou disposição. Na Ap. Crim. n° 953.313/8 - Caçapava, cuidou-se da exposição de carne bovina em mercado público. E a condenação de primeiro grau foi mantida, já que manifesta a impropriedade do produto à vista do consumidor. 707
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Curiosíssimo caso foi por nós apreciado na Ap. Crim. n° 946.575/3 São José do Rio Preto - 14a Câmara do TACRIM-SP, em que se cuidou da entrega de geladeira com defeitol Nosso parecer foi obviamente pela absolvição nos termos do inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal, tendo sido a tese acolhida pela Câmara. Com efeito, dissemos que em tese poderia ter ocorrido o delito de ‘entrega fraudulenta de coisa” ou então “fraude no comércio”, mas jamais do tipo do inc. IX, art. 7o, da Lei n° 8.137/90, que se refere diretamente a substâncias e matérias-primas relacionadas à saúde, e não a bens de consumo duráveis. Na Ap. Crim. n° 958.107/8y por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso do Ministério Público, para elevar o valor dos dias-multas para 1/10 do salário-mínimo (voto divergente entendia que o BTN deve ser usado quando se cuidar dos crimes da Lei n° 8.137/90). Na Ap. Crim. n° 978.485/8, a 2a Câmara do TACRIM-SP, por votação unânime, absolveu o réu condenado em primeiro grau por ausência de dolo. Cuidava-se, entretanto, de “frango temperado” já exalando gás sulfídrico, em manifesta putrefação, portanto. Na Ap. Crim. n° 910.625/0, a 14a Câmara do TACRIM-SP, por vota ção unânime, anulou o feito por inépcia da denúncia que fala em culpa, mas pretendeu ver o réu condenado por dolo eventual. Restou clara, na hipótese, com efeito, infringência do estatuído pelo art. 384 do Código de Processo PenaL A Ap. Crim. n° 984.625/6, por votação unânime, em se acolhendo nosso parecer, igualmente deu provimento para anular a sentença de primeiro grau, porquanto a denúncia era pela modalidade dolosa, e a ré acabou condenada pela forma culposa. No caso, propiciou-se ao promotor de justiça aduzir outra denúncia, ou o aditamento da constante já do processo. Na Ap. Crim. n° 980.607/6 - 6a Câmara do TACRIM-SP, tratava-se de amendoim avariado, em casca e beneficiado, e, por votação unânime, foi mantida a condenação. Na Ap. Crim. n° 970.881/9 - 7a Câmara do TACRIM-SP, deu-se provi mento parcial para, segundo nosso parecer, reduzir a pena então imposta, por se cuidar de “gerente” e não dono do estabelecimento, no qual se expunham à venda produtos alimentícios deteriorados. Na Ap. Crim. n° 986.761/2, a 2a Câmara do TACRIM-SP negou provi mento ao recurso da defesa que pretendia sua absolvição. Tratava-se de caso gritante de fraude, inclusive, de venda de considerável partida de leite em pó para merenda escolar por empresa de Rio Preto à Prefeitura de Ourinhos, com raspagem da data de validade dos fundos das latas e substituição de etiquetas nas caixas de papelão. Veja-se, a seguir, em destaque, o acórdão com ementa, inclusive, a respeito da irrelevância da análise que comprove “nocividade”, bastando a constatação do prazo de validade vencido. Ementa 708
Titulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
do acórdão: “Venda de mercadoria em condições impróprias ao consumo. Delito do art. 7o, inc. IX da Lei n° 8.137/90 - Prazo de validade vencido - Circunstância que, por si só, basta à configuração do crime, dispensável perícia para comprovar a efetiva nocividade do produto - Condenação mantida. O art. 7o, inc. IX, da Lei n° 8.137, de 27.12.90, ao contrário do que ocorria com o antigo art. 279 do Código Penal, expressamente revogado pelo art. 23 da mesma Lei, define um crime formal e consubstancia norma penal em branco no que toca à definição das condições impróprias ao consumo’. E, nessa condição, é complementado pelo art. 18, § 6o, inc. I, da Lei n° 8.078, de 11.9.90 (Código de Defesa do Consumidor), no ponto em que expressamente considera ‘impróprios ao uso e consumo’: ‘os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos?’ Trecho do nosso Parecer no caso: “3. O digno representante do Ministério Público de primeiro grau manifestouse às fls. 174/179 pelo provimento do apelo do réu, em coerência com seu posicionamento ao ensejo dos debates antes da r. decisão recorrida; 4. E isto porque também entende que se devesse proceder à perícia bromatológica do leite em pó apreendido para se comprovar se estava ou não avariado e, por conseguinte; impróprio ao consumo; total a desrazão, porém, do recurso intentado, data venia do entendimento em contrário manifestado pelo Dr. Promotor de Justiça oficiante, inclusive; senão, vejamos; 5. Como muito bem salientado pelo ilustrado juízo a quo, o novo tipo criado pela Lei n° 8.137/90,
mais especificamente pelo inc. EX de seu art. 7o, em última análise, não exige qualquer comprovação de nocividade à saúde proporcionada pela exposição à venda, venda efetiva ou entrega a consumo de substância ou matéria-prima ‘imprópria ao consumo’; basta que referidos produtos estejam com o prazo de validade vencido, por exemplo, para que se verifique a perfeita complementaridade do evidente tipo penal em branco de que ora se cuida; e acrescentaríamos mais: cuida-se, em última análise, de nova roupagem dada ao art. 279 do Código Penal, aliás expressamente revogado por força do que dispõe o art. 23 da sobredita Lei n° 8.137/90; e com isso se assentou definitiva pá de cal na polêmica sobre se saber se a avariação da substância alimentícia ou medicinal’ daquele ultrapassado dispositivo do corpo do Código Penal, inserido que estava no capítulo dos crimes contra a saúde pública, implicava ‘nocividade’ do produto avariado, a exemplo do que ocorre com o delito do seu art. 272; resta evidente agora que por ‘imprópria’ ao consumo se haverá de entender substância alimentícia ou matéria-prima que assim seja definida pela norma complementar consubstanciada no § 6o do art. 18 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); e no inc. I do refe rido parágrafo encontramos a singela figura do ‘prazo de validade vencido’ para exatamente preencher aquela vacuidade, sendo totalmente despiciendo indagar-se se o produto ainda ‘está bom ou não para o consumo’; mesmo porque se cuida na espécie de evidente delito formal de perigo presumido, e não de perigo in concreto, bastando que se dê uma das circunstâncias dos incs. I e II do referido § 6o do art. 18 do Código do Consumidor para que 709
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
se tipifique a figura em testilha; e isto porque se visa a proteger a massa difusa de consumidores que, caso contrário, ficariam à mercê de produtores e distribuidores inescrupulosos - como o ora apelante, aliás que lhes co locam nas mãos produtos inadequados ou até nocivos e perigosos, na ânsia de maiores lucros; 6. Embora a figura em questão admita a forma culposa (cf. o parágrafo único do inc. IX do art. 7o da Lei n° 8.137/90), no caso em pauta o dolo do apelante foi intensíssimo, se se tiver em conta adulteração operada tanto nas caixas que acondicionavam as latas de leite em pó desti nadas à merenda escolar, como nas próprias embalagens de metal; a perícia de fls. 10/23 é inequívoca quanto a isso, pelo que se observa até mesmo por claras e coloridas fotos que os instruem; dir-se-ia, por outro lado, que a autoria de tal adulteração seria incerta, o que abalaria a convicção sobre se saber se de fato o apelante seria ou não o seu autor, ou se lucraria com a atividade; e a resposta para tal indagação seria simplesmente: dúvida alguma persiste quanto a isso; é evidente que seus devotados irmão (fls. 41 e 129) e empregados (fls. 131 e 137) nada revelaram sobre isso, dizendo apenas tangencialmente que as caixas foram recebidas e mal ficaram no depósito da empresa em Rio Preto, levadas para lá desta Capital, tendo sido logo encaminhadas a Ourinhos; é mentira deslavada; e isto porque, pelo que se constata do claríssimo depoimento do responsável pelas vendas da produtora do leite em pó, a Cooperativa dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda. (fls. 48 e 125vo), os dois lotes foram vendidos ainda com cinco meses de prazo de garantia; e pelo que se constata da fatura de fl 49, foram recebidos pela empresa do réu/recorrente em 1.7.92, como promoção’ especial, quiçá porque o prazo de validade já se avizinhava; desta forma, ao contrário do que disseram os empregados da firma do réu/apelante, houve tempo mais do que suficiente - 10 meses - para que procedesse àquelas adulterações, considerando-se que, pela nota fiscal de fls. 33 e 47, a venda à Prefeitura de Ourinhos data de 24.5.93; desta forma, sabia, ressabia e arquissabia o ora apelante que o leite estava mesmo vencido, querendo apenas lucro fácil com essa transação, em prejuízo ao erário municipal, depois ressarcido - segundo sua versão, certamente; 7. De salientar-se ainda que, não bastasse a comple mentaridade dada pelo mencionado inc. I do § 6o do art. 18 do Código do Consumidor ao tipo penal especial de que ora se cuida, também a Portaria Super-SUNAB n° 4, de 22.4.94, arts. 16 a 18, que substituiu outra, n° 34, de 8.12.91, com idênticos dispositivos, prevê que os produtos perecíveis devem contar não só a data da fabricação como o prazo de validade, preservando-se com isso a saúde dos consumidores difusamente considerados; não se deve tampouco olvidar a teleologia de tais normas inseridas no próprio corpo do mencionado Código do Consumidor como também na legislação extravagante, qual seja, a compensação de sua vulnerabilidade no mercado de consumo, a teor do disposto no inc. I do art. 4o daquele Código; 8. Por outro lado, bem andou o emérito magistrado a quo ao fixar a pena de multa em 133 dias-multa, levando para tanto em consideração não apenas o intenso dolo que animou o apelante, como também a circunstância do art. 12, III da Lei n° 8.137/90, eis que se cuida à evidência de bem essencial, mormente destinado a crianças e adolescentes em idade escolar.” 710
Titulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
A Ap. Crim. n° 928.395/0 - 15a Câmara do TACRIM-SP, na mesma esteira do acórdão inserto na Ap. Crim. n° 971.345/1, negou provimento ao recurso do Ministério Público no sentido de responsabilizar os super visores de produtos do Pão de Açúcar pela exposição de produtos fora dos prazos de validade. No caso, houve até vítima de males intestinais e vômitos após ingestão de geleia de mocotó estragada. Equivocadamente, falou-se na “indeterminabilidade” de autoria. Ora, ao contrário do que se afirmou no respeitável aresto, o “dono” do supermercado nem sempre é o responsável por toda a reposição dos produtos em gôndolas de super mercados, delegando essas tarefas aos seus empregados, distribuídos por divisões ou setores. Tanto mais que, na hipótese dos autos, os réus haviam sido acusados pela modalidade culposa (negligência), que nos pareceu bem caracterizada. Em face desse resultado, entendemos remeter os autos à equipe de Recursos Especiais e Extraordinários, com vistas ao estudo da viabilidade de sua interposição. Na Ap. Crim. n° 967.069/5, a Ia Câmara do TACRIM-SP deu provi mento parcial ao apelo do réu, para tão somente mudar a indexação da pena de multa. Já na Ap. Crim. n°964.575/5, sua I aCâmara, por votação unânime, ne gou provimento à apelação da defesa, entendendo plenamente configurado o delito do inc. IX do art. 7o da Lei n° 8.137/90, na modalidade culposa. Tratava-se, no caso, de réu acusado de expor à venda pães com prazos de validade vencidos. Na Ap. Crim. n°901.587/4, a 5a Câmara do TACRIM-SP deu provimento por votação unânime ao apelo da defesa para absolver o réu, acusado de ter em depósito para vender palmito impróprio ao consumo. Fundamento: subsistiriam dúvidas com relação a que lotes estar-se-iam referindo os laudos do Instituto Adolfo Lutz, já que houve duas apreensões (uma na casa de comércio e outra em trânsito, numa perua Brasília no centro da capital). Vejam-se outros casos a seguir, ainda nos termos do inc. IX do art. 7o da Lei n° 8.137/90, que, como já asseverado passos atrás, substituiu o vetado art. 62 do Código do Consumidor, e tem sido o de maior incidência na aplicação prática dos “crimes contra as relações de consumo”: Ap. Crim. n° 992.185 - Capital - 6a Câmara do TACRIM-SP - por votação unânime negou provimento ao apelo do réu, mantendo a conde nação por exposição à venda de medicamentos com prazos de validade vencido, sendo irrelevante que ainda estivessem bons; hipótese considerada de modalidade culposa (2 anos e 4 meses de detenção); Ap. Crim. n° 1.006.559/3 - Capital - decisão idêntica à da 10a Câmara do TACRIM-SP e já citada passos atrás; Ap. Crim. n° 981.383/4 - Capital - deu-se provimento parcial ao ape lo do réu apenas para baixar a multa, de 10 dias-multa para 8, em razão 711
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
da modalidade culposa do parágrafo único do art. 7o da Lei n° 8.137/90 (Restaurante Um, Dois, Feijão com Arroz - feijoada estragada); Ap. Crim. n° 998.011/8 - Capital - 4aCâmara do TACRIM-SP - absolveu-se o réu, acusado da exposição de carnes deterioradas em supermercado, porque, falando a denúncia da forma dolosa do delito, o juízo a quo acabou condenando-o pela modalidade culposa (de acordo com nosso parecer); Ap. Crim. n° 997.315/1 - São Bernardo do Campo - 2a Câmara do TACRIM-SP - condenado em Ia instância, foi o réu absolvido em 2a porque não demonstrado o dolo com que se teria havido ao expor à venda queijo tipo mineiro deteriorado; Ap. Crim. n° 989.343/0 - Capital - 16a Câmara do TACRIM-SP deu provimento à apelação da defesa para absolver o réu, condenado em Ia instância por ter vendido água mineral a uma empresa em estado de impropriedade, tudo de acordo com nosso parecer, já que indemonstrado houvesse concorrido para tanto; os laudos do Instituto Adolfo Lutz efetuados em garrafões lacrados não apontaram a contaminação, apenas constatada em garrafao já aberto; provável contaminação se teria dado no próprio bebedouro da empresa-vítima; Ap. Crim. n° 986.425/8 - Capital - 13a Câmara do TACRIM-SP - por votação unânime, deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o réu, acusado de expor à venda lombo em cubos com prazo de validade vencido; o juiz havia argumentado com a não nocividade do produto pelo simples prazo vencido. Trecho do acórdão: aIrrelevante, de outra parte, o que por certo impressionou o d. magistrado sentenciante, a circunstância de a análise de fl. 11, da Divisão de Bromatologia e Química do Instituto Adolfo Lutz, ter consignado que o produto não era nocivo à saúde (próprio para consumo, portanto), fato este não elidente do delito; acontece que, como bem assinalou o ilustre procurador de justiça, o tipo ora em exame é de perigo abstrato, que se aperfeiçoa com a mera transgressão da norma incriminadora, independentemente da comprovação da impropriedade material ou real do produto; na lição de Manzini, transcrita por Magalhães Noronha, a respeito do então art. 279, do Código Penal, mutatis mutandis, *(•••) trata-se de um delito de mero perigo, e de perigo remoto e presumido, já que não se exige que o perigo para a saúde pública tenha ocorrido e nem que seja demonstrado o perigo para a saúde pública; o perigo é presumido de modo absoluto pela lei’ (Direito Penal, 1968, 4°voL, p. 54)”; Ap. Crim. n° 1.002.177/2 - São Caetano do Sul - 14a Câmara do TACRIM-SP - por votação unânime, absolveu os dois réus, donos de uma farmácia, pela exposição à venda de medicamentos com prazos de validade vencidos, mas mantiveram a condenação pelo exercício irregular da referida profissão. Trecho do acórdão: wBem processado o recurso (fls. 463/464), a d. Procuradoria-geral de Justiça, através de parecer do Dr. José Geraldo 712
Titulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
Brito Filomeno, manifestou-se pelo seu provimento parcial para o fim de absolver-se os réus da imputação pelo inc. IX e parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, e confirmação, no mais, da decisão apelada (fls. 480/483); é o relatório; a condenação pelo crime contra as relações de consumo não pode, realmente, subsistir, pelos motivos deduzidos no parecer ministerial, que ora se transcreve: ‘Pelo que se verifica dos termos da denúncia, foram os réus/apelantes acusados da prática do delito de exposição à venda de substância medicinal com o prazo de validade vencido na forma dolosa, culminando por serem condenados pela modalidade culposa, não conti da sequer implicitamente naquela peça acusatória; desta forma, tendo-se descumprido a formalidade do art. 383 do Código de Processo Penal, os réus/recorrentes foram surpreendidos com a condenação por delito de que em última análise não foram acusados’ (fl. 481, item 5.a); nestas condições, desde que a nulidade não foi arguida pela defesa em sua apelação, a solução que se impõe é absolvição de ambos os apelantes pelos delitos em tela, uma vez que o reconhecimento da eiva, na hipótese, reverteria em seu próprio prejuízo (Jutacrim, vol. 53/285); quanto ao crime do art. 282, parágrafo único, do Código Penal, considerando que a pena mínima cominada ao mesmo é inferior a 1 (um) ano, determina-se a baixa dos autos à origem para os fins do art. 89 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, pois esta norma, sendo mais favorável aos réus, aplica-se retroativamente, por força do art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal, por meio de providências exclusivas do primeiro grau?’ A questão da nocividade aparece, por exemplo, no tipo do art. 272 do Código Penal, que trata da corrupção, adulteração, falsificação ou alteração de substância ou produto alimentício destinado a consumo, mas não no do art. 274, que cuida do emprego de processo proibido ou de substância não permitida expressamente pela legislação sanitária, bem como revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra. E o exemplo mais marcante de tal tipo de delito é o da adição de “bromato de potássio” na indústria de panificação. Invariavelmente, todos os panificadores e até grandes fabricantes de pães tipo americano, processados pela Justiça Pública, alegaram que refe rida substância química, usada em pequenas quantidades, não seria nociva à saúde, tanto assim que é permitida em diversos países, como Estados Unidos e Austrália. Acontece que o tipo de que ora se cuida não exige, como não o exigia igualmente o do art. 279 do Código Penal e revogado pela citada Lei n° 8.137/90, a nocividade da substância aditiva, contentando-se com sua simples adição, porque não expressamente permitida pela legislação sanitária - muito ao contrário, é expressamente proibida -, pouco im 713
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
portando se faz ou não mal à saúde dos consumidores e ainda que em pequenas quantidades.28 28 Mais recentemente, vejam-se ementas de acórdãos de Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, a respeito desse assunto: 1. “Caracterização - Comerciante que, agindo com dolo genérico e direto, adquire determinada quantidade de sabão líquido para limpeza de roupas, fraciona o conteúdo adquirido, em pequenos galões, trocando o rótulo original do produtor por um de sua empresa - Identificação como sabonete líquido para higiene pessoal humana, sem outras informações de lei, revendendo para consumidores mercadoria imprópria para o consumo, pois nociva à saúde - Aplicação do art. 7o, II e IX, da Lei 8.137/90” (TACrimSP), in RT 782/609.2. “Caracterização - Exposição à venda de matéria-prima ou mercadoria com prazo de validade vencido - Delito de perigo presumido - Desnecessidade da verificação pericial após a apreensão do produto - Interpretação do art. 7o, IX, da Lei 8.137/90, c/c o art. 18, § 6o, da Lei 8.078/90” (STJ), in RT 776/551. 3. “Caracterização - Simples exposição à venda de carne em estado de putrefação - Delito de perigo abstrato, em que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, consumatido-se no instante em que constatada a possibilidade de perigo à salubridade da população Inteligência do art. 7o, IX, da Lei 8.137/90” (TJRN), in RT 772/666. 4. “Exposição à venda de produto com prazo de validade vencido - Delito formal e de mera conduta que se consuma com a simples ação do agente - Dispensabilidade da comprovação da impropriedade material - Inteligência do art. 7o, IX, da Lei 8.137/90, e do art. 18, § 6o, I, da Lei 8.078/90 (STF)”, in RT 781/516. 5. “Art. 7o, IX, da Lei 8.137/90 - Delito formal e de perigo abstrato que se aperfeiçoa com a mera transgressão da norma incriminadora - Desnecessidade da efetiva comprovação da imprestabilidade material ou real do produto" (STJ), in RT 783/606. 6. “Caracterização - Agente que, após fazer o abate clandestino de uma novilha, sem a observância das prescrições legais, transporta a carne na carroceria de uma caminhonete, simplesmente coberta por uma lona, e é surpreendido descarregando a mercadoria em um açougue, evidenciando o propósito mercantil - Inteligência do art. 7o, IX, da Lei 8.137/90” (TA CrimSP), in RT 789/634. 7. “Caracterização - Venda de gêneros alimentícios com data de validade vencida - Inteligência do art. 7o, IX, da Lei 8.137/90” (TJMG), in RT 783/649. 8. “Manutenção em depósito de produto animal impróprio para o consumo - Delito previsto no art. 7o, IX, da Lei 8.137/90, que somente se tipifica se a acusação demonstrar que a mercadoria estava exposta ou em depósito para venda” (TAPR), in R T 791/698. 9. “Modalidade culposa - Caracterização - Exposição à venda de linguiças sem as etiquetas de inspeção sanitária - Perda das referidas etiquetas que configura a negligência do administrador do estabelecimento comercial - Inteligência do art. 7°, IX, da Lei 8.137/90” (TAPR), in RT 784/715. 10. “Descaracterização - Produto apreendido vistoriado apenas no âmbito fiscal-tributário, nada indicando que estava impróprio para consumo - Norma do art. 7o da Lei 8.078/90, que tutela a saúde das pessoas” (TAPR), in RT 796/709. 11. “Produto impróprio para o consumo - Descaracterização - Circunstância aferida em razão de violação de norma ad ministrativa - Bem jurídico tutelado que é a saúde do consumidor - Inteligência do art. 7o, IX, da Lei 8.137/90 e 18, § 6o, da U i 8.078/90” (TAPR), in RT 799/691. 12. “Descaracterização - Carne deteriorada mantida em construção anexa ao açougue - Ausência de prova de que a mercadoria imprópria para o consumo seria destinada à venda - Fato que configura mero ilícito administrativo” (TAPR), in RT 828/680. 13. “Caracterização - Manutenção em depósito, para venda posterior, de mercadorias impróprias para o consumo - Inteligência dos arts. 7o, IX, da U i 8.137/90 e 18, § 6o, I e II, da Lei 8.078/90” (TJRJ), in RT 840/658. 14. “Concurso formal - Ocorrência - Delitos previstos nos arts. 7o, IX, da Lei 8.137/90, e 66 da Lei 8.078/90 - Comerciante que expõe à venda ou tem em depósito mercadoria imprópria para consumo, além de omitir informação relevante sobre a data de fabricação e validade do produto exposto à venda ou mantido em depósito - Impossibilidade de absorção de uma conduta pela outra, por se tratarem de figuras delituosas diversas” (TJRJ), in RT 835/662. 15. “Art. 7o, IX, e par. único, da U i 8.137/90 - Venda e exposição à venda de mercadorias impróprias ao consumo - Prova - Materialidade do delito demonstrada através de auto de apreen são, termo de visita sanitária e laudo de exame de material - Autoria demonstrada por depoimento testemunhal, que se apresentou seguro e harmônico - Condenação que se impõe - Inteligência do art. 18, § 6°, I e II, da Lei 8.078/90” (TJRJ), in RT 853/645. 16. “Denúncia - Recebimento - Admis sibilidade - Mercadoria considerada imprópria para o consumo não submetida a exame de corpo de delito direto - Regra do art. 157 do CPP que não pode ser interpretada literalmente - Aplicação do princípio do livre convencimento - Inteligência do art. 158 do CPP” (TJRJ), in RT 844/653. No 714
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
O que levou à absolvição de diversos acusados da referida prática foi exatamente o fato de terem sido denunciados pelo Ministério Público como incursos no comportamento delituoso do art. 272 do Código Penal, quando na verdade deveriam tê-lo sido no do art. 274, que, ao contrário daquele, não exige a comprovação de nocividade representada pela adição do sobredito produto químico. [3] OMISSÃO DE DIZERES OU SINAIS OSTENSIVOS - Tendo o Código de Defesa do Consumidor uma estrutura bem-definida e harmô nica, o dispositivo agora sob análise visa a reforçar o mandamento do art. 9o, que exige dos fornecedores de produtos e serviços a obrigação de, em se tratando daqueles que apresentem potencialidade de riscos à saúde e à segurança em decorrência de sua nocividade ou periculosidade, informar nos rótulos e mensagens publicitárias, de maneira ostensiva, clara e, pois, inequívoca, sobre tais aspectos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis em cada caso concreto, e certamente de acordo com as características próprias de cada produto e serviço oferecido no mercado. Referido dispositivo, por outro lado, está conectado diretamente aos direitos básicos dos consumidores elencados já no primeiro inciso do art. 6o do comentado Código de Defesa do Consumidor, ou seja, [“São direitos básicos do consumidor”] “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”, sendo esses os valores indisponíveis, aliás, ou objeto jurídico que se visa a preservar. Ora, é evidente que o comportamento delituoso é claramente definido pelo verbo omitir, e consiste no fato de alguém, qualquer pessoa que tenha a obrigação em questão, deixar de alertar o consumidor, aqui difusamente considerado, quanto aos riscos porventura oferecidos por produtos e serviços colocados no mercado à sua disposição. Aliás, como já asseverado noutro passo desses comentários dos aspec tos penais do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, ao se analisar acórdão prolatado pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio dc Janeiro, na Apelação n° 428/04, cm julgamento de 08.06.2004 (rei. Des. Gizclda Leitão Teixeira), encontrado na Revista dos Tribunais n° 835, p. 662-664, decidiu-se pelo concurso c não absorção do delito do art. 67 do Código de Defesa do Consumidor pdo inciso IX do art. 7o da Lei n° 8.137/90: “O comerciante que expõe à venda ou tem em depósito mercadoria imprópria para consumo, além de omitir informação relevante sobre a data de fabricação e validade do produto exposto à venda ou mantido em depósito, pratica, em concurso formal, os crimes previstos nos arts. 7°, IX, da Lei 8.137/90, e 66 da Lei 8.078/90, não havendo se falar em absorção de uma conduta delituosa pela outra, pois tratam-se de figuras delitivas diversas”. Na hipótese analisada cuidou-se da manutenção de produtos impróprios para venda e expostos à venda em padaria - ou seja, com prazos dc validade vencidos e outros com mofo c presença de insetos. A Procuradoria-Gcral da Justiça havia exarado parecer no sentido da absorção do segundo pelo primeiro, o que nos pareceu correto, não tendo sido esse, entretanto, o entendimento da turm a julgadora. 715
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
a legislação alienígena, referida preocupação está presente em todos os diplomas legais consultados, impondo-se severíssimas penalidades aos infratores, ainda que de natureza administrativa, ou penal, no caso da lei de proteção ao consumidor da província canadense de Quebec. Trata-se à evidência de crime formal ou de mera conduta, consuman do-se com a simples constatação da omissão dos deveres em testilha, guardando íntima relação com o dispositivo citado da referida lei de proteção ao consumidor de Quebec, mais particularmente no seu art. 277, como já visto. [4] CULPA - Admite-se a forma culposa, mas não a tentativa na mo dalidade dolosa, exatamente por se tratar de delito de natureza formal. A culpa, no caso, consiste na negligência, ou seja, mesmo tendo o dever de alertar contra os riscos que determinado produto ou serviço apresenta pela sua própria natureza, fá-lo o responsável sem as cautelas recomendáveis, ou simplesmente não procede como determina os dispositivos invocados, esperando que alguém na cadeia de responsabilidades assumidas o faça oportunamente, criando então o risco de dano a um número indetermi nado de consumidores. Tenha-se em conta, aliás, que já existem normas específicas a respeito de tais alertas, sobretudo no campo dos produtos farmacêuticos “tarja preta”, por exemplo, para psicotrópicos com venda controlada, ou tarja vermelha, significando neste caso venda sob prescrição médica (ou então o alerta “mantenha fora do alcance das crianças” etc.), ou mesmo alimentos dietéticos (não somente o alerta de que se trata de produto dietético, mas também se contém substância conhecida por fenilananina, capaz de causar seriíssimos problemas no metabolismo de pessoas portadores de deficiência mental), ou ainda bens de consumo duráveis (máquinas com arestas, correias que possam causar sérias lesões no manipulador, automóveis etc.). A respeito ainda de outros produtos mais sofisticados, ocorre-nos a existência de sinais característicos, como o que alerta para a presença de radiação ionizante, ou então produto tratado com radiação, sinal esse que representa exatamente um átomo em pleno movimento. Enfim, o que se pretende é que o consumidor seja efetivamente alertado para o risco presente em cada produto ou serviço, a fim de que tome suas precauções e evite danos à sua integridade corporal e saúde. [5] OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES COMPE TENTES - Trata-se aqui também de delito omissivo, formal, ou seja, como 0 anterior, independentemente de qualquer resultado, eis que de perigo abs trato, procurando preservar-se uma vez mais os valores elencados no inc. 1 do art. 6odo Código do Consumidor. 716
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
Assim, ao impor penas detentiva e pecuniária a todo aquele que deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado, o comentado tipo do art. 64 do referido Código do Consumidor impõey ou ainda, visa a assegurar o cumprimento do dever de o fornecedor “fazer boa a coisa vendida’, obrigação tal, aliás, presente em qualquer tipo de contrato, diligenciando o responsável no sentido de praticar o recall29 ele próprio ou então contando também com a participação nesse sentido das autoridades competentes. Ou seja, e mais especificamente: ao lado do dever evidente de o for necedor não colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança, aqui se entendem aqueles que certamente apresentam grau de nocividade ou periculosidade além do que normalmente se esperaria (beyond expectation, no dizer da doutrina e jurisprudência anglo-americanas), mesmo porque ninguém certamente irá ignorar que muitos produtos já apresentam relativos graus de periculosidade e nocividade, mas dentro do que deles se espera (por exemplo, um medicamento com seu fator risco ou “efeito colateraF das bulas, um veículo automotor etc.). Conforme se dessume da letra do art. 10 do Código do Consumidor, há o dever de retirar o produto do mercado ou abster-se do oferecimento do serviço, dever esse implícito na letra do mencionado dispositivo, apesar do inexplicável veto oposto ao texto do art. 11, que apenas o complementaria.30 29 Do inglês “re + call”, ou seja, “chamar de volta”, ou comunicar-se com todos os consumidores de produtos que apresentem um defeito de fabricação, comprometendo-se a repará-lo sem qualquer ônus, como se observa na indústria automobilística. A matéria foi regulamentada pela Portaria n° 789, de 24.8.2001, do Ministério da Justiça (cf. nosso Manual de direitos do consumidor, 6* cd., ps. 157-158). 30 “Art. 11. O produto ou serviço que, mesmo adequadamente utilizado ou fruído, apresenta alto grau de nocividade ou periculosidade será retirado imediatamente do mercado pelo fornecedor, sempre às suas expensas, sem prejuízo da responsabilidade pela reparação de eventuais danos”. Nesse sentido, cf. o acórdão proferido no REsp n° 971.845/DF, tendo como relator o ministro Humberto Gomes de Barros, e, para o acórdão, a Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma do STJ, julgamento de 21.8.2008, DJe de 1.12.2008: “Direito do consumidor. Consumo de survector, medi camento inicialmente vendido de forma livre cm farmácias. Posterior alteração de sua prescrição e imposição de restrição à comercialização. Risco do produto avaliado posteriormente, culminando com a sua proibição em diversos países. Recorrente que iniciou o consumo do medicamento à época cm que sua venda era livre. Dependência contraída, com diversas restrições experimentadas pelo paciente. Dano moral reconhecido. - É dever do fornecedor a ampla publicidade ao merca do de consumo a respeito dos riscos inerentes a seus produtos e serviços. - A comercialização livre do medicamento SURVECTOR, com indicação na bula de mero ativador de memória, sem efeitos colaterais, por ocasião de sua disponibilização ao mercado, gerou o risco de dependência para usuários. - A posterior alteração da bula do medicamento, que passou a ser indicado para o tratamento de transtornos depressivos, com alto risco de dependência, não é suficiente para retirar do fornecedor a responsabilidade pelos danos causados aos consumidores. - O aumento da periculosidade do medicamento deveria ser amplamente divulgado nos meios de comunicação. A mera alteração da bula e do controle de receitas na sua comercialização, não são suficientes para prestar a adequada informação ao consumidor. - A circunstância de o paciente ter consumido o 717
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
E, com efeito, os §§ Io, 2o e 3o do mencionado art. 10 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem que: “§ Io O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua intro dução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. § 2oOs anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão vei culados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. § 3o Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos e ser viços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.” Vê-se, pois, que o que se está querendo garantir é o direito à infor mação relativa a produtos que venham apresentar algum problema após o seu lançamento. No caso, fica evidenciado que o risco criado pelo produto deve ser minimizado: primeiramente, pelo próprio responsável (aviso e recall) e, secundariamente, pelas autoridades competentes, incorrendo aquele nas penas de que trata o art. 64 sob análise em caso de omissão de comuni cação àquelas mesmas autoridades, ou então não retirando do mercado os produtos considerados perigosos ou nocivos, repita-se, além do que normalmente deles se espera. Exemplos: 1) um medicamento que, embora depois de muito tempo de uso sem problemas aparentes, começa a causar certos distúrbios a um número indeterminado de pessoas, como foi o caso da talidomida, ou do clioquinol no Japão, conforme já salientado noutro passo;31 produto sem prescrição médica não retira do fornecedor a obrigação de indenizar. Pelo sistema do CDC, o fornecedor somente se desobriga nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor (art. 12, § 3o, do CDC), o que não ocorre na hipótese, já que a própria bula do medicamento não indicava os riscos associados à sua administração, caracterizando culpa concorrente do laboratório. - A caracterização da negligência do fornecedor em colocar o medicamento no mercado de consumo ganha relevo à medida que, conforme se nota pela manifestação de diversas autoridades de saúde, inclusive a OMC, o cloridrato de amineptina, princípio ativo do SURVECTOR, foi considerado um produto com alto potencial de dependência e baixa eficácia terapêutica em diversas partes do mundo, circunstâncias que inclusive levaram a seu banimento cm muitos países. - Deve ser m antida a indenização fixada, a título de dano moral, para o paciente que adquiriu dependência da droga. Recurso especial conhecido e provido”. Cf. o acórdão proferido no caso pelo STJ: REsp n° 1.096.325/SP, rei. Min. Nancy Andrighi, 3* Turma, j. de 9.12.2008, DJe de 3.2.2009, nos comentários ao art. 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 718
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
Como já asseverado quando do comentário ao inc. III do art. 4o, re centemente diretores de laboratório farmacêutico foram condenados pela prática do delito ora sob comento, por terem se omitido quando do desvio de pílulas anticoncepcionais de placebo. 2) uma máquina qualquer que é fabricada e lançada no mercado inicialmente sem qualquer risco aparente, ao menos no estágio da tecnologia então em vigor, mas que posteriormente vem a descobrir-se que uma de suas correias pode prender os membros do operador, causando-lhe sérias lesões; 3) um automóvel com graves defeitos no sistema de freios, ou então na direção, ou ainda nas rodas de liga leve que se quebram em plena marcha em decorrência de fundição defeituosa.32 Enfim, os exemplos tendem a multiplicar-se, sendo relevante, contudo, salientar que o objetivo é a preservação da vida, saúde e segurança dos consumidores difusamente considerados, bastando para a caracterização do delito em pauta a simples omissão definida pelo verbo deixar (de comunicar à autoridade competente) ou deixar (de retirar o produto do mercado). Ou, ainda, no magistério do prof. Luiz Gastão Paes de Barros Leães,33 ao referir-se à mencionada jurisprudência norte-americana por nós tra duzida, “um produto é considerado defeituoso se for perigoso além do limite em que seria percebido pelo adquirente normal e de acordo com o conhecimento da comunidade dele destinatária no que diz respeito às suas características”. Ou mais claramente ainda: “A noção de defeito resulta, destarte, de dois elementos intimamente ligados entre si: requer-se que o produto seja portador de uma anormal virtualidade danosa ( unreasonably dangerous) em face da normal expectativa do consu midor comum (beyond expectation of the consumer). O conceito de defeito passa, pois, a ser extremado mediante a sua relação com um parâmetro: a normalidade. O produto defeituoso é aquele que se desvia das características gerais de uma produção determinada considerada em seu conjunto (deviation
from the norm).”
52 O Ministério da Justiça mantém um sistema on-line de informações sobre recall. Estes podem ser consultados no sítio disponível em: . Vejam-se, ainda, à guisa de exemplificação, o caso do veículo Fox, cm que alguns consumidores tiveram lesões nos dedos ao rebaterem o banco traseiro, bem como o caso do recall das bonecas Polly, da Empresa Mattel, em 2007, as quais possuíam peças magnéticas (imãs) com três milímetros de diâmetro, com o risco de crianças as engolirem, podendo causar obstrução intestinal resultando cm morte. ” A responsabilidade do fabricante pelo fato do produto, São Paulo, Resenha Tributária, 1984, p. 221. 719
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
E com relação às causas das ocorrências de tais defeitos, aponta-as de forma sistemática o mesmo autor retrocitado, de acordo com os Direitos anglo-americano e alemão: “(a) os vícios ocorridos na fase de fabricação, afetando exemplares numa série de produtos (miscarriage in the manufacturing process; Fabrikaüonsfebler); (b) vícios ocorridos na concepção técnica do produto, afetando toda uma série de produção (improperly designed product; Konstruktionsfehler); (c) os vícios nas informações e instruções que acompanham o produto (breach of duty of wam; Instruktionsfehler)”. Daí por que, em última análise, a preocupação do Código de Defesa do Consumidor - que, como já advertido em diversos passos desta obra, não pode ser analisado apenas pelo pinçamento de alguns de seus dispo sitivos isoladamente, dada sua organicidade e entrelaçamento dos aspectos administrativos, civis e penais - em estabelecer, já no artigo que cuida dos direitos fundamentais dos consumidores, como já assinalado, a proteção à vida, à saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos (art. 6°y I), ou ainda a efetiva prevenção e reparação de danos individuais, coletivos e difusos (art. 6o, VI). O art. 8°y além disso, prevê medidas preventivas com vistas à proteção dos referidos valores, estabelecendo que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, porém, a dar informações necessárias e adequadas a seu respeito. A forma como tais medidas preventivas são estampadas, não eviden temente de forma exaustiva, mesmo porque cada produto ou serviço terá características próprias, é prevista pelo art. 9o do Código. [6] EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PERIGOSOS - Aqui também o que se pune, à evidência, não é o simples fato de alguém proporcionar serviços que apresentem certo grau de periculosidade, haja vista que, realisticamen te, muitos deles assim se apresentem, bastando figurar-se como exemplo a dedetização, desratizaçãOy ou mesmo o espargimento de hortas caseiras ou plantas ornamentais com defensivos agrícolas, sem falar-se de grandes extensões com plantações de vários produtos agrícolas que se destinarão ao consumo da população. O que se pune, isto sim, e dentro das diretrizes atrás traçadas, e com base inclusive nas normas que assim também dispõem as mais modernas legislações do mundo, como é o caso já mencionado da lei de proteção ao consumidor da província canadense de Quebec, é a execução de tais 720
Titulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
serviços manifestamente perigosos, contrariando-se as determinações e regras impostas pelas autoridades competentes. Recentemente, uma importante indústria siderúrgica de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, contratou os serviços de desratização de uma empresa especializada que, todavia, utilizou raticida expressamente proibido pelas autoridades competentes, no caso, uma portaria da extinta DISAD/ SNVS/ MS (isto é, Divisão de Saneantes e Domissanitários da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde), tendo com isso causado a morte de três operários e intoxicação em dezenas de outros, sendo certo ainda que, consoante apurado em inquérito civil, conduzido pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Consumidor de São Paulo, a prestadora de serviços em pauta igualmente utilizava o mesmo veneno nas instalações do metrô paulistano, tendo sido determinada a imediata cessação de tal emprego, sob pena de pagamento de pesadas multas, e sem prejuízo das providências de ordem administrativa e penal cabíveis à espécie. Resta claro, pois, que, na hipótese da prática constatada, havia proibição expressa do emprego de determinada substância química altamente tóxica, e que não só expôs a vida e a saúde de um número indeterminado de pessoas a periclitação evidente, como causou efetivamente a morte de três outras e lesão à integridade corporal e saúde de dezenas de operários. Mas há hipóteses em que, embora não proibido o uso de certas subs tâncias tóxicas na execução de certos serviços, ou então certos aparatos ou máquinas igualmente destinados àquele mister, devem os executores cercar-se de cuidados recomendados em normas sanitárias ou de enge nharia de segurança. E no caso principalmente de dedetização doméstica, há normas ex pressas sobretudo no Código Sanitário do Estado de São Paulo (Decreto n° 12.342, de 1978), e normas complementares, dentre as quais as que estabelecem um período de carência, ou seja, durante o qual as pessoas não devem permanecer na residência, assim se lhes recomendado, além do emprego de máquinas especiais, métodos específicos, cuidados com os alimentos e objetos expostos, manutenção de janelas e portas abertas depois da aplicação etc. Trata-se aqui também de delito formal e de perigo abstrato, no senti do de que se prescinde de resultado, tendo por valor ou objeto jurídico a proteção da saúde e segurança de um número indeterminado de pessoas. Trata-se ainda de norma penal em branco, à medida que requer complementação pelas “determinações das autoridades competentes”, que irão dizer que especificações devem ser atendidas na execução dos serviços já por si mesmos considerados perigosos, sempre na diretriz da melhor doutrina e jurisprudência anglo-americana e alemã no sentido de partir-se da premissa realista de que algum risco é admissível como normal, mas 721
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
desde que advertido o consumidor pelo fornecedor e a obediência deste às prescrições legais, guardadas as características próprias de cada serviço. [7] O CONCURSO MATERIAL DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 65 - Trata-se de novidade em matéria de crime de perigo comum. Se não, vejamos: Embora crime formal ou de mera conduta, e exatamente por isso mesmo, uma vez que estabelece um comportamento decorrente da própria atividade empresarial dentro da sistemática da responsabilidade pelo fato do produto, prevê o parágrafo único do art. 65 do Código de Defesa do Consumidor hipótese de cumulação de penas, em concurso material, e não mero agravamento da pena pelo resultado lesivo, a saber: “As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.” Trata-se à evidência do preterdolo que igualmente preside o disposto pelo art. 258 do Código Penal34 e que, como sabido, trata das formas qua lificadas dos crimes de perigo comum. Ao contrário de seus postulados que agravam as penas cominadas àqueles mesmos delitos, porém, o mencionado parágrafo único do art. 65 do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente que as penas se haverão de somar, no caso de resultado morte ou lesão corporal, àquelas cominadas para a simples omissão. E tudo isso porque, em última análise, a figura do mencionado art. 65 apenas contempla a forma dolosa na ação de se executar os mencionados serviços - note-se - já notoriamente perigosos, circunstância essa inconteste e já de pleno conhecimento do agente que, mesmo assim, desempenha tais serviços contrariando as normas de segurança, vindo dessarte a assumir os resultados lesivos que dele possam advir, resultados tais, aliás, mais do que previsíveis. D A P U B L IC ID A D E E N G A N O S A E S E U S EFEITO S (IN T R O D U Ç Ã O A O S C O M E N T Á R IO S A O S ARTS. 66 A 69) 1. D o s abu sos na publicidade
Finalmente, o ordenamento jurídico pátrio acabou adotando, como de resto já o fizeram inúmeros países, a criminalização da publicidade/oferta J* Código Penal, “Art. 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade ó aumentada de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço” 722
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
enganosa e da publicidade/oferta abusiva, sem dúvida um dos mais danosos e reprováveis delitos contra as relações de consumo. Apesar de algumas leis esparsas já preverem a punição de publicidade enganosa, como, por exemplo, no que diz respeito a lançamento de incor poração de imóveis (art. 65 da Lei n° 4.591/64), loteamentos (art. 50, inc. III, da Lei n° 6.766/79), ou ainda dentro das chamadas “infrações contra a economia popular” (cf. inc. VII do art. 3o da Lei n° 1.521/51), nosso ordenamento jurídico certamente carecia de dispositivos claros e, sobretu do, genéricos, porquanto a má publicidade não se faz tão somente, como se sabe, nas referidas classes de bens econômicos, mas também em todos os tipos de produtos e serviços, publicidade tal que, diante do espetacular progresso tecnológico, atinge incontáveis números de potenciais consumi dores mediante suas várias maneiras de veiculação. Daí por que se procurou, de maneira bastante realista e sobretudo mediante a utilização de tipos abertos e genéricos, abranger-se as várias hipóteses da publicidade/oferta enganosa, bem assim da publicidade/oferta abusiva. Aliás, como bem ponderado pelo prof. Paulo José da Costa Jr.,35 haveria, até por força das circunstâncias, o mal atávico da miopia do legislador que o impede de prever todas as hipóteses que irão apresentar-se no futuro, que irão sempre superar sua capacidade limitada de previsão. Isso, conclui tal pensamento, o obriga a lançar mão de tipos um pouco mais flexíveis, de sorte a abarcar todas as prováveis hipóteses. A própria concepção do Código do Consumidor, como se pode verificar, levou em consideração a necessidade de especializarem-se as normas que dissessem respeito às relações de consumo, dando-se-lhes ao mesmo tempo a maior amplitude possível, e torná-lo compatível com outras normas fora de seu campo de ação, mas nem por isso comprometidas com a filosofia àquele imprimida e como já salientado. No campo penal, além dos tipos já analisados nos itens anteriores, ver-se-á que, no que diz respeito aos abusos da publicidade, procurou-se não apenas assegurarem-se as normas de Direito Material que definem a publicidade/oferta enganosa ou então abusiva, como também incorpora rem-se ao ordenamento jurídico, em definitivo, normas penais efetivas de comportamento não desejado, pondo-se fim às tentativas outrora frustradas nesse sentido, e que tinham ora uma objetividade jurídica diversa (por exemplo, a concorrência livre e leal e não direitos e interesses do consu midor), ora uma maneira indireta de inserir tais normas, como se verá no passo seguinte. 55 Comentários ao Código Penal, São Paulo, Saraiva, vol. 1, ps. 2 e 3. 723
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
2. Tentativa de criminalização da publicidade/oferta enganosa ou abusiva
Como já salientado atrás, várias tentativas foram feitas no passado no sentido de instituírem-se tipos penais específicos e bem delineados, por quanto até então ou a publicidade enganosa ou abusiva se apresentava como artifício ou meio fraudulento para a obtenção de determinada vantagem ilícita, como nos casos, por exemplo, do crime de estelionato na sua forma clássica (caput do art. 171 do Código Penal), ou então sob forma específica de fraude no comércio (art. 175 ainda do Código Penal). Ou ainda tal meio fraudulento se fazia presente na forma mais ex tensa de prejuízos a um número indeterminado de pessoas, como no inc. IX do art. 2o da Lei n° 1.521/51, ou ainda e, finalmente, como forma de concorrência desleal. 3. Anteprojeto do C ódigo Penal (Portaria n° 790, de 27.10.87)
O art. 184 do referido anteprojeto previa a publicidade enganosa como tipo autônomo, mas sob a rubrica de “fraude no comércio”, colocando-o exatamente como parágrafo único do dispositivo mencionado, que em úl tima análise seria a nova versão para a atual letra do art. 175 do Código Penal, definindo-a nos termos seguintes: “Incorre na mesma pena” (isto é, reclusão de 7 meses a 2 anos e multa para a fraude no comércio) “o comerciante, o prestador de serviços ou o publici tário que, mediante publicidade, induz ou mantém alguém em erro sobre a natureza, a qualidade e quantidade de bens e serviços. (...)”
Tal tentativa parece-nos ter sido válida, porquanto já apontava no sentido de que a publicidade enganosa deveria receber tratamento autô nomo, embora ainda sob a roupagem de fraude no comércio, mas dela já independente, porquanto não dependente de um dado resultado danoso ao consumidor de bens e serviços, como se pode observar pelo enunciado no então novo typus criado. 4. Inserção de tipo específico na Lei n° 1.521/51
Outra tentativa de criminalização da publicidade enganosa, desta feita no bojo da “Lei de Crimes contra a Economia Popular”, merecedora de menção, foi a inserção no inc. VII do art. 3o da mencionada Lei n° 1.521/51 724
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
de alguns termos de molde a transformá-lo em dispositivo mais aberto e abrangente, e não apenas relativo a valores e ações,36 a saber: “Art. 3o São também crimes dessa natureza: VII - dar indicações ou fazer afirmações falsas ou enganosas em prospectos ou anúncios para o fim de substituição, compra ou venda de títulos, ações, quotas, mercadorias ou serviços. (...)”
Foi, sem dúvida, uma engenhosa e oportuna tentativa, mas que não chegou a ser levada adiante. 5. Publicidade enganosa com o "concorrência desleal"
Como “concorrência desleal”, tendência já superada nos países da Europa que adotavam tal técnica em face da edição da Diretiva n° 84/450 da Comunidade Europeia, dando especial ênfase à questão da falsidade, bem como à informação incompleta e incorreta sobre produtos e servi ços, foi ela tentada em nosso País, não obstante tal obsolescência. E isso porque seria difícil a criação isolada de um tipo independente, tornando-o, no caso, bem-vindo até pela comunidade empresarial, porquanto é de seu manifesto interesse não propriamente a falsidade da publicidade em detrimento do consumidor-alvo, mas o seu reflexo na concorrência de produtos semelhantes. Assim, ao relatar processo como membro do extinto Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, a prof® Ada Pellegrini Grinover chegou a apre sentar anteprojeto de lei no sentido de se acrescentar inciso e parágrafo ao art. 178 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27.8.45, tipificando entre os “crimes de concorrência desleal” a propaganda enganosa, a saber: “Art. I o São acrescidos inciso e parágrafo ao art. 178 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945, mantido em vigor pelo art. 128 da Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, com a seguinte redação: XIII - uso, em rótulos, anúncios, cartazes ou qualquer outra forma de pro paganda escrita, oral ou audiovisual de indicações ou alegações suscetíveis de induzir o consumidor em erro sobre a natureza, ingredientes, características, propriedades, possibilidades de utilização, peso, medida, efeitos ou preços dos produtos, mercadorias ou serviços oferecidos ao mercado.
56 Redação original: “VII - dar indicações ou fazer afirmações falsas em prospectos, ou anúncios, para o fim de substituição, compra ou venda de títulos, ações ou quotas”. Proposta apresentada no 4o Encontro Nacional das Entidades de Defesa do Consumidor, em Curitiba, Paraná, cm outubro de 1984, pelo Dr. José Galvani Albcrton, promotor de justiça em Santa Catarina. 725
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
§ I o Para os efeitos do exposto no inc. XIII incluem-se na categoria dos serviços as operações próprias das instituições financeiras e as de seguro, em qualquer de suas modalidades. Art. 2o É renumerado como § 2o o parágrafo único do art. 178 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945. Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (...)”
Tal projeto, de autoria do prof. Fábio Konder Comparato,37foi resgatado ao ensejo do relatório em processo do CNDC, partindo-se do pressuposto de que, embora tradicionalmente a concorrência desleal viesse sendo en carada como fundamentalmente lesiva ao direito dos empresários concor rentes, havendo ainda que indiretamente uma preocupação subjacente com a proteção também do consumidor, como público-alvo da publicidade, a própria evolução do Direito Econômico acabou invertendo tal perspectiva e, atualmente, a tônica da concorrência desleal não mais se coloca na de fesa do princípio da liberdade dos concorrentes, mas, sim, na proteção do interesse dos consumidores, interpretando-se a livre concorrência como instrumento para atingir-se essa finalidade. E prossegue a profa Pellegrini Grinover em seu relatório, asseverando que, “desde 1967, quando se reviu em Estocolmo o texto da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, foi acrescida ao art. 10-bis uma alínea, declarando-se que devem ser particularmente proibidas, como atos de concorrência desleal, as indicações ou alegações, cuja utilização seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias>”. E acrescenta ainda que, “infelizmente, a pouca sensibilidade do gover no brasileiro para com a tutela do consumidor fez com que o Brasil não aderisse ao mencionado dispositivo, como de resto a muitos outros, sendo certo que o texto da Convenção foi publicado, com as aludidas reservas, pelo Decreto n° 75.752, de 8 de abril de 1975”. E merece aqui ser citada na íntegra a justificativa para que se estabe lecesse o tipo, ainda que sob a rubrica de “concorrência desleal”. “Já é tempo de acompanhar os demais países no combate à denominada pro paganda enganosa. As regras preventivas de autorregulamentação publicitária e a tutela administrativa do consumidor, embora importantes, devem ser complementadas por normas repressivas que tipifiquem, como infração penal, a propaganda enganosa, entre os crimes de concorrência desleal, na esteira da melhor doutrina. É o que o anteprojeto faz, inserindo mais um inciso e um parágrafo nas disposições legais que regem a matéria. (...)” ,7 Ensaios e pareceres de Direito empresarial, Rio de Janeiro, Forense, 1978, ps. 479-480. 726
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
6. Críticas ao sistema de publicidade enganosa com o concorrência desleal
Para o prof. J. C. Martinho de Almeida,38 ao analisar o disposto no art 212 do Código da Propriedade Industrial de Portugal, que disciplina a questão da propaganda comercial, seu conteúdo é incompleto e ainda com o ranço de proteção da “concorrência desleal”, antes de mais nada, e apenas reflexamente ao consumidor. Isso porque, acentua, “os n05^ 5 e 6 do art. 212 do Código da Pro priedade Industrial referem-se especificamente à publicidade enganosa”, “assim consideradas como instrumento de concorrência desleal as falsas indicações ou reputação próprias respeitantes ao capital, à situação finan ceira do estabelecimento, à natureza ou extensão das suas actividades e negócios e à qualidade e quantidade da clientela; os reclamos dolosos e as falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade e utilidade dos produtos ou mercadorias, as falsas indicações de proveniência de localidade, região ou território, da fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual foi o modo adaptado”. Lamenta referido autor, todavia, a falta de complemento do propósito latente da defesa do consumidor, asseverando que mencionados dispositivos “não abrangem a publicidade enganosa respeitante aos serviços, reportando-se somente a bens, ao comércio e à indústria”, valendo sua aplicação extensiva pela interpretação sistemática e teleológica, ou seja, tendo-se por meramente exemplificada a relação dos comportamentos coibidos. Seria falho ainda mencionado dispositivo, conforme o autor citado, dizendo que nada estabelece o artigo comentado sobre publicidade enganosa relativa a processos de venda e a preços. E, diante de tais falhas apontadas, aconselha: “... a sanção disciplinar da publicidade enganosa não basta para a tutela dos interesses colectivos em causa; existem aspectos graves de publicidade falsa, desigualmente a que incide sobre as qualidades ou identidade de produtos ou serviços, que deveria ser objeto não duma infracção disciplinar mas de sanções penais, a exemplo do que se passa lá fora. As multas não dissuadem as empresas de publicidade, a que não faltam meios para as pagarem; o que há é que prever determinadas condutas como penalmente censuráveis, que estabelecer os instrumentos adequados à sua detecção e investigação, que sensibilizar os tribunais para essa área do Direito Econômico em estreito relacionamento com os direitos fundamentais dos cidadãos”. (...) M “Colóquio sobre direitos do consumidor”, in Revista Progresso do Direito, n° 2, ano II, dez. 1984, Portugal, Europress, ps. 29 a 34 - artigo: “Publicidade e os direitos do consumidor”. 727
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Daí por que certamente não serão apenas suficientes as sanções de ordem administrativa previstas no Código de Defesa do Consumidor, notadamente em se tratando de propaganda enganosa ou abusiva, como a “contrapropaganda” (art. 56, inc. XII), merecendo punição os responsáveis igualmente no âmbito penal, como se verá a seguir. Não basta tampouco a autorregulamentação, como já foi assinalado em passo anterior, pois, embora imponha o código de ética do Conse lho de Autorregulamentação Publicitária o seguimento, ainda que por recomendações às agências, anunciantes e veículos, de condutas as mais sensatas, tal não se faz com a imposição necessária de que se reveste, por exemplo, a decisão judicial em sede de medida cautelar autônoma ou embutida em ação coletiva de defesa do consumidor, aqui como alvo da publicidade. Ao comentar o art. 282 do Código Penal espanhol de 1982, segundo o qual “serão punidos com pena de prisão de seis meses a um ano ou multa de seis a dezoito meses os fabricantes ou comerciantes que, em suas ofertas ou publicidade de produtos ou serviços, façam alegações falsas ou manifestem características incertas sobre os mesmos, de modo que possam causar prejuízo grave e manifesto aos consumidores, sem prejuízo da pena que corresponda à comissão de outros delitos”, Antonio Cuerda Riezu39 também dá conta da transmutação da esfera da concorrência desleal de referidos tipos penais, para a área de defesa do consumidor. Com efeito, “antes de 1978 existiam, por um lado, os delitos de pu blicidade desleal incluídos na Lei sobre a Propriedade Industrial de 1902, que haviam caído em desuso e que não eram aplicados pelos tribunais penais; e de outro, o Estatuto da Publicidade, de 1964, cujo regime atendia a alguns parâmetros políticos e sociais pré-constitucionais e que deixou de ser aplicado a partir da promulgação da Constituição; durante esse período não existiu uma tutela efetiva contra a publicidade ilícita”. Acentua, ainda, que, apesar disso, “no momento em que escrevo essas páginas (dezembro de 1995), os mecanismos de proteção frente à publicidade ilícita multipli caram-se; o cidadão ou as associações de consumidores podem recorrer à via não jurisdicional de um organismo privado, à via administrativa, ou à via jurisdicional civil, e à via jurisdicional penal - esta em um futuro imediato...” Como já assinalado nos comentários dos artigos iniciais deste trabalho, os chamados “crimes de concorrência desleal” hoje se acham previstos no Código da Propriedade Industrial, consubstanciado na Lei n° 9.279, de 14.5.96, mais particularmente em seu art. 195, a saber: 59 “Contribuición a la polémica sobre el delito publicitário”, Revista Estúdios sobre Consumo, Espanha, Ministério de Sanidad y Consumo - Instituto Nacional dei Consumo, p. 71. 728
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
“Art 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vanta gem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabeleci mentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; Vin - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe pro porcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimento, informações ou dados confidenciais, utilizáveis ou indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XTV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. § IoInclui-se nas hipóteses a que se referem os incs. XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2o O disposto no inc. XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.” Vê-se um a vez m ais, por conseguinte, a etiologia bastante próxim a entre referidos delitos e os de publicidade enganosa, concluindo-se, entretanto, que, enquanto os prim eiros visam precipuam ente à proteção da livre inicia tiva, e os fornecedores-concorrentes uns com relação aos outros, os outros visam à lisura da inform ação que deve refletir necessariam ente na escolha e econom ia dos alvos últim os da publicidade, ou seja, os consum idores de produtos e serviços. 729
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Antes de passarmos ao item seguinte, imperioso salientar que, conforme determinado pelo art. 199 ainda do Código da Propriedade Industrial, nos crimes ali previstos somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública. Com efeito, e à guisa de ilustração, dispõe referido artigo que é crime cometido, por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de pro paganda, “reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propagan da, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos”. A pena cominada a referido delito é detenção de 1 a 3 meses, ou multa, rezando ainda seu parágrafo único que “incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas”. 7. Tipo criado pela Lei n° 8.137/90
De uma carência absoluta de criminalização de oferta e publicidade enganosas e abusivas, passou-se à abundância de normas. Com efeito, além dos dispositivos a seguir analisados do Código do Consumidor atinentes à referida matéria, dispôs o inc. VII do art. 7o da Lei n° 8.137/90 que constitui crime contra as relações de consumo “induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade de bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária”. Todavia, referido tipo também novo não se confunde com os previstos pelo Código do Consumidor, notadamente os arts. 66 a 68, uma vez que estes independem de qualquer resultado lesivo, ou mesmo do induzimento do consumidor em erro, bastando a veiculação da publicidade ou oferta enganosa ou abusiva. Como se verá, aliás, o próprio CONAR (Conselho de Autorregulamentação Publicitária), em suas normas, prevê comportamentos a serem seguidos pelos anunciantes, publicitários e veículos, ao lado de outros condenáveis, pouco importando se há ou não algum resultado lesivo. O curioso com relação ao novo tipo penal da Lei n° 8.137/90 é que ficou a meio caminho entre a simples consideração de infração penal formal ou de mera conduta - que foi o critério adotado pelo Código de Defesa do Consumidor - e das figuras materiais do estelionato e suas diversas formas, ou mesmo da falsidade ideológica, nas quais se exige, com maior ou menor intensidade, um efetivo resultado danoso à vítima. O verbo “induzif\ com efeito, quer dizer capaz de levar o consumidor a comportar-se de maneira errônea ou lesiva, em decorrência de indicação 730
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se (o agente) de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária. Trata-se, em última análise, de resgate da ideia vigorante no parágrafo único do art 184 do Código Penal de 1969, ou então da tratativa da publi cidade enganosa como forma de “concorrência desleal”, falando-se sempre em possibilidade de induzimento em erro. No caso dos dispositivos do Código do Consumidor, contudo, e como se verá a seguir, pouco importa que tenha havido “induzimento” ou não do consumidor em erro, mesmo porque em se tratando de publicidade abusiva e enganosa o que se tem em conta é a potencialidade ou perigo de dano, in abstrato de uma coletividade de consumidores difusamente considerados. Já no caso do inc. VII do art 7o da nova Lei n° 8.137/90, tem-se em conta o consumidor individualmente considerado, e desde que tenha sido induzido em erro pela publicidade enganosa ou qualquer outro meio de comunicação. Ou, em outros termos: o dispositivo em questão está para o delito de estelionato, assim como os do Código do Consumidor estão para a figura de crime contra a economia popular tratada pelo inc. IX do art. 2o da Lei n° 1.521/51, visto que a mera tentativa de obterem-se ganhos ilícitos em detrimento do povo ou número indeterminado de pessoas já configura a infração, independentemente de sua efetiva obtenção. 8. Criminalização da publicidade enganosa
Durante a tramitação dos trabalhos de que se originou o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, não foram poucos os argumentos empregados por diversos setores, notadamente dos empresários da publi cidade, quanto à absoluta desnecessidade de regulamentar-se a matéria. Pareceu-nos, todavia, absolutamente necessário que assim fosse tratada a relevante matéria, até porque o sistema implementado pelo respeitado Conselho de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), por exemplo, já que privado, mesmo porque congrega anunciantes, agências e veículos de publicidade, não dispõe de força coercitiva suficiente para punir adequa damente aqueles que infringem seus próprios postulados, bem como as normas de ética da publicidade. E os argumentos em sentido contrário são praticamente os mesmos apresentados por Antonio Cuerda Riezu.40 Com efeito, “os argumentos jurí dicos contrários à criminalização da publicidade enganosa podem resumir-se Op. cit., ps. 72 e segs. 731
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
praticamente em três: primeiro, porque constitui um delito de perigo, e que essa classe de tipos deve desaparecer (ou ao menos ser reformulada) no âmbito dos delitos patrimoniais e socioeconômicos (Gómes Benitez); segundo, porque esses ilícitos devem ser relegados ao Direito Administrativo sancionador, ou totalmente (Quintero Olivares) ou em parte (Torio López); e terceiro argumento, o preceito deve desaparecer porque para sua sanção penal já existe o delito de estelionato e, em razão do princípio da intervenção mínima - que aconselha relevar-se o recurso da pena para as condutas mais graves - carece de justificativa (Grupos Parlamentares Populares, de Convergência e União, e Nacionalistas Bascos, tanto no debate do Congresso, como o debatido no Senado: como é óbvio, nenhuma dessas emendas prosperou nas respectivas apreciações)”. E rebate os citados argumentos, em síntese, afirmando que, no que tange ao delito de perigo, é necessária sua capitulação já que, como vive mos em uma sociedade de risco, em uma comunidade repleta de perigos, se a pena se impõe quando esse perigo já se consumou de fato, lesando um bem jurídico, a consequência jurídica terá chegado demasiadamente tarde, sem falar-se do caráter preventivo e pedagógico, acrescentaríamos, da incriminação da publicidade enganosa. Em segundo lugar, embora parcialmente concorde com o argumento de que bastam os dispositivos de cunho administrativo para a coibição de tal tipo de publicidade, responde dizendo que resta evidente que “o Direito Penal representa o setor jurídico que outorga o mais alto nível de proteção e que constitui um procedimento eficaz na defesa dos con sumidores, porque, quanto ao delito de publicidade enganosa, enquanto protege o direito dos consumidores quanto à veracidade da publicidade, conta com o respaldo inequívoco do Direito comunitário e da Consti tuição espanhola; há que se ter ainda em conta que o possível prejuízo derivado da publicidade enganosa pode também ameaçar bens jurídicos de uma relevância, como a vida, a saúde, a segurança, ou os interesses patrimoniais dos consumidores”. Quanto ao terceiro argumento, ou seja, no sentido de que o tipo penal de publicidade enganosa seria supérfluo, já que já existe o de estelionato, funcionando aquela como um dos seus componentes, exatamente porque é ela que conduziria o consumidor a erro, contra-argumenta o autor ora citado que se o tipo de publicidade enganosa protege o direito dos consumidores com vistas a obterem publicidade veraz e, em determinados casos, e de forma reflexa, os concorrentes, fica evidente que não se pode confundi-la com a figura do estelionato. E, pelas mesmas razões, tampouco é possível aceitar que o delito de publicidade enganosa constitua uma tentativa de estelionato, posto que, como já se assinalara noutro passo, podem existir anúncios enganosos capazes de provocar prejuízos não patrimoniais. uLogo”, conclui, “o princípio de intervenção mínima não pode ser ale gado contra essa nova incriminação; prova disso é que a jurisprudência do 732
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
Supremo Tribunal em mil raras ocasiões tem apenado um determinado este lionato segundo o vigente Código Penal cometido mediante uma publicidade, mencionando como avis rara’ a sentença de 19 de junho de 1991, em que se condenaram por estelionato agentes que realizaram uma campanha de propaganda para atrair subscritores de participação em uma sociedade, com a falsa promessa de oferecer vantagens na verdade inexistentes É o que também deixamos evidenciado ao comentarmos os dispositivos relativos à publicidade enganosa, desde a primeira edição desta obra (cf. art 66, a seguir). Aft. 66.
Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de pro dutos ou serviços: [1] Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. § 1o Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. [2] § 2o Se o crime é culposo: [3] Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 67.
Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: [4] Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo único. Vetado - Incorrerá nas mesmas penas quem fizer ou promover publicidade de m odo que dificulte sua identificação imediata. [5]
Art. 68.
Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consum idor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança: [6] Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Vetado - Incorrerá nas mesmas penas quem fizer ou pro mover publicidade sabendo-se incapaz de atender à demanda. [7]
Art. 69.
Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade: [8][9] Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
COMENTÁRIOS
[1] FALSIDADE, ENGANO E OMISSÃO EM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS - Para bem compreender-se os tipos previstos no art. 66 do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que nos 733
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
reportemos ao que diz a parte material do mesmo Código, ou seja, seus arts. 30, 31 e 35, cujo teor é o seguinte:41 Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa so bre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apre sentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Observe-se, em primeiro lugar, que os núcleos do tipo em discussão são expressados pelos verbos “fazer** afirmação falsa ou enganosa e “omitir** informações relevantes sobre produtos ou serviços. Embora referido tipo guarde íntima relação com o crime de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código Penal,42 com ele não se con funde por diversas razões, dentre as quais sinteticamente destacamos as seguintes: 41 Veja-se decisão cm sede de habeas corpus que abordou parcialmente a questão suscitada: HC n° 11.912/SP, rei. Min. Jorge Scartczzini, 5a Turma do STJ, j. de 3.4.2001, DJ de 20.08.2001, p. 496: “Processo pcnaL Representação. Desnecessidade de rigor formal. Decadência. Crime de omissão de informação cm produto. Art. 66 do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição. Inocorrência. - Esta Corte, em inúmeros julgados, tem entendido que a representação do ofendido (crimes de lesões corporais), como condição de proccdibilidadc, prescinde de rigor formal. Basta que haja a demonstração inequívoca de sua intenção em ver os autores responsabilizados criminalmcntc. - No tocante à possível ocorrência da prescrição quanto ao crime previsto no art. 66 do CDC, o writ improcedc. Como prevê o art. 109, inc. V, do CP, o prazo prescricional para o referido delito é de quatro anos, ainda não transcorridos, já que o crime foi cometido em setembro de 1997 (cf. Boletim de Ocorrência, às fls. 14). - Ordem denegada”. 42 Código Penal, “Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prcvalcccndo-sc do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 734
Titulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
a) enquanto a falsidade ideológica se materializa apenas em docu mentos públicos ou particulares, a publicidade certamente terá tantas maneiras de expressão quantas forem as modalidades de mass media, ou seja: transmissões de televisão, rádio, cinema, jornais, outdoors, televisão por cabo, via satélite, ou então, tratando-se de ofertas, panfletos, bulas, instruções, manuais de uso, broad sides etc.; b) a falsidade ideológica, embora guarde relação com a publicidade enganosa ou abusiva no que concerne à ação (fazer) ou omissão (silenciar ou calar-se sobre característica relevante de um produto ou serviço), exige que a mentira ou ocultação da verdade ou dados essenciais visem a prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, não resvalando sequer no mencionado tipo, por exemplo, simples preterição de uma for malidade ou aspecto ocultado nos mencionados documentos; c) já a, digamos até, “falsidade (ideológica) publicitária” de modo geral, aí incluída certamente a oferta de produtos e serviços, não exige qualquer dos três elementos normativos retromencionados, bastando para sua configuração que seja feita a veiculação da mensagem falaz ou então omitida na mesma veiculação. Ou melhor explicitando: enquanto na falsidade ideológica a declaração mentirosa ou a omissão fraudulenta visa a prejudicar direito (exemplo: uma escritura que declare medidas falsas de um imóvel que está sendo tran sacionado ad mensuram), criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (ou seja, e ainda por exemplo, a declaração falsa de prestação de serviços por alguém ou atestado médico falso para obtenção de benefícios previdenciários ou aposentadoria por invalidez), a mensagem publicitária falsa ou abusiva não exige sequer a tentativa de obtenção de qualquer tipo de vantagem para sua plena configuração, consumando-se pela simples veiculação por um dos meios retromencionados, ou outros que a tecnologia for desenvolvendo. E os exemplos são muitos: milagrosos métodos para emagrecimento, elixires de potência sexual infalíveis, tônicos que fazem crescer cabelos, qualquer que seja a causa de sua perda, amuletos e simpatias que melhoram a sorte do consumidor, alimentos energéticos equivalentes a quilogramas de outros elementos naturais, móveis de madeira maciça, quando em verdade são de aglomerados e folhas de papel que imitam aquela, imóveis com vistas diretas para o mar quando em verdade apenas uma fresta para aquele é permitida, metragens incorretas dos mesmos imóveis, produtos e serviços com qualidades e propriedades que de fato não as têm etc. 735
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
Ora, referidos tipos de publicidade, que poderiam até causar a morte de pessoas que viessem a crer piamente no que apregoam, só pela sua veiculação já estão certamente a merecer exemplar punição. E o que se tem em conta, certamente, não é apenas a economia po pular, seriamente comprometida com tais tipos inescrupulosos de publici dade, como também a própria incolumidade dos destinatários difusamente considerados. E, com efeito, no que tange à conceituação de publicidade enganosa ou abusiva, revelam-se expressamente os §§ Io, 2o e 3o do art 37 ainda do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Art 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de ca ráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modomesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2o É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer na tureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3oPara os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Dessa forma, fazer afirmação falsa ou enganosa sobre os requisitos elencados pelos dispositivos retro colacionados, independentemente do resul tado prático que tal afirmação venha a acarretar, já dá ensejo à punição do responsável, mesmo porque se trata, apesar de delito que se materialize pela mensagem publicitária ou oferta, de delito instantâneo e de perigo, dada a sua manifesta potencialidade de dano à saúde, vida, segurança, e economia de um sem-número de receptores-alvos das mensagens veiculadas pelos mais variados meios de comunicação de massa que se possa imaginar. Da mesma forma não se exigirá um prejuízo de natureza econômica efetivo, como no caso do estelionato ou outras fraudes. É certo que o art. 171, caput, do Código Penal fala em obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo-se ou mantendo-se alguém em erro mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, podendo-se colocar a publicidade enganosa como um dos meios fraudulentos. Mesmo que inexista tal prejuízo, entretanto, ocorre o delito ora criado pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que se veicule a publicidade enganosa ou falsa, ou ainda abusiva, apenas pela potencialidade de dano. 736
Tftulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
No caso de ter havido efetivo prejuízo em decorrência de publicida de falsa ou enganosa, entendemos haver concurso material de delitos, no caso como o de estelionato, exatamente porque o que se visa é à coibição primordial da fraude publicitária, que coloca em risco a harmonia das relações de consumo, filosofia que, aliás, preside todos os dispositivos do mencionado Código. E, com efeito, em acórdão do Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n° 41.199-DF, 2a Turma, tendo por relator o ministro Luiz Gallotti, entendeu-se que um delito só é absorvido por outro no caso da subsidiariedade implícita, quando um tipo menos grave funciona como elementar ou qualificador de outro.43 Como no caso então julgado - delito de falsidade conjugado à obtenção de vantagem ilícita - isso não ocorreria e o agente foi condenado tanto pelo primeiro como por estelionato, em concurso material, sendo essa igualmente a opinião do saudoso Heleno Cláudio Fragoso.44 E, com efeito, sobretudo em se tratando de delito altamente lesivo, ao menos potencialmente a um número indeterminado de pessoas - imagine-se o anúncio de um remédio dito milagroso que “cura câncer” ou então “AIDS”, mas que na verdade não passa de um simples fortificante ou placebo ou nem isso; ou ainda do mencionado “lindo apartamento com inteira vista para o mar”, ou mesmo com 500 metros quadrados de área, mas que na verdade não tem qualquer das duas qualidades apregoadas -, não seria razoável que o agente responsável somente fosse apenado pelo prejuízo eventual e efetivamente causado a alguns dos receptores-alvos da publicidade enganosa. Aliás, em se tomando ainda por base o delito de falsidade ideológica que estaria a exigir o prejuízo de certo interesse ao menos, veja-se o que foi decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme se observa de acórdão publicado in RT 428/327: “O prejuízo inerente à falsidade do cumental não precisa ser efetivo, nem patrimonial. Ele pode ser potencial e moral. Desde que atacado um interesse juridicamente protegido, público ou privado, desde que possa afetar interesse juridicamente apreciável, ou que gravite na órbita jurídica, o falso documental é reconhecível.”45 No que diz respeito ao elemento subjetivo do delito ora analisado, trata-se do dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de fazer afirmação RTJ n° 9, p. 257. 44 Lições de Direito Penal, São Paulo, José Bushatsky Editor, 1959, vol. IV, p. 821, n° 897, in fine. 45 RT 374/51; 431/307; 442/363; 504/390; 519/320; 525/349; 543/386; RJTSP 17/530; 21/445; 23/440; 36/314; 39/308; 44/417; 52/347; 62/374; 65/341; Nélson Hungria, Comentários ao Código Penal, 1958, voL 9, p. 253; Magalhães Noronha, Direito Penal, vol. 4, p. 200; Heleno C. Fragoso, op. cit., arts. 213 a 358, p. 344; Sílvio do Amaral, Falsidade documental, p. 77; Everardo da Cunha Lima, “Crimes contra a fé pública c o Código Penal de 1969”, in Revista Justitia, n° 84, p. 255. 737
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
falsa ou então omitir informação relevante sobre a natureza, características, quantidade, qualidade etc. de produtos e serviços. Ao contrário, repita-se, do delito assemelhado pelo modo de agir, previsto pelo art. 299 do Código Penal, não é necessário a presença do elemento normativo ali previsto, ou seja, falsidade com o fim de prejudicar direito, criar obrigação etc. Sua consumação se dá mediante simples veiculação, por qualquer meio de comunicação, da publicidade enganosa ou falsa, ou então pela omissão de informação relevante quanto aos aspectos previstos no mesmo tipo ora citado, o mesmo valendo para a oferta de produto ou serviço. Admite-se a tentativa mas tão somente quando da afirmação faba ou enganosa ou então oferta nessas circunstâncias, e não na ombsão dos aspectos retrofocados, por razões óbvias. E, no primeiro caso, alvitra-se a existência de campanha publicitária já elaborada e prestes a ser veiculada, repleta de falsidades ou chamadas enganosas, mas que não chega a ser veiculada por circunstâncias alheias à vontade do responsável. O sujeito ativo é qualquer pessoa (“anunciante”), geralmente o res ponsável pela elaboração das ideias que serão posteriormente trabalhadas e colocadas nos chamados photo boards, por exemplo, vinhetas, textos, gravações, ou outdoors etc. - responsável pelos departamentos de publi cidade e marketing de uma empresa, por exemplo -, falando o § Io do mencionado art. 66 do Código do Consumidor brasileiro igualmente de quem “patrocinar a oferta”. O equívoco mais comum que temos constatado como procurador de justiça oficiante perante o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo em matéria de crimes contra as relações de consumo refere-se a denúncias do “anunciante” como incurso no art 67, quando na verdade deveria sê-lo no art. 66 do Código do Consumidor, ou então no art. 7o, VII, da Lei n° 8.137/90. Com efeito, e conforme já assinalado neste item sob comento, são características do tipo do art. 66, em primeiro lugar, sua semelhança com a falsidade ideológica, dela diferindo, entretanto, por não exigir dolo es pecífico (relevância da afirmação falsa ou omissão), bem como do estelio nato, porque não pressupõe, necessariamente, a ocorrência de um efetivo prejuízo ao consumidor. Seu sujeito ativo, entretanto, é o anunciante/fornecedor - que, portan to, conhece perfeitamente as condições do produto fabricado ou do serviço executado. Quanto às formas de atuação, constituem-se de qualquer meio, in clusive a mensagem publicitária - e independem de resultado, ou seja, 738
Titulo II - DAS INFRAÇÕES PENAIS
de indução ou não do consumidor em erro e sobretudo da obtenção de vantagem ilícita. Já o art. 67, que será mais pormenorizadamente comentado no item 4, tem como características sujeitos ativos distintos, ou seja, quem faz pu blicidade é o profissional da área, cujo comportamento é especificamente disciplinado por lei (Lei Federal n° 4.680, de 18.6.65), que precipuamente “dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de agenciador de pro paganda e dá outras providências”, e sobretudo a ética desses profissionais (Decreto n° 57.690, de Io de fevereiro de 1966), que aprova o regulamento para a execução daquele diploma legal. São seus dispositivos mais importantes os adiante declinados, que bem demonstram esse ponto de vista quanto à manifesta distinção entre os agentes num e noutro tipo penais: Da lei - Art. I o‘São publicitários aqueles que, em caráter regular e perma
nente, exerçam funções de natureza técnica da especialidade, nas Agências de Propaganda, nos veículos de divulgação, ou em quaisquer empresas nas quais se produza propaganda.” Art. 6°“A designação profissional de Publicitário será privativa dos que se enquadram nas disposições da presente lei.” Do decreto - Art. 17. “A Agência de Propaganda, o Veículo de Divulgação e o Publicitário em geral, sem prejuízo de outros deveres e proibições previs tos neste Regulamento, ficam sujeitos, no que couber, aos seguintes preceitos, genericamente ditados pelo Código de Ética dos Profissionais da Propaganda a que se refere o art. 17, da Lei n° 4.680, de 18 de junho de 1965.” Observe-se, nesse sentido, que os incs. I e II falam, em última análise, de publicidade abusiva (I) e publicidade enganosa (II), dispondo que: “7 - Não é permitido - a) publicar textos ou ilustrações que atentem contra a ordem pública, a moral e os bons costumes; b) divulgar informações confi denciais relativas a negócios ou planos de Clientes-Anunciantes; c) reproduzir temas publicitários, axiomas, marcas, músicas, ilustrações, enredos de rádio, televisão e cinema, salvo consentimento prévio de seus proprietários ou autores; d ) difamar concorrentes e depreciar seus méritos técnicos; e) atribuir defei tos ou falhas a mercadorias, produtos ou serviços concorrentes; f) contratar propaganda em condições antieconômicas ou que importem em concorrência desleal; g) utilizar pressão econômica, com o ânimo de influenciar os Veículos de Divulgação a alterarem tratamento, decisões e condições especiais para pro paganda. II - É dever - a) fazer divulgar somente acontecimentos verídicos e qualidade ou testemunhos comprovados; b) atestar, apenas, procedências exatas e anunciar ou fazer anunciar preços e condições de pagamento verdadeiros; c) elaborar a matéria de propaganda sem qualquer alteração, gráfica ou literária, dos pormenores do produto, serviço ou mercadoria; d) negar comissões ou quaisquer compensações a pessoas relacionadas direta ou indiretamente com o Cliente; e) comprovar as despesas efetuadas;/) envidar esforços para conseguir, 739
C D C - Volume I - José Geraldo Brito Filomeno
em benefício do Cliente, as melhores condições de eficiência e economia para sua propaganda; g) representar, perante a autoridade competente, contra os atos infringentes das disposições deste Regulamento.”
Por outro lado, quem promove a publicidade, certamente, é o veículo (estação de rádio, televisão, jornal, revista, prospecto e qualquer outro instrumento de mass media). Assim, o art. 2° da referida lei reza: “consideram-se Agenciadores de Propaganda os profissionais que, vinculados aos veículos da divulgação, a eles encaminhem propaganda por conta de terceiros”; e o art. 4o dispõe que “são veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir mensagens de propa ganda ao público, desde que reconhecidos pelas entidades e órgãos de classe, assim considerados as associações civis locais e regionais de propaganda bem como os sindicatos de publicitários”.46 Quanto ao art. 7o, VII, da Lei n° 8.137/90, que, como visto, dispõe ser crime contra as relações também de consumo “induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sem a natureza, qualidade de bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária”, fica a meio caminho entre o delito de publicidade enganosa, propriamente dito, e o de estelionato. Além disso, essa forma é apenas dolosa, e de resultado, ao menos na indução em erro de um consumidor. Em razão dessas considerações, poderíamos grafar os sinais seguintes, para ilustrarmos aquela circunstância de crimes de menor, média e maior abrangência, a saber: E a jurisprudência tem-se manifestado a respeito, consoante os acórdãos por nós reunidos a seguir. Na Ap. Crim. n° 769.299/7 - Santo André, absolveu-se réu acusado pela prática dos arts. 66 e 67. Ou seja, por ter apregoado em sinais de publi cidade interna que cartões de crédito seriam aceitos para “preço à vista” em seu estabelecimento comercial, mas cobrou percentual maior quando o consumidor se apresentou ao caixa. Principais trechos do acórdão: (