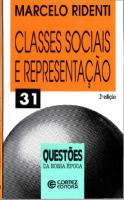Classes sociais e representação 8524905247, 9788524905247
535 115 10MB
Portuguese Pages [120] Year 1994
Polecaj historie
Citation preview
MARCELO RIDENTI
CL® SOCIAIS
Coleção QUESTÕES DA NOSSA ÉPOCA Volume 31
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Ridenti, Marcelo, 1959Classes sociais e representação / Marcelo Ridenti. [apresentação Francisco de Oliveira] 2. ed. - São Paulo, Cortez, 2001. - (Coleção questões da nossa época ; v. 31) Bibliografia ISBN 85-249-0524-9 1. Classes sociais 2. Materialismo histórico I. Título. II. Série.
CDD-305.5
94-0399 índices para catálogo sistemático:
1.
Classes sociais : Sociologia 305.5
MARCELO RIDENTI
CLASSES SOCIAIS
QUESTÕES DA NOSSA ÉPOCA /aCORT€Z vy 6DITORA
CLASSES SOCIAIS E REPRESENTAÇÃO Marcelo Ridenti Capa: Carlos Clémen Revisão: Maria de Lourdes de Almeida, Noemi Vasconcellos dos Santos Composição: Dany Editora Ltda. Coordenação Editorial: Danilo A. Q. Morales
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou duplicada sem autorização expressa do autor e do editor. © 1994 by Marcelo Ridenti Direitos para esta edição CORTEZ EDITORA Rua Bartira, 317-Perdizes 05009-000 - São Paulo - SP Tel.: (11) 3864-0111 Fax: (11) 3864-4290 E-mail: [email protected] www.cortezeditora.com.br Impresso no Brasil - feyereiro.de 2001
SUMÁRIO Apresentação (Francisco de Oliveira) . . . Nota introdutória.........................................
7 11
I Sobre as classes sociais........................ 1. -Classes sociais e marxismo .................. 2. Fragmentos de um debate: Poulantzas, Thompson e Anderson ........................... 3. Marxismo, classes e individualismo metodológico: Adam Przeworski............ 4. Trabalho produtivo, classe trabalhadora e classes médias...................................... 5. Nota sobre classe e estratificação social
13 13
EL Sobre representação de classe............ 1. Representação das relações sociais pela troca de mercadorias (fetichismo da mercadoria)............................................... 2. Representação dos cidadãos proprietários no Estado (fetichismo jurídico do Estado) 3. Representação de classe e representação institucional (fetichismo da representação política)..................................................... 4. Estado e representação de classe: Giannotti e Oliveira................................ Considerações finais
......................................
Bibliografia ......................................... .
114
34
58 63 82 86
86 88
92 100 110
APRESENTAÇAO
Seja bem-vindo. Eis que chega em boa hora Classes sociais e representação, de Marcelo Ridenti. Desde uma antiga coletânea organizada por Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni, a bibliografia diretamente relacionada à teoria das classes sociais acusa a lacuna de livros como esse, cujo destino e intenção é o de servir como guia aos estudantes, no intrincado labirinto da teoria das classes. Por isso mesmo, ele prestará um serviço inestimável.
O livro atém-se estritamente à discussão no interior do marxismo sobre a teoria das classes sociais e sua representação. Não é uma limitação, como poderia ser pensado. O livro não tem a pretensão de ser uma discussão abrangente sobre classes sociais, e não se anunciando como tal, não frauda o leitor, vendendo gato por lebre. Como é no marxismo que a teoria das classes sociais tem uma centralidade somente equipa rável à teoria do valor, o livro introduz o leitor, especializado ou não, na discussão e controvérsia mar xista. Ridenti expõe os fundamentos da teoria das classes sociais no marxismo e serve-se de uma abundante bibliografia para matizar, marcar diferenças, atualizar a teoria. Aí estão o próprio Marx, of course, Perry Anderson, Àdam Pzerworski, José Arthur Gianotti, Louis Althusser, Harry Braverman, Fernandq Henrique
7
Cardoso, Ruy Fausto, Francisco de Oliveira, Nicos Poulantzas, E. B. Pasukanis, Luis Pereira, Edward P. Thompson, e muitos outros, ao lado de Max Weber, evidentemente não marxista, mas cuja própria teoria de classes construiu-se, em muitos casos, como um diálogo com Marx. O livro não é uma coletânea de textos dos autores acima citados e dos mais que comparecem na biblio grafia consultada. E um diálogo entre os mesmos, conduzido por Marcelo Ridenti. Em não tendo o pro pósito de teorizar, o autor não se resume em expor, e comparar e confrontar o pensamento dos autores dos quais se vale. Avança, critica, propõe correções, indi cando as vertentes da teoria das classes sociais no marxismo, que considera mais relevantes. Com isso, sua própria formulação e contribuição à teoria ganha seus contornos, embora não seja o propósito maior do livro, A teoria das classes sociais, principalmente a que foi formulada pelo marxismo, vem sofrendo, de há muito, pesado combate. Alguns falam de sua falta de utilidade para uma ciência do social, e outros põem o acento da crítica na superação de alguns pressupostos fundamentais da teoria, como é o caso, freqüentèmente, dos autores do chamado “marxismo analítico”. Ao mostrar a riqueza do debate no interior do próprio marxismo, Ridenti assume a tarefa de mostrar que, longe da petrificação imputada pelos seus inimigos, o debate teórico no interior do marxismo continua rico e em amplo desdobramento. Seria muito positivismo, uma postura teórica à qual o marxismo se opõe ferreamente, dizer que a realidade social se encarrega de mostrar que a teoria das clqsses nem é desnecessária, nem está obsoleta. • Mas não há duvida de que. uma
8
tentação ocorre a este apresentador: no Brasil de hoje, com importações liberadas, a teoria das classes anda nas ruas. Que é que explica que alguns pilotem relu zentes Mitsubishi e BMWs enquanto milhões se ensardinham nos superlotados ônibus e metrôs da cidade? A teoria das classes sociais marxista ajuda a explicar o porquê. Seja bem-vindo Marcelo e seu oportuno livro. São Paulo, março de 1994
Francisco de Oliveira
Professor titular do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e pesquisador do CEBRAP.
9
NOTA INTRODUTÓRIA Enfrentar teoricamente a questão das classes sociais e de sua representação é uma imposição aos estudiosos das ciências humanas. Não obstante, em certos meios acadêmicos, prevalece uma “conspiração do silêncio” sobre o conceito de classe sçcial, que alguns sociólogos dão por suposto estar esclarecidor enquanto outros julgam-no superado — como já apontou, por exemplo, Brasílio Sallum Jr. (s.d.: 13-14). Juntando esforços com aqueles que combatem a referida “conspiração”, e sem a pretensão de esgotar o tema — por certo ficam lacunas, as quais os leitores mais atentos saberão suprir por conta própria —, o livro poderá ser útil sobretudo aos estudantes. O pro pósito é didático: fazer um mapeamento da contribuição teórica de alguns dos autores nacionais e estrangeiros mais importantes no estudo das classes sociais. Trata-se de um balanço de diferentes abordagens sobre as classes no campo do materialismo histórico, elaborado a partir das nossas atividades de pesquisa —• onde podem ser encontradas análises concretas correspondentes ao trabalho teórico aqui desenvolvido (Ridenti, 1989, 1992, 1993, 1993b) — e das de docência no Curso de Pós-Graduação em Sociologia na Univer sidade Estadual Paulista (UNESP). Não se pretende agradar aos defensores de uma suposta ortodoxia marxista-leninista, tampouco aos que julgam o materialismo histórico ultrapassado, ou carente de cientificidade. O ensaio não deixa de conter um debate implícito com essas vertentes de pensamento. Finalmente, dedico o livro aos alunos e colegas que o debateram comigo, em diferentes momentos, estimu lando a publicação.
11
I SOBRE AS CLASSES SOCIAIS 1. Classes sociais e marxismo Não há unanimidade entre os marxistas sobre o conceito de classes sociais, sequer sobre o seu signi ficado dentro das obras de Marx, que jamais tratou explicitamente da questão, exceto em passagens isola das. Dentre outros autores, Bob Cárter indicou a di versidade do uso do termo classe nos escritos de Marx, dependendo do contexto em que é empregado. Cárter conclui que a ausência de definição formal de classes em Marx revela que elas são processos em andamento, não enquadráveis em fórmulas, mas determinadas pela luta de classes (Cárter, 1985:52). Marx parece usar o termo “classe” com sentidos nem sempre equivalentes. Por exemplo, Sedi Hirano mostra que Marx o empregou tanto num sentido “ge nérico-abstrato”, quanto num sentido “específico-parti cular”. No primeiro são realçadas as determinações comuns e gerais pertencentes a todas as épocas, no segundo o fenômeno específico “determinado pela pro dução capitalista moderna” (Hirano, 1974:82-86). Ou seja, num sentido amplo, o termo classe identifica os grandes grupos humanos que se relacionam e lutam entre si para produzir o próprio sustento, criando relações de dominação para apropriarem-se do excedente gerado além do mínimo necessário à subsistência. Assim, as “classes” estariam presentes tanto nas so ciedades estruturadas em castas ou estamentos, quanto nas sociedades de classe modernas: nesse sentido foi formulada a conhecida frase do Manifesto comunista,
13
segundo a qual “a história ‘de todas as sociedades até nossos dias tem sido a história das lutas de classes” (Marx-Engels, s/d, 111:21). Num sentido estrito e es pecífico, só caberia falar em classes nas sociedades industriais capitalistas, quando surge uma classe bur guesa, que concentra em suas mãos a propriedade dos meios de produção. Ela investe capital para valorizá-lo mediante a extração de um sobre-trabalho não pago, fornecido pelo emprego de uma classe de trabalhadores assalariados, “livres”, a um tempo despossuídos e sem qualquer vínculo tradicional com seus patrões ou com a terra e demais meios de produção. Esses trabalhadores vêem-se obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver, e só constituem-se propriamente como classe quando se associam para lutar contra a exploração a que são submetidos. Nesse sentido específico aparece riam as classes n’O capital (Marx, 1983). Em Marx, lógica e política, tomo H, Ruy Fausto realiza um estudo da obra de Marx no tocante às classes sociais “em si” sob o capitalismo (1987:201286). Na medida em que esse autor vem se dedicando intensivamente há anos ao estudo de Marx — e faz um bom apanhado de seu pensamento sobre as classes, ainda que não se concorde de todo com ele —, cabe uma exposição resumida do texto de Fausto. O objetivo é colocar de forma genérica a questão, das classes “em si”, de uma perspectiva marxista, mesmo que o resumo das idéias de Fausto acarrete a perda do movimento dialético de sua argumentação. O ensaio de Fausto tem como objeto apenas as “classes em si” ou “classes em inércia”, ele praticamente não entra nas “questões que concernem à prática política e a da relação entre classe em si e classe para si” (1987:201). Estudá-lo é interessante para os propósitos deste livro, desde que se tenha clareza de que a
14
separação entre classe “em si” e classe “para si” só é posta para efeitos analíticos, pois na dinâmica da realidade o econômico não é separável do político, nem as “classes em inércia” podem ser distinguidas das classes em movimento não inercial, as classes “em si” das classes “para si”. Importa também porque demonstra que “os fenômenos do capitalismo contem porâneo [...] são pensáveis a partir da dialética clássica [...]. O capitalismo do século XX não elimina as análises de O capital. Ele as ‘nega’ no sentido de Aufhebung” (Fausto, 1987:285). Em primeiro lugar, Fausto procura fazer uma análise da estrutura de classes nas sociedades capitalistas, tal qual ela aparece nas obras dé Marx, que tratariam “das classes fundamentais ou das classes em sentido pleno”, bem como das “classes intermediárias”, além de pensarem “o destino do conjunto delas”. O autor reconhece que, “na realidade, a teoria das classes, em Marx, não está presente nem ausente. Ela está pres suposta mas não posta” (1987:202). Ele faz uma análise alongada de como as classes aparecem em O capital e outros livros de Marx, com uma argumentação que não é possível reproduzir aqui. Cabe apenas mencionar suas conclusões: seriam três as “grandes classes” para Marx, as quais poderiam ser designadas rigorosamente como classes, a classe dos capitalistas, a dos proprie tários fundiários e a dos trabalhadores assalariados, que aparecem respectivamente como proprietários de capital, de terra e de força de trabalho, tendo como rendimentos correspondentes o lucro, a renda da terra e o salário. A classe dos proprietários fundiários seria “consti tuída pelos proprietários da terra, que . cedem a posse dela ao capitalista arrendatário, e obtém através disto uma porção de mais-valia, a título de renda da terra”
15
(1987:220). Segundo Fausto, Marx não considerava essa classe como arcaica ou de transição — embora a propriedade da terra não seja “um processo como o capital”, “ela não é uma sobrevivência das formas anteriores” (1987:215):
A propriedade da terra por outro que não o capital seria uma condição negativa que paradoxal mente criaria condições mais favoráveis para o capital. É que se a existência da renda fundiária implica uma punção sobre o lucro total, a propriedade da terra pelo capitalista implicaria igualmente uma redução do capital, já que uma grande parte do valor seria imo bilizada na aquisição da terra. (Fausto, 1987:218-219)
Na classe dos capitalistas, definida pela posse do capital e não pela função de capitalista, estariam com preendidos o capitalista industrial, “o capitalista co mercial e o capitalista ‘a juro’. Isto porque lucro significa o ganho do empresário (JJntemehmergewinri) — que é ele mesmo igual a lucro industrial mais lucro comercial — mais o juro” (Fausto, 1987:220). Na classe dos trabalhadores assalariados estariam incluídos tanto os assalariados produtivos (diretamente produtores de 'mais valia, aqueles que valorizam o capital com seu trabalho), quanto os assalariados im produtivos, porém apenas aqueles que vendem sua força de trabalho ao capital (excluídos portanto, por exemplo, os assalariados em serviços domésticos). As sim, fariam parte dessa classe tanto os assalariados na indústria, uma parte dos quais seriam “proletários” — para Marx, “o domínio da noção de ‘proletário’ cor responde à de trabalhador produtivo não qualificado (ou ‘pouco qualificado’)”, segundo Fausto, (1987:234) ♦—, quanto os trabalhadores assalariados pelos capita listas comerciais e “a juro”, isto é, aqueles que, embora 16
improdutivos, situam-se no interior do processo global de produção (1987:222-223). No entanto, o trabalhador que se eleva quanto “à qualificação, à posição hierár quica ou à grandeza de salário”, tenderia a “perder as determinações que caracterizam a condição de membro da classe (pelo caráter peculiar da força de trabalho que ele possui, pelas condições da função que ele exerce, ou pelas duas coisas)”. O autor reconhece não ser possível “determinar o ponto preciso em que o limite é ultrapassado, mas podemos mostrar o signifi cado do movimento" (1987:229). Num exemplo claro, o manager ou diretor da empresa não pertence à “classe dos assalariados”, embora seja assalariado, pois exerce função de controle e gerenciamento do trabalho dentro da fábrica, que nos primórdios era executada pelo próprio capitalista, “um trabalho ligado à exploração”, o qual “não permite nenhuma identidade de situação entre o manager e o trabalhador assalariado”. Tais assalariados, como o manager, constituiriam uma classe intermediária, fora das classes fundamentais, embora “próxima da classe dos proprietários do capital” (Fausto, 1987:233). Portanto, seriam três as grandes classes ligadas ao modo de produção capitalista, as únicas que poderiam ser chamadas de classe num sentido pleno, pois “de finidas por relações de distribuição que são a expressão imediata de relações (ou ‘contra’-relações) de produção (ou o que vai no mesmo sentido, que dependem da condição de possuidores dos ‘agentes’ da produção [lucro, renda da terra e salário])” (Fausto, 1987:241). Além das três classes em sentido pleno, haveria para Marx classes intermediárias e de transição, deixadas à margem em O capital, na medida em que “uma apresentação crítica da economia política^ que só trata das relações fundamentais só exige também a teoria
17
das grandes classes” (1987:235). Ruy Fausto dá um quadro sistemático abreviado das classes sociais fora do âmbito das três “grandes”, baseado em diferentes obras de Marx. À parte o lumpenproletariado, composto por marginais ao sistema produtivo — como mendigos, ladrões, prostitutas etc. —, que obtém “os seus ren dimentos por meios estranhos não só às relações ca pitalistas enquanto tais mas também à circulação sim ples”, o autor enumera os seguintes grupos: 1. [...] as “classes” que se constituem a partir das relações da circulação simples, camponeses e artesãos sem assalariados. Eles são produtores de mercadorias [...], mas “Marx dirá que eles não são nem produtivos nem improdutivos, porque são exteriores ao sistema. [...] Nesse grupo podem ser incluídos os pequenos co merciantes que não empregam trabalhadores assala riados, embora eles não sejam evidentemente pro dutores de mercadorias. Essas “classes” são “exte riores” ao sistema, mas as suas trocas se fazem, em parte pelo menos, com agentes que pertencem a grupos interiores ao sistema. (1987:242-244)
Fausto observa que a “exterioridade” dessas “classes” é contraditória, [...] a relação que efetivamente existe aqui é de “Aufhebung": as relações “dominantes" “supri mem" as relações dominadas. As relações “domi nadas” são negadas pelas relações dominantes, em bora subsistam enquanto relações “negadas”.[...] As relações não-capitalistas são “suprimidas” em rela ções capitalistas. Cabe à pesquisa e à teoria social mostrar até onde e como. (Fausto, 1987:244-245)
18
2. [...] as “classes” de trabalhadores improdutivos que não são “exteriores” ao sistema (porque eles não estão ligados à produção simples) mas que pertencem à exterioridade- no sistema: o fundo do qual provêm os seus salários são os rendimentos do sistema (lucro, renda fundiária e salário), eles mesmos porções do valor total criado, ou então o imposto que por sua vez provém desses rendimentos. Elas representam de certo modo a exterioridade no interior do sistema. Desse grupo fazem parte por um lado os que Marx chama de “improdutivos políticos”, isto é, os assalariados do Estado, e por outro os domésticos [...]. (Fausto, 1987:245)
3. [...] os trabalhadores que fazem parte do processo produtivo (imediato ou total) mas que ficam excluí dos da classe dos trabalhadores assalariados por ultrapassar certos limites, de qualificação, de poder no processo de trabalho, ou de remuneração [...], aqui se trata de grupos que pertencem à interioridade do sistema mas que, por ultrapassar certos limites, se situam fora das classes fundamentais. (Fausto, 1987:246-247) 4. [...] o grupo, hoje tão importante, dos profissionais liberais, advogados, médicos, artistas independentes, etc., que nas obras de Marx podem aparecer como
produtores independentes de objetos imateriais que eles vendem como mercadorias. [...] Entretanto, em outros textos poder-se-ia perguntar se Marx não tende a assimilar esses produtores independentes de objetos imateriais a assalariados improdutivos, isto é, com o desenvolvimento do capitalismo, 19
os serviços se transformaram em trabalho assala riado & todos os seus executantes em assalariados, tendo assim esse caráter (Charaktef) em comum com o trabalhador produtivo. [...] (1987:247-249)
Contudo, independentemente da tendência de desen volvimento do capitalismo, o trabalho dos profissionais liberais no sentido tradicional, como o de médicos e advogados, não implica uma relação salarial,
essencialmente porque o profissional liberal é dono dos seus meios de produção, ele vende serviço. “Serviço” é aqui rigorosamente o produto imaterial do produtor, independente, de bens imateriais ou o produto imaterial do assalariado, na relação dele (produto) para com o comprador -r-- usuário. (Fausto, 1987:258-259)
Feito um esboço de sistematização da estrutura de classes das sociedades capitalistas, tal como aparece ém Marx, Fausto mostra como aquele pensador via “as tendências do sistema no que se refere à estrutura de classes (portanto só o em si das classes)” (1987:261). Marx observaria, por um lado, “uma polarização burguesia/proletariado, o que significa uma tendência de crescimento do proletariado, pela absorção dos pequenos produtores, e de centralização do capital”. Mas, por outro lado, veria a tendência “de um aumento crescente do número dos improdutivos, sem dúvida os impro dutivos exteriores à produção”, como os empregados domésticos (1987:268-269). Marx apontaria também o virtual desenvolvimento da classe dos capitalistas e da classe dos trabalhadores assalariados. “No que se refere à primeira o fenômeno mais importante é a separação
20
entre a propriedade e a função de capitalista”, isto é, surgiria a figura do administrador do capital alheio, enquanto o proprietário do capital ficaria, sem função no processo produtivo, delegando-a a esse administrador (1987:270-271). No tocante à classe dos assalariados, haveria aumento no “número absoluto de assalariados improdutivos no interior da produção, porém Marx não afirma que eles aumentam relativamente ao número dos trabalhadores produtivos” (1987:271). Marx suporia ainda “uma espécie de massificação do trabalhador comercial no sentido de que com o desenvolvimento do sistema a sua força de trabalho tende a se desva lorizar” (Fausto, 1987:274). Sem a pretensão de fazer “um balanço crítico geral que avalie a correção ou incorreção das perspectivas de Marx”, Fausto procura analisar o sentido de algumas características do capitalismo contemporâneo “no inte rior de uma lógica dialética, mais particularmente na ‘linha’ da lógica de O capitar. Ele aborda “três elementos”: “a redução progressiva das ‘classes’ dos pequenos produtores, isto é, em. geral, a invasão pro gressiva do capital [...], o crescimento dos improdutivos tanto dentro quanto fora da produção, e [...] a separação entre a propriedade do capital e a função” (Fausto, 1987:275-276).
Em Trabalho e reflexão, analisando o célebre trecho inconcluso sobre as classes no terceiro volume de O capital, Giannotti vai além do estudo das “classes em si” proposto por Fausto, ao observar que só a parti cipação nas três grandes formas de rendimento não chega a integrar capitalistas, assalariados e proprietários fundiários em todos conflitantes. “Somente o. processo de efetivação dessas posições, a luta concreta que, ao 21
mesmo tempo, separa e reúne, nos dá o tecido da sociedade civil” (Giannotti, 1983:292). De modo que muitos indivíduos ficariam aquém da luta, pois “não chegam a transpassar sua individualidade pessoal a fim de atingir a individualidade mais globalizante da classe”. A tripartição entre as classes seria “uma condição de possibilidade sempre presente”, que entretanto nem sempre é reproduzida na trajetória real da classe em si à classe para si: No momento da efetuação, as três classes se me tamorfoseiam em duas, mas durante a trajetória elas são múltiplas, a contradição fundamental se reali zando pelas polarizações determinadas pela concor rência. (Giannotti, 1983:292) Em outros termos, para Giannotti, as três classes virtualmente transformam-se em duas, na medida em que o monopólio da terra “termina por se subordinar inteiramente aos ditames do capital” (1983:292). Mas essas duas classes não aparecem com clareza senão no momento revolucionário, quando toda a sociedade se polariza em torno de seus respectivos projetos. Durante a trajetória do “em si” ao “para si”, as classes fundamentais multiplicam-se em várias, pois a contra dição fundamental entre capital e trabalho seria realizada pelas inúmeras polarizações determinadas pela concor rência. Assim, pode-se supor que os detentores do capital, bem como os assalariados a eles subordinados, subdividem-se em vários grupos, estratos ou “classes”, conforme a concorrência entre si pelo mercado. Nesse sentido, o termo classe seria usado com uma abrangência maior, sem muito rigor, praticamente sinonimizado a estrato, grupo social ou ainda “fração de classe”. Tal raciocínio parece encontrar fundamentação no próprio Marx, que estava longe de usar o termo com um
22
sentido unívoco. Conforme escreveu José Arthur Giannotti, no texto “Em torno da questão do Estado e da burocracia”:’
As três formas aparentes do capital, ,em conseqüência, as formas mais concretas, vale dizer, a trindade dos rendimentos, configuram resultados e pressupostos diante dos quais a sociedade capitalista se repõe. A análise da situação concreta deve tomá-las como parâmetros para investigar seu movimento efetivo de reposição, movimento pelo qual várias classes se conformam no processo de efetuação duma con tradição básica, capital: e trabalho; esta somente assume a forma de duas classes antagônicas no instante da revolução. E a história que efetiva a abstração, sempre existente na trajetória do vir a ser, como a abstração mais concreta. (Giannotti, 1977:118) Não se pense, como parecem fazer Poulantzas e outros teóricos, que a classe “se cliva em frações e segmentos”, pois ela “não é mero dado, estrato existente na pirâmide social, a ser então capturado por um conceito típico”. Ao contrário, ela é “o. movimento, efetivo e contraditório, pelo qual um conflito tende a transformar-se numa aliança”. São as frações e seg mentos (as várias classes, num sentido pouco rigoroso), que “tendem a se integrar numa das posições mais abstratas, indicadas pelo circuito do capital em geral” (1977:118). Isto é, os grupos, frações, estratos ou “classes” postos pela concorrência mercantil tendem a constituir-se numa das classes fundamentais, que são resultado virtual de uma trajetória, não algo dado de antemão:
[...] o mero ator, assalariado, capitalista ou proprie tário fundiário, não é tomado [por Marx] desde logo
23
como membro duma classe preexistente, mas tão-só como constituinte (Bildner) [construtor] da classe. Toda questão se resume, pois, em assinalar o tipo de movimento que conduz cada agente [como suporte da forma valor] a formar uma classe. (1977:117) Por exemplo,
dilacerados pela concorrência, os trabalhadores se aliam em frações conforme as conveniências da luta cotidiana, até o momento que essa luta, suponhamos, pelo aumento de salários, se converta na luta pela categoria salário. Agora cada um trata de defender a maneira pela qual se insere no modo de produção capitalista. Uma coisa é pleitear aumento de salários, outra, combater o capitalista que dispensou os líderes duma greve por aquele aumento, os fundadores de um sindicato capaz de assinar um contrato coletivo etc. (Giannotti, 1977:118)
Giannotti parece ter razão, ao afirmar que “a exis tência da classe não se resolve num agrupamento de indivíduos, a classe operária não se confunde com a totalidade do proletariado, nem mesmo com um conjunto de agentes aos quais se atribui uma consciência pos sível” (1983:292). Ou seja, para determinar a existência de uma classe, não basta a inserção na produção de um conjunto de homens, mesmo daqueles a quem é atribuída uma consciência. Além da posição no processo produtivo, importa como os agentes sociais constroem sua própria consciência. Esta não pode ser literalmente trazida “de fora” da classe em si, por partidos ou intelectuais que supostamente tenham o domínio das leis da História, ela deve brotar de dentro da própria classe, de sua práxis. Por isso, os assalariados, pro
24
prietários de terra e capitalistas sao construtores (Bildnef) de suas classes. Quando Marx atribuiu um papel revolucionário aos trabalhadores, ele não estava prescrevendo regras sobre como se daria a conscientização operária, nem sobre as formas que tomariam a revolução e o comunismo. Não era profeta, nem bruxo. Mostrava apenas que, dada a constituição do capitalismo, estava posta a possibilidade objetiva, a virtualidade mesmo, de que o conjunto dos trabalhadores “livres e iguais” se cons-. tituíssem em classe e rompessem com o capitalismo e com toda e qualquer exploração de uma classe por outra, mesmo que num dado momento eles não tivessem consciência de que sua ação poderia revolucionar o mundo. Os rumos a serem tomados pelo processo de construção da classe “para si” dependeria da dinâmica da luta de classes. Marx não tinha nenhuma fórmula pronta, embora participasse dessa dinâmica como in telectual e militante. Em uma palavra, as análises de Marx apontavam para a virtualidade de uma consciência operária revolucionária. A possibilidade dessa cons ciência, a tornar-se plena só no final de um processo tortuoso de constituição da classe “em si” e “para si”, foi a única coisa atribuída por Marx à classe operária, nao como algo ideal, da mente do político ou do pesquisador, mas a partir de uma análise exaustiva do capitalismo e das lutas de classe de seu tempo, que colocavam como virtualidade histórica real a consti tuição de uma consciência revolucionária. Por isso mesmo, o termo “atribuição” talvez seja um tanto impróprio. Ele foi usado por Lukács, em História e consciência de classe (1974), para designar a “cons ciência de classe adjudicada” ou “atribuída” à classe operária; mas sua origem está em Weber, de quem Lukács foi discípulo, antes de se tornar marxista. Para
25
Weber, o sociólogo atribui idealmente uma racionali dade à realidade social que em si mesma é caótica, a fim de poder compreendê-la (ver, por exemplo, Cohn, 1979). Está-se vendo não se tratar disso. A trajetória de construção da classe e correspondente consciência seria fruto da própria dinâmica da luta, a qual, no fim do processo, poderia implicar a ruptura revolucionária com a sociedade de classes. Não se trata de uma conscientização que um grupo aguerrido de militantes de um partido com conhecimentos das “leis objetivas da História” levaria para a classe, atri buindo a ela uma consciência à qual não poderia chegar por seus próprios meios, dada a alienação a que se submeteria nas fábricas. Isso não implica negar a importância do trabalho político junto aos trabalha dores — que o próprio Marx, por exemplo, realizava. Tampouco se nega legitimidade à tentativa de grupos políticos para influenciar a dinâmica de constituição da classe e da sua consciência, e mesmo de assumir a vanguarda do processo revolucionário, uma vez in tegrados na trajetória de construção da própria classe. Trata-se, isto sim, de conceber o movimento da so ciedade centrado nas classes, não na sua suposta van guarda, que mostraria ao proletariado e às massas trabalhadoras o caminho correto a ser seguido. Era essa a visão de Marx e Engels, conforme demonstrou Claudin, ao analisar a postura deles frente à revolução de 1848 (Claudin, 1975). O caminho de constituição da classe, da consciência de classe, não é predeterminável. Pode-se “atribuir” à classe trabalhadora um fim, a ruptura com o m°do de produção capitalista e com a sociedade de classes para a construção do comunismo. Nos termos do jovem Marx, atribui-se a ela a possibilidade de superação do “reino dá necessidade” e de constituição do “reino da 26
liberdade”. Esse fim seria fruto de uma análise científica e política do capitalismo que, fundado em relações classistas contraditórias de produção, não poderia cum prir a promessa de abundância de bens para todos, de liberdade e de igualdade, anunciada pelo advento da Revolução Industrial e do próprio capitalismo. Numa formulação sintética, não poderia cumprir a promessa porque uma minoria (a classe burguesa), vive do tra balho da maioria (a classe dos trabalhadores assalaria dos). Há apropriação privada pela burguesia da riqueza excedente (da mais-valia), produzida pelo conjunto dos trabalhadores. O caráter potencialmente revolucionário e libertador da indústria foi visto por inúmeros pen sadores, dentre os quais Saint Simon, que no entanto não perceberam a impossibilidade da indústria realizar suas promessas libertárias sob o capitalismo. Isto é, não haverá libertação humana enquanto a indústria estiver embasada na produção de mais-valia, na alie nação do trabalho, no fetiche da mercadoria a coisificar, desumanizar as relações sociais. Todavia, não são pre determináveis os passos para chegar a esse fim revo lucionário, “atribuído” à classe trabalhadora (fim que não se confunde necessariamente com a soma ou a média das consciências individuais dos trabalhadores num dado momento histórico). Vale dizer, os passos na construção do “reino da liberdade” dependem da associação e da luta dos agentes sociais, incluindo a ação dos grupos e partidos ditos de esquerda. Marx não era um evolucionista-determinista, a ver um sentido imanente e inevitável no decurso da História, que pela sua dinâmica de desenvolvimento econômico traria necessariamente a vitória do proletariado, por isso mesmo o suposto detentor da verdade histórica, consubstanciada na linha política traçada pelos intelec tuais, que constituiriam o Partido como a vanguarda
27
da classe revolucionária. Alfred Schmidt já demonstrou como Marx estava longe de ser um evolucionista (1977:240-258). Dentre outros, Luiz Pereira indicou que Marx não via um “sentido imanente” na História, nem a concebia como desprovida de qualquer sentido próprio, em que supostamente haveria uma competição no presente entre valores e possibilidades históricas equivalentes. O futuro político não estaria predetermi nado para Marx, nem seria totalmente indeterminado. Ele dependeria de uma “competição entre possíveis históricos não equivalentes”, a História teria um “sentido imanente potencial”, a saber, a ruptura com a exploração de classe, que dependería da capacidade de luta da classe trabalhadora, da “práxis coletiva” (Pereira, 1978:29-34). Fernando Claudin também demonstra como a interpretação de Marx e Engels sobre o devir histórico não era de um evolucionismo determinista, embora reconheça ser possível encontrar na obra desses autores “formulações que tomadas isoladamente se pres tam a uma interpretação teleológica ou naturalista do desenvolvimento histórico” (Claudin, 1975:46). A alternativa virtual para fugir à barbárie capitalista, que tende a reproduzir-se continuamente, mesmo cortada por crises periódicas, seria a construção do socialismo. Este seria posto como possibilidade do desenvolvimento histórico, possibilidade que, para ser concretizada, ne cessitaria da organização e da luta dos trabalhadores. A verdade histórica estaria mais próxima da classe trabalhadora do que de qualquer outra, dado o lugar fundamental por ela ocupado no processo de produção capitalista, permitindo-lhe uma posição ímpar para ques tionar a ordem vigente (ver Lõwy, 1987:93-210). En tretanto, na luta política cotidiana, não é possível saber de antemão qual o ponto de vista partidário ou de uma corrente de pensamento que corresponde aos in 28
teresses históricos dos trabalhadores. Só a dinâmica do processo de constituição da classe pode revelá-lo. Como escreveu Marx numa famosa tese contra Feuerbach, é “na práxis que o homem deve demonstrar a verdade” (Marx, 1974:57). Não há como afirmar seguramente’ que, num dado debate, numa conjuntura política, tal líder ou corrente partidária tem o caminho “historica mente correto” para superar o capitalismo. Ainda que se atribua uma “consciência de classe possível”, ou um ponto de vista à classe trabalhadora, uma finalidade para sua atuação política (a destruição da sociedade de classes), os meios, a trajetória até a consecução desse fim, não são predetermináveis, não podem ser atribuídos a essa classe. Numa frase, a análise marxista do capitalismo prevê a possibilidade objetiva da der rocada desse modo de produção pela ação revolucionária da classe trabalhadora, mas o percurso de constituição da classe, incluindo a construção de sua consciência, não é unívoco ou previsível cientificamente, dependerá da organização e da luta dos próprios trabalhadores ao longo do tempo. Se não nos parece correto interpretar a teoria de Marx como um evolucionismo determinista da História, que traria inevitavelmente a vitória do proletariado, tampouco cabe entendê-la como determinação mecânica dos fatores estruturais (econômicos) sobre os superestruturais (políticos, ideológicos, culturais), supostamente considerados como mero reflexo do que se passa no “nível” econômico. Marx concebe a realidade social como uma totalidade em movimento, composta por inúmeras contradições que colocam a todo momento a possibilidade de superação da ordem vigente. Não se pode entender uma dimensão do real sem fazer sua relação com o conjunto, de modo qüe “o político”, “o econômico” e “o ideológico” são indissociáveis na
29
análise, incompreensíveis em si mesmos. O'realce dado às relações econômicas deve ser entendido no sentido de que apenas relações jurídicas, políticas ou ideológicas não sustentam a vida de ninguém. Tais relações podem até “desempenhar o papel principal” em determinadas sociedades, mas só são compreensíveis se referidas ao modo pelo qual os homens relacionam-se entre si para produzir, para “ganhar a vida”. Como escreveu Marx em O capital, em conhecida nota: Aproveito essa oportunidade para refutar, de forma breve, uma objeção que me foi feita, quando do aparecimento de meu escrito Zur Kritik der Pol. Oekonomie, 1859, por um jornal teuto-americano. Este dizia, minha opinião, que determinado sistema de produção e as relações de produção a ele cor respondentes, de cada vez, em suma, “a estrutura econômica da sociedade seria a base real sobre a qual levanta-se uma superestrutura jurídica e política, e à qual corresponderiam determinadas formas sociais de consciência”, que “o modo de produção de vida material condicionaria o processo da vida social, política e intelectual em geral” — tudo isso estaria até mesmo certo para o mundo atual, dominado pelos interesses materiais, mas não para a Idade Média, dominada pelo catolicismo, nem para Atenas e Roma, onde dominava a política. Em primeiro lugar, é estranhável que alguém prefira supor que esses lugares-comuns arquiconhecidos sobre a Idade Média e o mundo antigo sejam ignorados por alguma pessoa. Deve ser claro que a Idade Média não poderia viver do catolicismo nem o mundo antigo da política. A forma e modo como eles ganhavam a vida explica, ao contrário, por que lá a política, aqui o catolicismo, desempenhava o papel principal. (Marx, 1983, 1,1:77)
30
Não cabe pensar o econômico por si mesmo, tam pouco a autonomia do político, sequer relativa, não porque seja mero reflexo do econômico, ou porque as questões políticas não tenham sua especificidade, mas porque a compreensão da totalidade do real não permite seu fracionamento em fatores isolados, sejam políticos, econômicos, ideológicos, jurídicos etc. Há uma inter penetração indissolúvel, por exemplo, entre “o político” (os partidos, o Estado, as demais instituições políticas) e “o econômico” (o mundo das relações sociais de produção). O político e o econômico são dimensões inextricavelmente imbricadas de uma realidade socie tária total, que não pode ser definida como política ou econômica. Não cabe “a aceitação das categorias fetichizadas do pensamento burguês, a aceitação como um dado positivo da fragmentação posta pela sociedade burguesa entre o econômico e o político: isto [...] leva inevitavelmente a uma a-histórica, e portanto utópica, análise do capitalismo e das possibilidades de socia lismo” (Holloway e Picciotto, 1978:14). Portanto, não há um evolucionismo histórico deter minista em Marx, nem um determinismo econômico mecanicista. Isso não se estende a todos os seus supostos herdeiros. Por exemplo, revelou-se trágica historicamente a ideologia stalinista, fundada em Lenin, do Partido todo-poderoso, deificado, único detentor do caminho da verdade, do ponto de vista proletário, onisciente das leis inexoráveis da História. E claro que um partido tem de supor estar no caminho certo, para cumprir seus objetivos e convencer as pessoas disso, mas daí a tornar-se detentor “científico” e incontestável da verdade histórica vai grande distância. Parece possível uma leitura distinta do papel do partido em Lenin, mesmo no célebre Que fazer? (1979, 1:79-214), pela qual ele se distanciaria da tradição
31
stalinista — herdeira do “leninismo” —, aproximando~o do que parece ser a visão de Marx. Naquele texto, Lenin combateu o “espontaneísmo” dos sindicalistas de seu tempo, os quais acreditavam ser possível chegar ao socialismo só pela luta econômica, sindical. Lenin, como Marx, mostra que a luta operária, a fim de ganhar uma dimensão maior e colocar em questão o próprio capitalismo, tem de dar um salto político e identificar no Estado o cerne da organização do poder burguês, numa sociedade civil na qual a burguesia é a classe dominante (e detentora da hegemonia — na expressão de Gramsci). Para Lenin, a luta revolucionária fundamental e o passo decisivo na conscientização dos trabalhadores viriam' de fora da luta por reivindicações trabalhistas. De acordo com a leitura proposta, isso não significa virem elas de fora da dinâmica da luta de classes, nem de fora do seio da classe operária, trazidos por um partido de intelectuais, sobretudo pe queno-burgueses, que seria a vanguarda da classe, encarnação da sua consciência, até substituindo a ação política da classe em determinados momentos. Lenin punha em relevo a organização de um partido político fora do âmbito sindical, que transcendesse as reivin dicações trabalhistas, mas estivesse fundamentalmente envolvido no interior do processo de constituição da classe enquanto tal, propondo-se a ser sua vanguarda dentro da própria dinâmica econômica e política da classe. Tanto que a importância da luta sindical não é negada em momento algum, apenas considerada como passo insuficiente na trajetória de constituição da classe “para si”. Se essa leitura não for correta, como caberia dis tinguir Lenin de Blanqui? As palavras de Michel Lõwy sobre os blanquistas e o. materialismo vulgar revelam muito sobre certos leninistas: 32
Eles achavam que todos os monarcas deveriam ser derrubados por revolução violenta, por uma revolução social. Mas quem iria fazer essa revolução? Não poderia ser o povo, o proletariado, os pobres, porque estavam condenados à cegueira, ao fanatismo, à ignorância, ao obscurantismo, e não iriam entender quais eram seus interesses, não por culpa deles, mas das circunstâncias em que viviam, que lhes impediam o acesso à educação, ao conhecimento, às luzes. Então, apenas uma pequena minoria, uma elite de homens esclarecidos, é que iria realizar esta trans formação revolucionária, derrubar a monarquia, der rubar o poder das classes dominantes e estabelecer uma ditadura revolucionária, que seria composta deste pequeno número de homens esclarecidos, dessa elite de homens sábios, conhecedores das necessi dades do povo, e que iria destruir o antigo sistema e estabelecer novas condições, novas circunstâncias materiais. Estes pequenos grupos, dos quais o de Auguste Blanqui era o mais conhecido, fizeram várias ten tativas para tomar o poder, todas obviamente fra cassadas, posto que inevitavelmente eram enfr.entamentos minoritários, de pequenas organizações se cretas contra o poder do exército, das classes do minantes. Desse modo, temos uma forma de compreensão, de análise da relação entre idéias ou ideologias e prática política, que é a concepção do materialismo vulgar, para o qual as idéias, as concepções, as doutrinas, as formas de pensamento e as ideologias resultam das circunstâncias materiais e, portanto, é necessária uma força que venha de fora, de algum lugar exterior, uma figura ou um conjunto de figuras
33
excepcionais, para transformar a sociedade. (Lõwy, 1985:20-21)
A consciência de classe não é algo já dado, a ser levado de fora aos trabalhadores, mas um dar-se que brota e se desenvolve no interior do movimento de construção da classe, do qual também fazem parte os partidos que pretendem se tornar sua vanguarda. Lan çando mão de um jogo de palavras do jovem Marx, diria um filósofo brasileiro: entendemos por consciência (Bewusstseiri) o ser consciente (bewusst Seiri), vale dizer, um modo de ser pelo qual um objeto se individualiza e ganha autonomia, em suma, devém para si. Por isso, a individualização da classe deve se dar a totalização do processo produtivo, compreendido como o mo vimento reflexionante da produção, distribuição, troca e consumo, onde a dimensão da consciência com parece enquanto representação que os agentes de senvolvem dos esquemas operatórios em que estão envolvidos. (Giànnotti, 1983:292-293)
2* Fragmentos de um debate: Poulantzas, Thompson e Anderson
Como já observou Luiz Pereira, a partir da conhecida formulação de Marx em O dezoito brumário de Luís Bonaparte, segundo a qual “os homens fazem a História nas condições dadas pela História”, muitos autores inspirados no materialismo histórico para analisar a realidade social, ora tendem a privilegiar uma parte da frase — “os homens fazem a História” —, ora destacam a outra parte — “nas condições dadas pela História” (Pereira, 1978:32). De fato, o realce de ,uma
34
parte da frase em detrimento da outra torna unilaterais as análises que procuram dar conta do movimento da realidade. No tocante à concepção de classes sociais, isso pode ser evidenciado, por exemplo, por pensadores antagônicos ao tratar do assunto, como N. Poulantzas e E.P. Thompson. Ambos contribuem para melhor entender a questão das classes sociais, destacando aspectos relevantes do tema, que no entanto não podem ser tomados como abrangentes da totalidade, nem como mutuamente excludentes, sob pena de cair no que certos autores rotulariam de uma visão “voluntarista”, oposta a outra, “mecanicista”. Não há espaço para discutir a fundo tais concepções, mas cabe uma rápida exposição crítica acerca de cada uma delas, para realçar suas contribuições e o que nos parecem ser seus limites, embora ém tal empreitada corra-se o risco de um reducionismo injusto para com o pensamento desses autores. Curiosamente, tanto Poulantzas quanto Thompson dizem valorizar a luta de classes para a compreensão da história. Mas a luta de classes para Poulantzas, quando aparece mencionada, seria dada no campo das “práticas de classe” e não no das “estruturas”. Ele diria em Poder político e classes sociais: “as classes constituem o efeito [...] de certos níveis de estruturas, das quais o Estado faz parte” (Poulantzas, 1977:35). Essa visão corresponderia à de Marx: “os agentes da produção, por exemplo o operário assalariado e o capitalista, enquanto ‘personificações’ do trabalho as salariado e do capital, são considerados por Marx como suportes ou portadores de um conjunto de estruturas” (1977:60). Tal conjunto não se restringiria à esfera econômica:
35
“tudo se passa como se as classes sociais fossem o efeito de um conjunto de estruturas e das suas relações, no caso concreto Io) do nível econômico, 2o) do nível político, e 3o) do nível ideológico. Uma classe social pode ser definida quer ao nível eco nômico, quer ao nível político, quer ao nível ideo lógico, e pode ser pois localizada em relação a uma instância particular. No entanto, a definição de uma classe enquanto tal e a sua conceitualização repor ta-se ao conjunto dos níveis dos quais ela constitui o efeito. (1977:61)
As relações de produção, tidas como relações entre os agentes de produção e os meios de trabalho, estariam localizadas nas estruturas, gerando como efeitos “rela ções sociais de produção”, isto é, as relações de classe: “as relações ‘sociais’ de produção, as relações de classe, apresentam-se, ao nível econômico, como um efeito dessa combinação específica agentes de produ ção-condições materiais e técnicas do trabalho que são as relações de produção” (1977:63). Poulantzas apre senta a seguinte definição de classe:
De modo preciso, a classe social é um conceito que indica os efeitos do- conjunto das estruturas, da matriz de um modo de produção ou de uma formação social sobre os agentes que constituem os seus suportes; esse conceito indica pois os efeitos da estrutura global no domínio das relações sociais. (Poulantzas, 1977:65) Num trabalho posterior, As classes sociais no ca pitalismo de hoje, Poulantzas procurou flexibilizar suas posições, mas continuou a ver as classes como “um conceito que designa precisamente o conjunto dos efeitos da estrutura no campo das relações sociais,
36
e até mesmo na divisão social do trabalho” (1978:216). Nesse texto aparece uma redefinição das classes: uma classe social define-se pelo seu lugar no con junto das práticas sociais, isto é, pelo seu lugar no conjunto da divisão social do trabalho, que com preende as relações políticas e as relações ideoló gicas. A classe social é, neste sentido, um conceito que designa o efeito de estrutura na divisão social do trabalho (as relações sociais e as práticas sociais). Este lugar abrange assim o que chamo de determi nação estrutural de classe, isto é, a própria existência da determinação da estrutura — relações de produção lugares de dominação-subordinação política e ideo lógica — nas práticas de classe: as classes só existem na luta de classes. (Poulantzas, 1978:14)
Poulantzas tentou dar maior atenção nesse texto à luta de classes, mas esta torna-se mais uma figura de retórica do que qualquer outra coisa, principalmente quando o autor introduz o conceito althusseriarío de “aparelhos ideológicos de Estado”, como a igreja, a escola, a família (Althusser, s/d), tidos como funda mentais para manter a “unidade ê a coesão de uma formação social que concentra e consagra a dominação de classe, e a reprodução, assim, das relações sociais, isto é, das relações de classe” (1978:26). Esses aparelhos mistificariam a realidade de tal forma que fica difícil pensar, nesse esquema teórico, o questionamento e a superação do capitalismo pelas classes dominadas. Pou lantzas não resolve o problema de como poderiam as lutas de classes, efeitos das estruturas, transformar essas próprias estruturas. Ele torna-se prisioneiro de uma abordagem teórica sofisticada, porém estática, incapaz de apreender o movimento do real. 37
Fernando Henrique Cardoso, dedicou um artigo à crítica do conceito de classes em Poulantzas (Cardoso, 1972:104-122). Ele vê uma ambigiiidade no discurso de Poulantzas sobre as classes, o qual de um lado realça que “as classes não existem senão na luta”, dando com isso uma contribuição à análise de processos históricos concretos, mas por outro lado desenvolve uma posição teórica formalista que “privilegia definições como se elas fossem a substantivação de contradições reais” (1972:105). Questiona Poulantzas, pois este as sume a distinção althusseriana entre “prática teórica” (“teoria com T maiusculo”) e processo real, entre “objeto de pensamento” ou teórico e “objeto real”, uma “separação metafísica” entre teoria e prática, sujeito e objeto, entre uma “Razão que conhece” e uma “prática que atua”, numa concepção estática do processo social. Ela implica o corte formal entre o econômico, o político e o ideológico, inconcebível de um ponto de vista dialético, que deveria abordar a articulação do real como uma totalidade contraditória (Cardoso, 1972:108-114). De acordo com a difundida leitura estruturalista das obras de Marx, especialmente a de Poulantzas, seria possível falar em apenas duas classes para explicar o funcionamento do modo de produção capitalista. Este seria entendido como objeto de conhecimento que abstrairia as realidades concretas imediatas de distintas formações sociais, nas quais o modo de produção capitalista apareceria sobreposto a sobrevivências de outros modos de produção — daí poder-se falar em várias classes sociais numa mesma formação social capitalista, duas “fundamentais”, pois ligadas ao fun cionamento do modo de produção capitalista, as demais “secundárias”. Por exemplo, Marx falaria apenas em duas classes n’(9 capital, pois estaria tratando do modo
38
de produção capitalista como objeto teórico, abstração que não se realiza senão no plano do conhecimento; na realidade concreta jamais apareceriam as duas classes fundamentais puras. Ao passo que nas análises de formações sociais concretas, tais como a do Dezoito Brumário, Marx apontaria várias classes e frações. Trata-se da constante dicotomia na obra de Poulantzas entre análise categorial e análise histórica (1977:68-71). Já vimos, citando Giannotti, que as duas classes fundamentais do modo de produção capitalista não são tipos puros abstratos, ideais, que não se. realizam no concreto imediato, este supostamente composto por várias classes e frações. Elas são parte do real, uma abstração a ser efetivada concretamente na história, na trajetória do “em si” ao “para si”. Jamais podem ser consideradas como objeto teórico sem possibilidade de efetivação concreta. Uma coisa é conceber o real como uma totalidade que supõe uma série de mediações entre a realidade tal qual se apresenta empiricamente e seus fundamentos não empíricos. Outra coisa é estabelecer uma distinção dicotômica entre o objeto real imediato e o objeto teórjco, como faz Poulantzas. Giannotti critica a distinção dos marxistas-estruturalistas entre modo de produção e formação social capitalista, aquele entendido' como um conceito ideal (objeto teórico), esta como um dado, expressão concreta “já constituída” da sobreposição de vários modos de produção numa sociedade (objeto real), na qual o modo de produção capitalista é dominante sobre os demais. Isso seria não perceber o modo de produção como “parte abstrata”, no sentido de não empírica, da própria realidade, e que numa dada sociedade capitalista não há imbricação de diferentes modos de produção, como resquícios do passado ou anúncio do futuro, mas um modo de produção entendido historicamente como “for
39
ma de presentificação”, que faz o passado perdurar e o futuro anunciar-se, “cabe mostrar como o passado perdura e o futuro se anuncia graças às injeções que neles aplicam as formas presentes”. De modo que: duma perspectiva dialética, que suspende este dado pára focalizar o modo duma sociedade constituir-se como um dar-se, a tarefa consiste em apontar como uma parte abstrata da própria realidade, no caso, o modo capitalista de produção, se efetua à medida que surjam outras relações sociais, que não podem, no imediato, ser identificadas como capitalistas; em suma, como o capital gera seu próprio outro. Vê-se que uma relação social persiste enquanto encontrar me canismos que a alimentem. (Giannotti, 1983:268-269)
É somente para evitar que se coloque num mesmo nível de realidade o modo de produção capitalista e os modos de produção subsidiários, que se torna então conveniente reservar a categoria de modo de produção para designar o movimento objetivo de reposição que integra, num mesmo processo autô nomo, a produção, a distribuição, a troca e o consumo, deixando outros nomes para as formas produtivas subsidiárias, que o modo de produção capitalista exige no processo de sua efetivação. [...] Universal concreto, o capital é uma síntese de determinações. A nós* cabe estudar como esse mo vimento de síntese se perfaz por meio de um círculo de círculos, que instaura e ao mesmo tempo destrói formas não-capitalistas de produção. (Giannotti, 1976:167-168)
40
Numa frase, não há concomitância de diversos modos de produção, mas diferentes formas de sociabilidade capitalista. Todavia, vale ressaltar que esses breves apontamentos sobre os limites analíticos de fundo da vertente estruturalista do marxismo não nos impedem de reconhecer sua contribuição ao estudo das classes sociais. Poulantzas e outros — inclusive brasileiros, como Décio Saes (1985) — colaboraram para a reflexão sobre a complexidade das sociedades de classe contemporâneas, rompendo com leituras simplificadoras do marxismo, as quais vêem a sociedade polarizada entre explorados e exploradores.
Se na análise marxista-estruturalista a luta de classes fica presa nas condições objetivas, dadas no âmbito das estruturas, para Thompson todo o peso na abor dagem das classes está na livre disposição dos homens para agir numa dada situação histórica. Em A formação da classe operária inglesa, livro escrito em 1963, aparece a conhecida formulação de Thompson sobre classes sociais: Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico. Não vejo a classe como uma “estrutura”, nem mesmo comó uma “categoria”, mas como algo que ocorre efetivamente (e cuja ocorrência pode ser demonstrada) nas relações hu manas. (Thompson, 1987:9)
Mais adiante, sintetiza seu pensamento:
41
A classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao final, esta é sua única definição. (Thompson, 1987:12)
No item IV de um artigo publicado em 1978 na Inglaterra, “Eighteenth-ceritury English soclety: class struggle without classT\ Thompson coloca sintetica mente suas conclusões sobre a noção de classe social, conscientemente oposta à abordagem marxista-estruturalista (Thompson, 1978:146-150). Para ele, classe é uma “categoria histórica”, derivada da “observação do processo social através do tempo”. A partir dos eventos históricos, tomados como evidências empíricas (“sabe mos sobre classe porque as pessoas se comportaram repetidamente em termos de classe [in class ways]”), seria possível “teorizar essa evidência como uma teoria geral de classe e de formação de classe: esperamos encontrar certas regularidades, ‘estágios’ de desenvol vimento, etc”. Nesse ponto, segundo Thompson, caberia evitar o equívoco de dar precedência à teoria sobre a evidência histórica, o que tornaria a ocorrência das classes um processo ideal, existente só “dentro de nossas próprias cabeças”, e não um processo histórico real (1978:147). A seguir, critica a noção de classe como uma categoria estática. A tradição “sociológica” tenderia a reduzir o sentido de classe social a medidas quantitativas e estáticas: “tantas pessoas nesta ou na quela relação com os meios de produção, ou, em termos mais vulgares, tantos assalariados, trabalhadores de colarinho branco, etc. Ou classe é a classe à qual as pessoas dizem pensar pertencer, em resposta a um questionário”. Dessa ótica, compartilhada por muitos marxistas contemporâneos, estaria excluído o entendi mento correto de classe para Thompson, de “classe
42
como categoria histórica — a observação do compor tamento através do tempo”. A visão de Thompson seria a do próprio Marx nosseus escritos históricos, bem como de historiadores marxistas britânicos, como Hobsbawm, Hill, Hilton e outros, para quem não caberia pensar uma “‘vanguarda’ que saiba melhor do que a própria classe quais deveriam ser seus verdadeiros interesses” e consciência política, como se essa vanguarda pudesse ter acesso a uma consciência que deveria corresponder necessariamente às posições relativas das classes nas relações de pro dução capitalistas (Thompson, 1978:147-148). Em A formação da classe operária inglesa, Thompson escre veu a respeito: Existe atualmente uma tentação generalizada de supor que a classe é uma coisa. Não era esse o significado em Marx, em seus escritos históricos, mas o erro deturpa muitos textos “marxistas” contemporâneos. “Ela”, a classe operária, é tomada como tendo uma existência real, capaz de ser definida quase mate maticamente — uma quantidade de homens que se encontra numa certa proporção [relação] com os meios de produção. Uma vez isso assumido, torna-se possível deduzir a consciência de classe que “ela” deveria ter (mas raramente tem), se estivesse ade quadamente consciente de sua própria posição e interesses reais. Há uma superestrutura cultural, por onde esse reconhecimento desponta sob formas ine ficazes. Essas “defasagens” e distorções culturais constituem um incômodo, de modo que é mais fácil passar para alguma teoria substitutiva: o partido, a seita ou o teórico que desvenda a consciência de classe, não como ela é, mas como deveria ser. (Thompson, 1987:10)
43
Tomando a noção de classe como “categoria histó rica”, Thompson conclui em seu artigo de 1978 que os historiadores podem utilizá-la em dois sentidos diferentes, próximos aos que vimos serem empregados por Marx, na leitura de Hirano (1974:82-86): a) com referência a um conteúdo histórico real, empiricamente observável — nessa acepção, o termo classe nasce com a sociedade industrial capitalista do século XIX, pois só nela podem ser observadas instituições, partidos e culturas de classe; b) como uma categoria heurística ou analítica, “para organizar a evidência histórica que tem uma correspondência direta muito menor”. Nesse sentido, com certo cuidado por parte do historiador, caberia falar em classes nas sociedades onde as pessoas viam-se em termos de estamentos, castas, ou ordens. Aqui, o conceito de classe seria inseparável daquele de “luta de classe” (não caberia falar em luta de estamentos ou de castas, segundo Thompson, 1978:148). Toda a ênfase na concepção de classe como categoria analítica ou heurística é dada à noção de luta de classe:
as classes não existem como entidades separadas que procuram e encontram um inimigo de classe, para então começar a lutar. Ao contrário, as pessoas encontram-se em uma sociedade estruturada de de terminadas maneiras (crucial, mas não exclusiva mente, em relações de produção), elas passam pela exploração (ou pela necessidade de manter poder sobre aqueles que elas exploram), elas identificam pontos de interesse antagônicos, começam a lutar em torno dessas questões e no processo de luta elas se descobrem como classes, elas vêm a conhecer essa descoberta' como consciência de classe. Classe e consciência de classe são sempre o último, não o primeiro, estágio no processo histórico real. (1978:149) 44
O erro dos marxistas-estruturalistas seria o de que, para eles, “as classes existem, independentemente de relacionamento histórico e luta, e que elas lutam porque existem, ao invés de virem a existir daquela luta”. Thompson esclarece não supor a formação da classe como independente de determinações, que classe possa “ser definida simplesmente como formação cultural, etc”. Para ele, “essas determinações objetivas requerem o exame mais escrupuloso. Mas nenhum exame das determinações objetivas (e certamente nenhum modelo teorizado a partir dele), pode colocar uma classe e consciência de classe numa equação simples” (Thomp son, 1978:149-150). Thompson deixa ainda mais transparente sua noção de classe quando escreve que: A classe realiza-se [eventuates] quando homens e mulheres vivem suas relações produtivas, e quando eles experimentam suas situações determinadas, den tro “do conjunto das felações sociais”, com suas expectativas e cultura herdada, e quando eles lidam com essas experiências em termos culturais. De tal modo que, no final, nenhum modelo pode nos dar o que deveria ser a “verdadeira” formação de classe para um certo “estágio” do processo. Nenhuma formação de classe real na história é mais verdadeira ou mais real que qualquer outra, e a classe se define como, de fato, ela se realiza [eventuates]. Classe, como se efetivou [eventuated] nas sociedades capi talistas industriais do século XIX, e como então deixou sua marca sobre a categoria heurística de classe, de fato não tem qualquer pretensão à uni versalidade. Classe naquele sentido não é mais que um caso especial das formações históricas que re sultam da luta de classe. (Thompson, 1978:150)
45
A relevância da visão de Thompson sobre o tema das classes sociais está em não tomá-las como “coisa”, em questionar as diferentes' concepções que poderiam ser denominadas “mecanicistas”, “marxistas-positivis tas”, ou “estruturalistas”. Por exemplo, de um lado, Lenin soube dosar a vontade revolucionária com as condições objetivas que lhe eram historicamente dadas (condições econômicas, políticas, culturais, etc.), para liderar uma revolução vitoriosa, não se deixando en volver nem pelo que se poderia chamar de modo simplificador de “voluntarismo”, nem pelo “mecanicismo”; mas, por outro lado, sua visão sobre as classes sociais nem sempre parece indicar o mesmo equilíbrio. Numa conhecida passagem, citada dentre outros por Stavenhagen (1980:288), Lenin define as classes como:
grandes grupos de homens que se diferenciam pelo lugar que ocupam num sistema historicamente de terminado de produção social, por suas relações com os meios de produção (na maioria das vezes estabelecidas e formuladas por leis), pelo papel que desempenham na organização social do trabalho, e, conseqüentemente, pelo modo como obtêm a parte da riqueza social de que dispõem e pelo tamanho desta. As classes são grupos de homens, dos quais uns podem apropriar-se do trabalho de outros por ocupar posições diferentes num regime determinado de economia social.
Mesmo não se considerando exaustiva essa definição de Lenin, ela abre caminho para pensar as classes como dados estáticos, definíveis “quase matematica mente — uma quantidade de homens que se encontra numa certa proporção com os meios de produção”, justamente a fórmula criticada por Thompson (1987:10). 46
Sendo a classe tomada como um dado, a consciência de classe correspondente também seria. Se não para Lenin, pelo menos para a maioria de seus seguidores — os quais construíram partidos comunistas em todo o mundo — há um Partido que conhece os interesses objetivos dos trabalhadores melhor do que eles próprios, como portador de uma consciência de classe preesta belecida, ' correspondente ao lugar da classe operária, como um dado, no sistema produtivo. Antes da revo lução proletária, esse Partido identificaria as etapas e p rumo verdadeiro a ser tomado por ela. Uma vez vitoriosa uma revolução, o Partido também saberia o que é melhor para os trabalhadores, não importando se momentaneamente ele tivesse de implantar o des potismo nas relações de trabalho nas fábricas e demais unidades de produção, a fim de desenvolver a qualquer preço as forças produtivas, desenvolvimento necessário para viabilizar o comunismo (simplificadamente, não foi isso que se deu, por exemplo, na URSS sob as botas de Stalin?). Thompson colabora para resgatar o aspecto libertário e fundamental do marxismo, freqüentemente esquecido sob os mais diferentes pretextos, dentre os quais, o de que as “condições objetivas” da produção e da luta de classes em escala nacional e internacional seriam obstáculos necessários, numa de terminada etapa do desenvolvimento histórico, quer para a superação do capitalismo, quer para a realização do “reino da liberdade” dentro dos países já “socia listas”. A abordagem de Thompson também é importante, na análise das classes no Brasil, por negar qualquer modelo para estabelecer como devem ser as classes, mostrando que elas se constituem historicamente de formas diferentes, não havendo razão para estender um
47
modelo clássico, como o inglês do século XIX, à constituição das classes em todas as sociedades.
Entretanto, vale acompanhar a pertinência da crítica às concepções de Thompson sobre as classes, feita por outro historiador inglês, Perry Anderson, que simulta neamente questiona a postura teórica oposta à de Thompson, de autores como Althusser e Poulantzas. O livro Arguments within English marxism (Anderson, 1980) é dedicado a um debate com a postura meto dológica de Thompson como historiador e cientista social, exposta sobretudo nos ensaios reunidos com o título de The poverty of theory (Thompson, 1978b). Só cabe retomar para os propósitos deste livro os aspectos da crítica referentes à noção de classes sociais, os quais parecem especialmente relevantes, por defen derem uma postura diante do tema que procura evitar o que se poderia rotular como “voluntarismo” da análise de Thompson, bem como o “mecanicismo” dos marxistas-estruturalistas (Anderson, 1980: especialmente 49-58). Para Anderson, a definição que Thompson dá de classe social a torna “dependente de uma soma de vontades individuais” (1980:50). Os construtores ime diatos da história seriam as classes, “elas mesmas compostas por homens e mulheres individuais”, segundo Thompson, citado por Anderson (1980:51). De modo que “o agir repousa não na classe, mas nos homens”, nas palavras de Thompson, reproduzidas por Anderson (1980:51). Toda a ênfase está na “auto-construção” das classes pelos indivíduos, em detrimento das con dições que lhes são objetivamente dadas. A dificuldade fundamental de análises como a de Thompson residiria,
48
nos termos de Anderson, no “lugar pertinente da vontade na história”. A questão a ser colocada seria: se processos históricos fundamentais,, a estrutura e a evolução de sociedades inteiras, são a resultante involuntária de uma dualidade, ou pluralidade de forças voluntárias de classe chocando-se entre si, o que explica sua natureza ordenada? Por que a intersecção de vontades coletivas rivais não deveria produzir ao acaso o caos [random chãos} de um impasse [log-jam] arbitrário e desestruturado? (An derson, 1980:51) Anderson mostra que autores como Parsons, em A estrutura da ação social, e Sartre na Crítica da razão dialética, defrontaram-se com essa questão. Para o primeiro, a resposta para a existência da ordem na estruturação da sociedade estaria nó “consenso de valores morais”, isto é, na postulação de “normas e valores comuns como a estruturação integradora de qualquer sociedade, informando os atos individuais e criando anéis de interesses decisivos para assegurar um todo social estável e coeso”. Segundo Anderson, essa solução não é capaz de explicar nem a geração nem o conflito de valores, tratando-se de uma abor dagem que não dá espaço para pensar a superação da ordem vigente (1980:51). Já seria outra, na visão de Sartre, a explicação para o fato de não ser a história um caos arbitrário e desordenado de projetos conflitantes — “sua resposta essencial era: o poder. [...] o centro de integração para Sartre era a autoridade de um Estado coercitivo” (Anderson, 1980:53). Conforme a exposição de Anderson, a postura de Thompson não permitiria responder à questão da exis tência da ordem social, ao passo que a resposta de Althusser à mesma questão seria um resultado híbrido
49
das posições de Sartre e Parsons: a ordem social estaria assegurada pelos “Aparelhos Repressivos de Estado” (o Estado coercitivo, como para Sartre), e pelos “Apa relhos Ideológicos de Estado” (as instituições que in culcam a ideologia dominante, como a família, a igreja, a escola etc., criando um consenso de valores morais, como proporia Parsons). Na leitura de Anderson do materialismo histórico, não seriam satisfatórias tais soluções para o problema da existência da ordem em sociedades constituídas por interesses antagônicos. Essas respostas ficariam no nível da intenção, da vontade dos agentes, ou de seus valores, enquanto indivíduos, classes ou Estado. A resposta adequada: É, e deve ser, o modo de produção dominante que confere unidade fundamental a uma formação social, alocando suas posições objetivas às classes dentro dele, e distribuindo os agentes dentro de cada classe. O resultado é, tipicamente, um processo objetivo de luta de classe. Para estabilizar e regular esse conflito, as modalidades complementares de poder político, que incluem repressão e ideologia, exercidos dentro e fora do Estado, são dali em diante indis pensáveis. Mas a própria luta de classe não é uma prioridade causal na sustentação da ordem, pois as classes são constituídas por modos de produção, e não vice-versa. Se a configuração de um modo de produção explica a existência da ordem social, sublevação e desordem também requerem explicação. [...] entre os mecanismos mais fundamentais de mudança social, de acordo com o materialismo histórico, estão as contradições do sistema entre forças e relações de produção, [e] não apenas os
50
conflitos sociais entre classes gerados por relações de produção antagônicas. A primeira [relações de produção x forças produtivas] sobrepõe-se à segunda [antagonismo de classes], porque uma das maiores forças de produção é sempre o trabalho, que simul taneamente figura como uma classe especificada pelas relações de produção. Mas elas não coincidem. Crises dentro de modos de produção não são idênticas a confrontação entre classes. As duas [contradições] podem ou não fundir-se, de acordo com a ocasião histórica. (Anderson, 1980:55)
Anderson conclui que, tanto na reprodução quanto na transformação da ordem, o modo de produção e a luta de classes estão sempre presentes. Mas o modo de produção deve ativar a luta de classes para ela conseguir determinados efeitos. Essa “dualidade básica das formas de determinação histórica” brecaria cons truções teóricas “mecanicistas” e também as “voluntaristas”, como a de Thompson, que só aparentemente levaria em consideração essas determinações, jogando todo o peso analítico na ação dos seres humanos. Seguindo a trilha de Thompson, não seria, possível responder satisfatoriamente à questão da existência da ordem na sociedade e tampouco saber as razões da ocorrência da ruptura com ela em determinados mo mentos e não em outros, pois Thompson depreciaria a noção que permitiria encontrar essas respostas, a de modo de produção. Esta seria típica, na leitura de Thompson, da adesão de Marx ao determinismo da Economia Política, numa fase na qual sua obra teria se desviado do estudo da História, justamente o mais fecundo. Thompson valoriza a fase de produção inte lectual de Marx como “historiador”, dos Manuscritos de 1844 até os anos 1850, recuperada em parte em O capital — fase intermediária entre os primeiros 51
escritos, filosóficos, e a fase madura de um Marx obcecado pela, Economia Política a partir dos Grundrisse, escritos no final da década de ,1850. É o que comenta Anderson (1980:59-69), sobre a leitura de Marx proposta por Thompson (1978 b:247-262). As posições teóricas de Thompson e de Althusser e discípulos são diametralmente opostas, segundo An derson: “para Althusser, a experiência imediata é o universo da ilusão [...] que induz somente a erro. Apenas a ciência [...] produz conhecimento” (1980:57). Enquanto na abordagem de Thompson a experiência seria o meio privilegiado no qual despertaria a cons ciência da realidade e seriam encontradas respostas •criativas para as questões postas por essa realidade. A experiência ligaria o ser ao pensar, refreando os voos teóricos artificiais e irracionais. Althusser e Thompson cairiam em erros opostos: o primeiro por identificar experiência à mera ilusão, desconhecendo-a como parte integrante do real; o segundo por identificar experiência a discernimento e aprendizado, deixando de lado a mistificação em que muitas vezes se envolve essa experiência (por exemplo, casos históricos de expe riências de lutas calcadas na fé religiosa ou na lealdade nacional). A forma como cada um desses autores enquadrou a História — “processo sem um sujeito” (Althusser), “prática humana autônoma” (Thompson) — seria latentemente a-histórica, segundo Anderson (1980:58). Althusser carregaria as tintas na “necessidade estrutural na História”, enquanto Thompson realçaria o potencial do agir humano para dar forma à condição coletiva de vida. Ambos estariam distantes do equilíbrio ■ analítico de Marx, para quem não caberia reklçar nem as-condições estruturais objetivas em detrimento da ação humana, nem tampouco cair no erro inverso.
52
Perry Anderson parece ter razão, e por isso seu ponto de vista foi aqui exposto, ao indicar a sobreposição entre as lutas de classe e a contradição entre forças produtivas e relações de produção no capitalismo. Ainda que não sejam idênticas e só venham a fundir-se em determinados momentos históricos, não caberia entender uma sem o concurso da outra, pois a própria força de trabalho é o principal componente das forças produtivas, como Anderson indica. A análise dele vale também por destacar que a experiência empírica não é mera ilusão, nem se confunde com os próprios fundamentos não empíricos do real. Não haveria razão, do ponto de vista do materialismo histórico, para privilegiar a teoria em detrimento da prática, ou vice-versa. Nem motivo para destacar a ação dos homens em detrimento das condições dadas pela História, ou vice-versa. Teoria e prática, ciência e experiência, condições objetivas e condições subjetivas, conteúdo e forma, não podem ser vistos como polaridades distintas e excludentes, mas pensados como parte da mesma realidade, tomada como totalidade contraditória em movimento.
Anderson assinala na crítica a Thompson que “as classes são constituídas por modos de produção, e não vice-versa” (1980:55). Nessa medida, ele não estaria ignorando a interdependência da “dualidade básica das formas de determinação da história”, por ele mesmo proposta, a saber, a determinação subjetiva da ação das classes e a‘ objetiva do modo de produção? Isso não permitiria uma leitura segundo a qual, primeiro, seria estabelecido o modo de produção capitalista, depois as classes, a seguir a consciência e luta de classes, num processo em que a ação humana das
53
classes estaria quase totalmente determinada pelas con dições objetivas impostas pelo modo de produção, mais ou menos nos termos postos pelos “marxistas-estruturalistas” que Anderson também critica? Não estaria presente em seu texto a dualidade entre modo de produção e formação social, esta supostamente composta por uma sobreposição de modos de produção em que um deles é dominante? De qualquer forma, importa recuperar aqui a proposta de Anderson de não separar os fatores objetivos dos subjetivos, as imposições do modo de produção das ações voluntárias humanas (de classe) para a (re)produção, reforjna ou eventual superação do capitalismo. O modo de produção capitalista (implicando uma con tradição entre forças produtivas e relações de produção), e as classes sociais que o constituem, estão totalmente imbricados, não como dados estanques e preestabele cidos, mas como um dar-se em movimento (des)contínuo. No dizer de Giannotti, “a perspectiva dialética suspende o dado para focalizar o modo duma sociedade constituir-se como um dar-se” (1983:268). No caso, as classes sociais não são uma “coisa” dada, estanque, cuja existência seria determinada por um modo de produção dado. Não caberia fazer “uma atribuição de ser a algo que devém”, pois “a existência não pode deixar de ser considerada fora de um processo de identificação e recognição inscrito no próprio compor tamento social” (Giannotti, 1983:55). Não é possível, por exemplo, estabelecer com precisão matemática os membros de uma classe, não há uma classe operária e uma classe burguesa predeterminadas, “singularizadas para sempre”. Elas devem ser estudadas “na trajetória de sua determinação recíproca”, como escreveu Gian notti em outro contexto (1983:63). Essa trajetória é posta não só pelas condições objetivas da produção,
54
mas também pela “trama inter-subjetiva”, pela organi zação voluntária, pela ação dos homens que constroem sua História. Contudo, essa ação só é concebível to mando como parâmetro objetivo a contradição entre capital e trabalho, colocada pelo modo de produção capitalista. Nas palavras de Giannotti, num trecho que vale reproduzir por inteiro: No fundo da trama tecida pela concorrência, estamos localizando assim uma violência originária, a sepa ração do trabalho de suas condições de existência. Nesta camada mais profunda, a definição pelo outro que rege a constituição dos grupos, ou melhor, das frações de classe, encontra seu terreno de verdade, a alteridade primária, em relação à qual todas as outras passariam a girar. É portanto, conforme os indivíduos se situam diante dessa contradição fun damental que eles tendem a formar uma classe. Isto significa que a posição de um indivíduo, no processo produtivo, determina uma condição necessária para sua inserção numa classe, embora não chegue a formular-lhe uma condição suficiente. Os agentes estão apenas polarizados por essa situação, o que realmente os associa é a troca de alianças e exclusões que são obrigados a tecer, ao tomar como parâmetro a contradição básica entre o capital e o trabalho. Em suma, a classe se constitui por meio de alianças e exclusões que transformam uma tendência, a classe em si, num grupo individualizado, isto é, para si. Mas uma classe não existe então, num dado mo mento, como classe em si, noutro, como classe para si, mas persiste nessa trajetória; nela os indivíduos encontram o princípio que os cimentam num conjunto que é mais do que a soma de seus membros. Ela não constitui, portanto, mero conjunto de indivíduos
55
que podem ser classificados segundo uma escala de rendimentos. Por essa via estaríamos situando a matriz da identificação no entendimento do inves tigador, transformado no árbitro absoluto a decidir quando devemos mencionar o bosque ou o conjunto de árvores; ora, o que importa é captar o processo objetivo de individualização da classe, a trama que os próprios indivíduos tecem ao efetivarem as po sições que lhes atribui o processo produtivo, ao darem realidade à contradição fundamental, trans formando-a duma condição de existência, numa as sociação que manifesta o conflito de base. (Giannotti, 1983:291)
Em outros termos, os grupos ou frações de classe não se confundem com as classes sociais. Os choques de interesse entre os grupos são postos pela concorrência inerente ao capitalismo, em que um empresário, por exemplo, investe dinheiro num empreendimento para obter lucro, dinheiro que “deve especificar-se em capital industrial, comercial, financeiro, associando-se ao mo nopólio da terra [...]” (Giannotti, 1983:291). Esses grupos de capitalistas, comerciais, industriais, financei ros ou agrários, não são classes distintas, mas frações de uma mesma classe, pois “colaboram para realizar o capital como comando sobre o trabalho alheio”. O que distingue as classes é “a violência originária, a separação do trabalho de suas condições de existência”, ou seja, os indivíduos tendem a formar uma classe de acordo com sua posição diante da contradição funda mental entre capital e trabalho. Mas é uma tendência: a inserção das pessoas no processo produtivo é condição necessária, porém insuficiente, para incluí-las numa classe. Além dessa tendência, a classe “em si”, seria necessária a formação de um “grupo individualizado”, “para si”, isto é, uma associação entre os indivíduos 56
que implica a tecitura “de alianças e exclusões”, to mando “como parâmetro a contradição básica entre capital e trabalho”. (Giannotti, 1983:291). Porém, como diria Claudin, sequer a classe em si existe sem luta: Marx distingue entre a luta econômica mais ou menos fragmentada e dispersa de indivíduos e grupos, e a luta coletiva de classes que por suas próprias implicações reveste-se de um caráter político. Na prática, ambos os modos existem sob combinações infinitas no desenvolvimento histórico das classes. Não são duas etapas históricas da mesma — primeiro classe em si e a seguir classe para si —, senão formas que, na sua combinação, dependem da con juntura. (Claudin, 1975:430)
O “em si” e o “para si” da classe não são momentos estanques, definidos de antemão e estaticamente sub sequentes. Eles estão entrelaçados e caminham juntos: a classe nunca é um- dado pronto e acabado, mas em movimento e transformação, formando um “conjunto que é mais do que a soma de seus membros”. Não se trata de um conjunto de indivíduos classificáveis conforme o nível de rendimento, o tipo de ocupação, o grau de escolaridade, ou qualquer outra escala for mulada pelo investigador. Não é ele quem atribui uma existência ideal às classes, elas têm um processo objetivo de individualização, tecido pelos próprios indivíduos “ao efetivarem as posições que lhes atribui o processo produtivo”, transformando o conflito de base entre capital e trabalho numa associação (Giannotti, 1983:291). Assim, como esboçamos na crítica a Poulantzas, a Thompson e a uma leitura possível do texto de Perry Anderson, não seria cabível separai* as imposições objetivas dadas pelo modo de produção capitalista dás
57
ações humanas voluntárias das classes, implicadas na manutenção, reforma ou superação do capitalismo. O modo de produção põe as classes como uma tendência, mas esta só se efetiva por intermédio da ação voluntária dos homens que vivem e fazem sua própria História. Como diria Przeworski, classe: é o nome de uma relação, não uma coleção de . indivíduos. Os indivíduos ocupam lugares no sistema de produção; os agentes coletivos aparecem em lutas em momentos concretos da história. Nenhum deles — ocupantes de lugares ou participantes de ações coletivas — são classes. A classe é a relação entre eles, e nesse sentido a luta de classes diz respeito à organização social de tais relações. (1989:102)
Contudo, se por um lado essas palavras parecem compatibilizar-se com a proposta de tomar a sociedade como um dar-se, por outro lado Przeworski distancia-se desse ponto de vista. Vale destacar agora, brevemente, a abordagem desse autor sobre as classes, não só pela originalidade, mas também pela sua influência nas universidades brasileiras e estrangeiras. 3. Marxismo, classes e individualismo metodológico: Adam Przeworski No artigo “A organização do proletariado em classe — o processo de formação das classes” (1989:67-119), Adam Przeworski critica a formulação baseada em A miséria da filosofia, de Marx (1982), que faria a cisão entre “classe em si” e “classe para si”, aquela vista como “simultaneamente objetiva e econômica”,' esta “caracterizada, pela organização e pela consciência de solidariedade. Dadas essas, categorias, o problema —•
58
tanto teórico como prático — passou a ser formulado em termos da transformação das relações de classe ‘objetivas’ em ‘subjetivas’, isto é, políticas e ideoló gicas” (1989:71). Para ele, baseando-se no próprio Marx, não caberia fazer esse tipo de cisão entre condições objetivas e subjetivas, entendidas como o econômico por um lado, e o político e o ideológico por outro. Przeworski contesta que “apenas as relações de produção constituem determinantes objetivos das relações de classe”, e nega também “que as classes são sujeitos históricos contínuos, isto é, uma vez for mados, continuam sempre a desenvolver-se como agen tes históricos”. Propõe alternativamente considerar as classes como “efeitos contínuos de lutas contidas na estrutura das relações econômicas, ideológicas e polí ticas sobre a organização e a consciência dos portadores das. relações de produção” (1989:98-99). Przeworski usa termos do marxismo estruturalista, pensando as classes como “efeitos das estruturas”, “portadoras das relações de produção”. Mas, curiosa mente, baseia-se também num dos opositores mais tenazes do estruturalismo, ao identificar-se explicita mente com a definição das classes sociais de E. P. Thompson, e com sua crítica a uma consciência de classe preestabelecida (1989:91, 92, 302). Ele pretende: raciocinar segundo a concepção, também sugerida por Marx, de que as condições econômicas, políticas e ideológicas estruturam conjuntamente a esfera das lutas que têm como resultado a organização, desor ganização e reorganização das classes. Assim sendo, as classes devem ser consideradas como efeitos de lutas estruturadas por condições objetivas que são simultaneamente de ordem econômica, política e ideológica. (Przeworski, 1989:67)
59
Descontada certa inspiração estruturalista, pode-se concordar com o essencial dessa proposição. Contudo, não parece pertinente a recusa da problemática clássica da “classe em si” e “para si”, desde que ela não seja entendida mecanicamente. Vale dizer, Przeworski tem razão ao criticar a noção de classe como mero dado da estrutura econômica, ao qual corresponderia neces sariamente uma consciência política, o que implicaria reduzir a problemática das classes a “saber como um grupo de indivíduos ocupantes de lugares torna-se uma coletividade em luta para realização de seus interesses objetivos” (1989:86). Contudo, ao negar a questão “dos lugares”, da “classe em si”:, parece-nos que Przeworski cai num certo tipo de voluntarismo politicista, em vez de alcançar o equilíbrio analítico que Maria Hermínia Tavares de Almeida vê em sua obra. Para ela, aquele autor recusaria as “duas visões polares” do marxismo: em primeiro lugar a “determinista, que reduz a política a epifenômeno de processos e estruturas sócio-econômicas”; em segundo lugar a “explicação voluntarista, que supõe um campo de escolhas quase ilimitado, transformando o jogo político e suas conseqüências no fruto dos erros e acertos de lideranças políticas operando sem resis tências a suas decisões” (1989:8). Embora, como aponta Maria Hermínia, Przeworski negue o voluntarismo tradicional de correntes comu nistas vanguardistas e reconheça a importância dos limites objetivos de Ordem econômica — mas também política e ideológica — à ação humana, é nesta que ele centra a análise. Isso se explicita pela sua adesão ao chamado individualismo metodológico, buscando fundir o marxismo à tradição das “teorias da escolha racional” dos indivíduos, tomados como seres “racionais e maximizadores de benefícios”, típica da teoria eco60
nômica capitalista neoclássica. Przeworski assume o postulado, cujo defensor clássico no campo da sociologia foi Max Weber, “de que todos os fenômenos sociais (sua estrutura e sua transformação) são a princípio explicáveis somente em termos dos indivíduos — suas características, objetivos e crenças”, conforme palavras de John Elster, destacadas por Maria Hermínia Almeida (1989:9).' A análise de Przeworski sobre as classes não alcança o pretendido equilíbrio analítico entre determinismo e voluntarismo. Em vez de captar a construção pelos homens do movimento contraditório da sociedade — conforme limites objetivos a um tempo econômicos, políticos e ideológicos —, acaba minimizando ou mes mo ignorando a inserção das classes no processo produtivo. O centro de sua análise está nas “escolhas” feitas pelos indivíduos, que construiriam racionalmente sua História, a partir de seus interesses individuais ou coletivos. O comportamento individual é “analisado como ação estratégica, orientada para objetivos, baseada em deliberações, adotada em função das alternativas percebidas e . resultante de decisões” (1989:18). Essas palavras de Przeworski são (quase literalmente uma definição weberiana de ação racional com relação a fins (Weber, 1969). Assim, por exemplo, a experiência da social-democracia européia adviria de escolhas ra cionais de capitalistas e trabalhadores, que teriam en contrado um modo de convivência estável. Os traba lhadores teriam escolhido o compromisso com os ca pitalistas em questões econômicas, em vez de optar por “estratégias mais radicais” (1989:16). A problemática da alienação e do fetichismo da mercadoria é reconhecida por Przeworski apenas de passagem, ao tratar da utopia socialista no “pós-escrito” do livro Capitalismo e social-democracia (1989), su61
pondo que o socialismo não será uma sociedade futura perfeita, mas “livre de alienação”, onde “as coisas não são instrumentos de poder” e a “relação da pessoa consigo mesma não é mediada por coisas” (1989:289). Diante desse reconhecimento da existência no capita lismo do domínio do mundo das coisas sobre o mundo dos homens, é surpreendente que o tema do fetichismo, indissociável da teoria do valor e da questão da formação das classes em Marx, seja ignorado por Przeworski no decorrer do texto, como já observou em uma resenha crítica Francisco de Oliveira (1989). Qual a livre escolha — senão em termos muito limitados — dos trabalhadores numa sociedade fetichizada? A adesão de Przeworski ao individualismo metodológico choca-se com a abordagem marxista do fetichismo, mas ele nada comenta a respeito. A julgar pela leitura do livro Capitalismo e socialdemocracia (Przeworski, 1989), que congrega artigos originalmente publicados entre 1977 e 1985, a trajetória da síntese formulada entre marxismo e individualismo metodológico caminha cada vez mais na direção desse último, em detrimento do primeiro, embora a proposta de síntese permaneça sempre instigante e criativa. Vale dizer, a ênfase no tema do “processo de formação de classes”, de 1977, foi dando lugar ao acento no “com portamento eleitoral dos indivíduos”, de 1985. A ten tativa de questionar o determinismo e o voluntarismo de versões clássicas do marxismo, presentes no texto de 1977, cedeu terreno à preocupação com o “com portamento individual”, salientado no pós-escrito pos teriormente elaborado para o mesmo texto. Ali aparece o exemplo referencial das escolhas de alternativas de vida pela “sra. Jones”, uma operária fictícia, que escolhe racionalmente seus caminhos a partir de uma série'de opções que lhe são dadas (1989:113-119).
62
Contestando Przeworski, Francisco de Oliveira sa lienta que, embora a questão dos “lugares” seja insu ficiente para a análise marxista, esta não pode prescindir dela: “no marxismo as classes se definem segundo a ótica e a posição ao conflito entre capital e trabalho”. A teoria dos lugares .não seria “suficiente, mas neces sária. Para desfazer os ‘lugares* é preciso enfrentar outro problema teórico: é preciso demonstrar a desconstrução da mercadoria e, portanto, de seu fetiche, que aliás estrutura ou é a sociabilidade capitalista; e isto Przeworski não faz” (Oliveira, 1989). Mais adiante, voltaremos às implicações do fetichismo na repre sentação política das classes sociais.
4. Trabalho produtivo, classe trabalhadora e classes médias
Abordar o tema das classes de uma perspectiva marxista implica a discussão, ainda que necessariamente ligeira no contexto deste livro, da questão da relação entre classes sociais e trabalho produtivo. Inequivocamente, as obras da maturidade de Marx apontam o trabalho produtivo como aquele envolvido na produção de mais-valia. Da ótica do movimento geral do capital (processo de produção, distribuição, troca e consumo), “só se torna produtivo o trabalho capaz de cumprir o destino desse capital, vale dizer, o processo de autovalorização. Em resumo, é produtivo o trabalho que acarreta mais-valia”, escreve Giannotti (1983:256). “O trabalho é produtivo, portanto, quando o salário correspondente está posto numa relação ne cessária com a massa de lucro que ele ajuda a gerar” (Giannotti, 1983:265-266). Para o próprio Marx, no Capítulo inédito, trabalho produtivo é aquele que “serve 63
diretamente ao capital como instrumento de sua autovalorização, como meio para a produção de mais-valia” (Marx, 1978:70). O Capítulo VI inédito de O capital mostra claramente que trabalho produtivo não é só aquele que produz bens materiais, podendo abranger também a produção “hão material”. Marx critica a “mania de definir o trabalho produtivo e o improdutivo por seu conteúdo material” (1978:78). Ele dá, entre outros, o conhecido exemplo do professor que exerce ou não trabalho produtivo, conforme seja empregado de um estabele cimento público, que não lucra com a compra de sua força de trabalho, ou de um capitalista dono de escola, que embolsa o sobrevalor gerado pelas aulas do pro fessor como produto imaterial (Marx, 1978:76). Mas André Villalobos observa que, se a obra de Marx tem essa abertura para a compreensão do capitalismo de hoje, ela revela também um caráter datado, ligado ao capitalismo do século XIX, pois Marx “não admitia que a ‘aplicação da produção capitalista’ à produção ‘não-material’ pudesse ultrapassar ‘magnitudes insigni ficantes”’ (Villalobos, 1978:29). Segundo Ruy Fausto, para Marx a “determinação essencial que é formal” da mercadoria não implica que ela se converta em objeto material. Ou seja, “a mercadoria pode ser definida pela forma apenas”, e nesse caso vendem mercadoria tanto o proprietário da escola que lucra com as aulas do professor, como o dono do hotel a explorar o trabalho de cozinheiros e garçons, quanto “o proprietário do circo que explora o trabalho do clown como o proprietário de uma fábrica de camisas que vende mercadoria”. Além dessa deter minação formal da mercadoria, isto é, a determinação principal, dada pela distinção entre “força de trabalho utilizada por seu valor de uso próprio e força de
64
trabalho utilizada para produzir sobrevalor”, haveria uma determinação secundária, material, dada pela dis tinção entre trabalho material e trabalho imaterial, a saber, trabalho que gera ou não produtos materiais, tangíveis. Assim, nos livros de Marx o termo mercadoria seria empregado ou em “posição formal” ou em “posição real (formal e material)” (Fausto, 1987:256-257). Quando falava em proletariado, parte da classe dos trabalhadores assalariados, parece que Marx se referia aos trabalhadores despossuídos e produtivos de bens materiais nas fábricas, portanto, aos produtores de mercadoria tanto em sentido “formal” (“essencial”), quanto em sentido “material” (“secundário”). Pois, se gundo Fausto, “o trabalho que tem como resultado um produto material, e o produto material, são as formas mais adequadas para respectivamente ser explorado em forma capitalista e ser vendido como mercadoria”. Mas isso não importaria tanto no capitalismo de hoje, onde “tudo se passa como se a forma capitalista tivesse quebrado essa barreira, ela se põe na matéria material como na matéria imaterial” (Fausto, 1987:255). Com isso, fica aberto o caminho para pensar como poten cialmente proletários também os trabalhadores assala riados despossuídos e produtivos de mercadorias ima teriais. A função de um agente individual na produção, tomado isoladamente, tampouco deve ser critério iden tificador do trabalho produtivo. O caráter de produti vidade do trabalho é coletivo, como mostrou Marx no Capítulo inédito: Com o desenvolvimento da subsunção real do tra balho ao capital ou do modo dè produção especi ficamente capitalista, não é o operário individual, mas uma crescente capacidade de trabalho social-
65
mente combinada que se converte no agente (Funktionãf) real do- processo de trabalho total, e como as diversas capacidades de trabalho que cooperam e formam a máquina produtiva total participam de maneira muito diferente no processo imediato da fprmação de mercadorias, ou melhor, de produtos — este trabalha mais com as mãos, aquele trabalha mais com a cabeça, um como diretor (rnanagef), engenheiro (engineer), técnico, etc, outro, como capataz (pverloocker), um outro como operário ma nual direto, ou inclusive como simples ajudante —, temos que mais e mais funções da capacidade de trabalho se incluem no conceito imediato de trabalho produtivo, diretamente explorados pelo capital e subordinados em geral a seu processo de valorização e de produção. Se se considera o trabalhador co letivo, de que a oficina consiste, sua atividade combinada se realiza materialmente (materialiter) e de maneira direta num produto total que, ao mesmo tempo, é um volume total de mercadorias; é abso lutamente indiferente que a função de tal ou qual trabalhador -— simples elo desse trabalhador coletivo — esteja mais próxima ou mais distante do trabalho manual direto. Mas, então a atividade dessa capa cidade de trabalho coletiva é seu consumo produtivo direto pelo capital, vale dizer, o processo de autovalorização do capital, a produção direta de maisvalia, e daí, como analisar-se-á adiante, a trans formação direta da. mesma em capital. (Marx, 1978:71-72)
Essas observações são importantes, pois é corrente nas análises marxistas a interpretação do trabalho pro dutivo como aquele exercido por indivíduos com um
66
lugar específico na linha de produção industrial ime diata, produzindo mercadorias materiais ou tangíveis, como o trabalho do blue collar que produz parafusos. Existe uma tradição analítica, expressa por exemplo num conhecido texto de Martin Nicolaus, segundo a qual a classe trabalhadora é aquela que exerce trabalho imediatamente produtivo nas fábricas, isto é, produtora de mais-valia no âmbito das empresas industriais. Seriam considerados trabalhadores improdutivos, logo, não per tencentes à classe trabalhadora,- aqueles que exercem suas funções nos escritórios das empresas e aqueles fora do âmbito da produção industrial, inclusive os empregados em setores fundamentais para a realização da mais-valia, caso de comereiários e bancários. Para Nicolaus, estaria latente nas obras de Marx uma teoria das classes médias, composta por trabalha dores não produtivos. Estes seriam os prestadores de serviços (serventes, criados, soldados etc.), ou ainda os que desempenham “as funções de distribuir, comer cializar, investigar, financiar, administrar, seguir a pista e glorificar o produto excedente em aumento”, por exemplo, bancários e comerei ários, entre outros (Ni colaus, 1972:99). À produção crescente do excedente (aumento da taxa e do volume de mais-valia), observada por Marx nos trabalhos de maturidade sobre o capi talismo, permitiria à burguesia criar uma classe cada vez maior de trabalhadores improdutivos, uma “classe média”, contrariando a previsão “hegeliana” do Mani festo de 1848, que previa uma polarização social crescente entre capitalistas e operários (Nicolaus, 1972:59-100). Visão totalmente oposta apresentou Braverman em difundido trabalho de 1974, no qual desenvolve a idéia de que no capitalismo de hoje já não haveria sentido em distinguir trabalho produtivo de trabalho improdu-
67
tivo, pois a massa dos trabalhadores assalariados, nas fábricas ou escritórios, nos bancos ou no comércio, estaria submetida à lógica do capital (Braverman, 1980:345-358). Ele escreve que: embora o trabalho produtivo e o improdutivo sejam tecnicamente distintos, embora o trabalho produtivo tenha tendido a decrescer na razão do aumento de sua produtividade, enquanto o improdutivo tenha aumentado apenas como consequência do aumento dos excedentes jorrados pelo trabalho produtivo — a despeito dessas distinções, as duas massas de trabalho não estão absolutamente em flagrante con traste e não precisam ser contrapostas uma à outra. Elas constituem uma massa contínua de emprego que atualmente e diferentemente da situação nos dias de Marx, têm tudo em comum. (Braverman, 1980:357)
Lúcio Kowarick critica abordagens como as de Braverman, que fazem praticamente desaparecer as diferenças entre trabalho produtivo e trabalho impro dutivo, podendo levar a uma visão simplificada, e não correspondente ao real, de uma sociedade dividida entre explorados e exploradores. Realmente, de uma perspectiva marxista, parece não haver como separar a noção de classe da teoria do valor, portanto, da questão do trabalho produtivo. O fundamento econômico da constituição das classes (que vimos ser por si só uma tendência, insuficiente para constituí-las enquanto classes), é dado pela sua inserção no processo de produção de valor: As relações de oposição entre as classes sociais devem, necessariamente, estar referenciadas ao ca ráter produtivo ou improdutivo do trabalho, de como, afinal de contas, as articulações contraditórias dessas
68
relações geram um excedente, que reproduz a so ciedade de classes cuja estruturação se calca no caráter privado com que parte do excedente é apro priado. (Kowarick, 1978:85)
Contudo, dizer que o estudo das classes deve passar pela análise da teoria do valor não implica identificar trabalho produtivo a classe operária. André Villalobos já apontou o uso ambíguo das expressões classe operária, proletariado e trabalhadores produtivos na literatura sociológica marxista, especialmente na tradição analítica em que se insere^ por exemplo, a obra de Martin Nicolaus. Ao contrário do que sugerem certos autores, “para Marx, o conceito de trabalho produtivo está longe de denotar um lugar social especificamente ope rário no processo de produção” (Villalobos, 1978:16). Inexiste uma identidade entre os conceitos de classe trabalhadora e de trabalho produtivo. Nao há uma causalidade do tipo: tal trabalho é produtivo, portanto é operário. Nem do tipo: só é membro da classe operária o trabalhador na linha de produção. O próprio Marx mostrava em O capital (1983, II, cap. VI) que é necessário, e pode ser produtivo, o trabalho envolvido no transporte, armazenagem ou dis tribuição de mercadorias, pois, embora não produza diretamente novas mercadorias, ele é fundamental para que elas se realizem no consumo. As mercadorias pereceriam na sua materialidade (no seu valor de uso), e não seriam mais passíveis de consumo, se nao fossem conservadas e transportadas depois de produzidas. Elas não se realizariam enquanto mercadorias (evidentemen te, elas só podem se tornar valores de troca se tiverem como suporte material um valor de uso). Como diria um comentador de Marx, o “transporte cria valor na medida em que altera as condições de uso de um
69
objeto que, como, tal, passa a ser a encruzilhada dum intercâmbio. Uma relação comercial, ao contrário, não possui tal propriedade, pois afeta unicamente as con dições de realização da forma valor” (Giannotti, 1983:264). Para Jacob Gorender, “uma parte das ati vidades abrangidas pela rubrica do comércio tem na tureza de trabalho produtivo, são somente improdutivas aquelas atividades comerciais que derivam das carac terísticas mercantis das relações de produção capitalistas, dizendo respeito aos gastos com as operações de compra e venda e com suas implicações especulativas” (Go render, 1983:XLIH). Em outros termos, o trabalho assalariado de um agente da circulação (de um comerciário empregado de uma loja, por exemplo) co labora na realização do valor de troca da mercadoria, isto é, ele a vende no mercado, mas não é trabalho produtivo, pois não contribui para alterar as condições de uso das mercadorias, pré-requisito para que elas possam , ser comercializadas. Hoje, entretanto, com o advento das grandes empresas de comércio, fica aberto caminho para ser considerado produtivo, por exemplo, o trabalho especializado na conservação do uso de bens perecíveis à venda nos grandes supermercados. André Villalobos fez uma análise da questão do trabalho produtivo na obra de Marx, apontando as pistas que ela abre e, ao mesmo tempo,. seus limites para a compreensão das relações de produção no capitalismo de hoje. Não cabe aqui reproduzir a ar gumentação, apenas registrar que Villalobos vê um lugar na produção, de. riquezas para uma “classe média” (composta, por exemplo, de cientistas e tecnólogos); que exerce trabalho produtivo, fundamental para o modo de produção capitalista, mas desenvolve “uma racionalidade funcional instrumental para o capital”, ocupando um “espaço social operatoriamente sobrepos-
70
to” ao da classe operária, e que ao mesmo tempo se distinguiria das antigas classes médias, não cabendo analisá-la sob o mesmo prisma (Villalobos, 1978:40-41). Bob Cárter (1985) também abordou o caráter pro dutivo do trabalho de classe média. Esta nasceria da separação da função clássica capitalista, entre gerência e propriedade. Ruy Fausto foi outro a indicar essa ambigüidade dos trabalhadores de classe média, que exercem função de capitalista, mas são assalariados e não proprietários (1987:281-285). Seria possível citar, como fez Fausto, passagens de obras de Marx apontando a tendência da gerência ser cada vez mais exercida por pessoas que não os proprietários capitalistas, como chefes de seção e administradores, constituintes do que poderíamos chamar de nova classe média, ao mesmo tempo agente do capital no interior da empresa e parte assalariada do trabalhador coletivo (produtivo). Em um trecho já citado do Capítulo inédito, viu-se que o trabalho do diretor, do engenheiro ou do capataz, faz parte do trabalho coletivamente produtivo. Tais- assa lariados seriam, por isso, operários? Numa passagem de A miséria da filosofia, Marx critica Proudhon por ter “a infelicidade de tomar os contra-mestres por operários comuns”, mostrando que os comícios promovidos pelos empresários contra os proprietários fundiários “pela abolição das leis sobre os cereais” foram prestigiados “em grande parto por contra-mestres, pelo pequeno número de operários que lhes eram dedicados e por amigos do comércio pro priamente ditos”, comícios dos quais não teriam par ticipado os “verdadeiros operários” (Marx, 1982:155156). . Para Marx, antes mesmo de desenvolver sua teoria do valor, uma coisa seriam os “operários comuns”, divididos entre o “pequeno número de operários que lhes [aos patrões] eram dedicados”,. e os operários 71
conscientes, estes os “verdadeiros operários”, constru tores das trade-unions\ outra coisa, bem diferente desses “operários comuns”, seriam os “contra-mestres”. Esta passagem, assim como a que segue, dentre outras, poderia sugerir um esboço teórico implícito nas obras de Marx sobre o trabalho produtivo de classe média. No capítulo de O capital referente à “maquinaria e grande indústria”, haveria uma pista, citada por Villalobos (1978:33), para pensar a diferenciação do trabalho nas indústrias: A distinção essencial é entre trabalhadores que efetivamente estão ocupados com as máquinas-fer ramentas (adicionam-se a estes alguns trabalhadores para vigiar ou então alimentar a máquina-motriz) e meros ajudantes (quase exclusivamente crianças) des ses trabalhadores de máquinas. Entre os ajudantes incluem-se mais ou menos todos os feeders (que apenas suprem as máquinas com material de traba lho). Ao lado dessas classes principais, surge um pessoal numericamente insignificante que se ocupa com o controle do conjunto da maquinaria e com sua constante reparação, como engenheiros, mecâ nicos, marceneiros etc. E uma classe mais elevada de trabalhadores, em parte com formação científica, em parte artesanal, externa ao. círculo de operários de fábrica e só agregada a eles. Essa divisão de trabalho é puramente técnica. (Marx, 1984, I, 2:42, grifos nossos)
É visível que Marx usa nesse trecho o termo classe com muita abrangência, no sentido de classificar os tipos de trabalho dentro das fábricas, pois ele chama de “classes principais” os “ocupados com as máqui nas-ferramentas” e os “meros ajudantes”; fala também em uma “classe mais elevada de trabalhadores” que
72
estaria “ao lado das classes principais”, só “agregada” aos operários, “externa” a seu círculo, quando se refere a engenheiros, mecânicos e outro pessoal “numerica mente insignificante” que se ocupa com o controle e a reparação do conjunto da maquinaria. Na nota de rodapé correspondente a essa passagem, Marx critica o “engodo estatístico” que incluiria “não só engenheiros, mecânicos etc., mas também dirigentes de fábrica, vendedores, mensageiros, supervisores de estoques, empacotadores etc., em suma, todas as pessoas, exceto o próprio proprietário da fábrica, na categoria de operários fabris” (Marx, 1984, I, 2:42). Evidencia-se que Marx via engenheiros, mecânicos, supervisores, vendedores, etc., como grupos ou “classes” diferenciadas daquela dos operários fabris, apesar de exercerem trabalho coletivamente produtivo. Parece que Marx entendia, como sugeriu Ruy Fausto, o operariado fabril, o pro letariado num sentido estrito, ou, se quiserem, a “classe” dos operários fabris, como parte diferenciada e fun damental, constituinte da “classe dos trabalhadores as salariados” (além do que, o próprio operariado fabril é diferenciado internamente, como evidencia o texto citado). Torna-se possível interpretar que os membros de uma “classe mais elevada de trabalhadores” com poriam uma das frações possivelmente constituintes da classe trabalhadora (classe dos trabalhadores assalaria dos), classe que necessariamente aparece estilhaçada em fragmentos pela dinâmica de funcionamento do capitalismo. Mas também fica em aberto a hipótese de que • pelo menos uma parte dessa. “classe mais elevada” possa constituir-se no que certos autores cha mam de nova classe média, típica do capitalismo, como seria o caso de supervisores, engenheiros, cientistas, gerentes etc.
73
O caráter produtivo do trabalho de uma nova classe média também foi apontado por Lúcio Kowarick. Essa classe seria responsável pelo trabalho científico e tec nológico, que é o alicerce do processo de produção de riquezas, ç pelas funções técnico-administrativas, fundamentais para a criação do excedente e para a expansão do capitalismo (Kowarick, 1978; 89). Em O elo perdido — classe e identidade de classe, Francisco de Oliveira observa que a formação das classes médias ocorre com a radicalização da separação entre produ tores diretos e meios de produção, típica do capitalismo desenvolvido. “Ao radicalizar a separação referida, a reprodução ampliada do capital, embora qualifique o trabalhador, o faz desespecializando-o: esta é uma das condições para o trabalho abstrato” (1987:96). A uni dade do processo de reprodução estaria perdida, o trabalhador já não teria noção prévia do processo de trabalho. Inicialmente, o próprio capitalista tratava de recuperar na direção da empresa a unidade perdida do processo de trabalho. Todavia, com “a aplicação rigorosa das leis de reprodução ampliada, também se distancia do conhecimento técnico necessário para pôr em marcha o processo de trabalho”. No lugar do capitalista'■ en trariam “o técnico, engenheiro, químico, gerentes, ad ministradores, planejadores e toda a coorte de outro ‘trabalho concreto’ que se concretiza nos trabalhos administrativos, secretaria, informação, arquivo, etc”. Essa seria a gênes.e das novas classes médias (Oliveira, 1987:96). Raciocínio parecido também é desenvolvido, ao tratar das “camadas médias do emprego”, por Harry Braverman (1980:341-346). Embora minimizando o dis tanciamento entre as “camadas médias” e a classe operária, pois aquelas tenderiam a proletarizar-se e “quase toda a população transformou-se em empregada
74
do capital”, Harry Braverman não deixa de destacar a especificidade dessas camadas, portadoras de trabalhos técnicos e organizacionais concretos que o operariado já não estaria em condições de exercer. Seriam exem plos: “os engenheiros, técnicos, quadro científico, os níveis inferiores da supervisão e gerência, o considerável número de empregados especializados e ‘liberais’ ocu pados em mercadejamento, administração financeira e organizacional e semelhantes, fora da indústria capita lista, em hospitais, escolas, repartições públicas, etc.” (Braverman, 1980:341);
Está-se vendo que, de um ponto de vista marxista, o‘valor é “estruturador da .sociabilidade, portanto pro dutor também das classes sociais”, como diria Francisco de Oliveira (1988:283). Esse autor dá uma contribuição inovadora à discussão das classes médias ao propor que, além da fundamentação proposta por Braverman — que “pesquisou o surgimento das classes médias como portadoras de trabalhos concretos, substituindo o proletariado em funções para as quais este já não estava capacitado” —, haveria “uma outra demarche possível na esteira da sociabilidade do valor” (Oliveira, 1988:284). As novas classes médias estariam umbilicalmente ligadas, ao “surgimento do antivalor”, isto é, ao papel do fundo.público nas sociedades contemporâneas. Esse fundo teria se tornado pressuposto do financiamento da acumulação privada de capital (perdendo o caráter ex-post, típico do capitalismo concorrencial), ao mesmo tempo em que financiaria a reprodução da força de trabalho, abrangendo o conjunto da- população por intermédio de gastos sociais. Isso implicaria a implosão do “valor como único pressuposto da reprodução, am
75
pliada do capital, desfazendo-o parcialmente enquanto medida da atividade econômica e da sociabilidade em geral” (Oliveira, 1988b: 14). Daí decorreriam modifica ções na estrutura e na representação de classes no capitalismo contemporâneo. A função intermediadora do fundo público “deu lugar à ampliação e fixação das funções das classes médias”, cuja especificidade residiria “na gestão da articulação entre o público e o privado” (1988b:24), Para Oliveira, aproximando-se nesse aspecto das posições de Giannotti (1983), no capitalismo de hoje, “dissolveu-se a tendência à formação de uma taxa média de lucro, para dar lugar, no mínimo, a duas taxas médias: a do setor oligopolista e a do setor concorrencial ‘primitivo’”. O fundo público seria “de cisivo na formação da taxa média de lucro do setor oligopolista, e pelo negativo, pela sua ausência, na manutenção de capitais e capitalistas no circuito do setor concorrencial ‘primitivo’” (Oliveira, 1988b: 14). Nessa medida, torna-se essencial o acesso ao fundo público, ganhando relevo os que fazem a intermediação entre o público e o privado, ou seja, as novas classes médias. Num artigo sobre “as classes médias e a consolidação democrática” no Brasil (Oliveira, 1988), ficam mais claras as novas funções de classe média:
de tradutor e articulador das demandas particulares, privadas, na operação de confluência, negociação e viabilização de interesses, antagônicos ou não. Prin cipalmente no acesso às diversas formas de fundo público que regulam a reprodução dos capitais pri vados, assim como a reprodução da força de trabalho, e de outros interesses mais difusos ao nível da totalidade da sociedade. (1988:286)
76
Oliveira dá um exemplo esclarecedor de suas idéias sobre a intermediação entre o público e o privado: nas reivindicações dos movimentos sociais, “a função dos assessores, do lado dos próprios movimentos sociais, e dos técnicos, do lado do Estado, revela a proeminência das funções de traduzir e articular”, que constituiriam “ao mesmo tempo a construção e a administração da medida” (1988:286). Ou seja, a concessão ou não, e em que medida, do fundo público para satisfazer as reivindicações dos movimentos sociais, depende da articulação e da intermediação dos técnicos, tanto aque les dos movimentos quanto os do Estado. De outra parte, podemos acrescentar por nossa conta o exemplo das “funções de tradução e articulação” desempenhadas por assessores e lobistas.de empresas nacionais e multinacionais junto a organismos públicos com capacidade para financiar e subsidiar a iniciativa privada, como a SUDENE, o BNDES, os Ministérios e o próprio Congresso Nacional, em transações que passam necessariamente pela intermediação de técnicos estatais. Dependendo da negociação entre esses técnicos e aqueles das empresas particulares, o fundo público será mais direcionado para este ou aquele setor, em maior ou menor escala. Vale dizer, “a construção e a administração da medida” são indissociáveis das “fun ções de tradução e articulação” das novas classes médias. Pode-se dizer ainda que os técnicos do Estado e os particulares, constituintes das novas classes médias, por vezes trocam de posição. A história recente do Brasil é repleta de exemplos de ex-ministros, ex-generais, ex-congressistas, ex-funcionários públicos de médio e alto escalão, que passam a ser empregados ou assessores de empresas privadas, e vice-versa: o Estado recruta parte de sua alta burocracia da iniciativa 77
privada. Há um “permanente trânsito” entre “funções públicas e funções privadas, o ‘troca-troca’ de posições entre burocracia estatal e burocracia das empresas denuncia outra coisa: a ausência de medidas auto-re guláveis e a impossibilidade teórica e prática do exer cício de funções que busquem operacionalizar, de forma exclusiva e excludente, a razão do Estado ou a razão dos interesses privados”. Daí, segundo Oliveira, as burocracias estatais deixarem de ser um estamento à parte, para serem incluídas nas classes médias e no seu “núcleo forte”, a intelligentsia, pois já não seriam meras operadoras da razão de Estado, mas “sobretudo articuladoras e tradutoras simultâneas da razão de Estado e das razões privadas” (1988:286-287). As novas classes médias são essenciais para o capitalismo de hoje. Vimos que elas se constituem a partir não só das funções técnico-administrativas e do trabalho científico e tecnológico, exigidos pelo enri quecimento da divisão social do trabalho, conforme propostas de autores como Braverman, Kowarick e Villalobos, mas também cumprem “funções de traduzir e articular” demandas particulares pelo fundo público. Responsabilizam-se pela “construção e administração da medida”, isto é, pela alocação de recursos públicos, indispensáveis tanto para financiar a acumulação de capital, em busca do lucro e da valorização do valor (em casos como “os gastos armamentistas, a sustentação da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, o uso da dívida interna como sustentação da rentabilidade das empresas”), quanto para financiar “a produção de bens de consumo coletivo que não buscam o lucro, nem valorizam o valor: são antimercadorias sociais”, tais como os gastos estatais com saúde, educação, “políticas de bem-estar, de seguro-desemprego, de lazer, os transportes públicos” etc (Oliveira, 1988: 284 e
78
294). Posteriormente, voltaremos a essa questão das “antimercadorias sociais”.
Se, por um lado, nem todo trabalhador produtivo é operário, por outro, há trabalhadores reconhecidamente não produtivos (de mais-valia) que podem ser consi derados potencialmente operários, num sentido amplo, constituintes da “classe dos trabalhadores assalariados”, de que fala Marx. Isso não significa abandonar a teoria do valor na análise das classes, e sim compreender não só a produção, mas também a realização do valor, que implica distribuição, troca e consumo. Já vimos como Ruy Fausto expôs a teoria das classes pressuposta em Marx, destacando a diferenciação no interior da “classe dos trabalhadores assalariados”, da qual o pro letariado em sentido estrito seria parte constituinte. Nas palavras de Marx em O capital, lembre-se, proletário é o “trabalhador assalariado, que produz e valoriza capital e que é posto na rua logo que se torne supérfluo para as necessidades do capital”, conforme conhecido trecho, citado, dentre outros, por Fausto (1987:234). Sedi Hirano estuda detidamente a questão dos tra balhos envolvidos na circulação do capital, demons trando que os trabalhadores empregados nessa esfera não vivem de renda criada no setor produtivo. Um comerciante compra a força de trabalho de seu em pregado com capital variável, a fim de valorizar o capital investido nessa compra e não para seu serviço pessoal, caso diferente, por exemplo, do emprego do méstico, este sim remunerado com renda. Os assala riados da circulação são fundamentais para a realização da mais-valia. Não há espaço para considerá-los de classe média só por não produzirem diretamente maisvalia, como fazem-Nicolaus, Poulantzas e outros tantos. 79
Hirano cita um trecho do livro II de O capital, segundo o qual a realização da mais-valia “é tão necessária à produção de mercadorias quanto a própria produção, e os agentes de circulação portanto tão necessários quanto os agentes da produção” (Hirano, 1987:185). Cita palavras de Marx ainda para mostrar que ele considerava o assalariado do comércio “um assalariado como qualquer outro”, executor de “trabalho não pago que, embora não crie mais-valia, permite-lhe apropriarse de mais-valia, o que para esse capital é a mesma coisa; esse trabalho assalariado é portanto fonte de lucro” (Hirano, 1987:186). A única diferença entre os assalariados do comércio e os trabalhadores assalariados produtivos seria que aqueles não criam diretamente valor, embora seu tra balho possa ser considerado, para Hirano, como “um trabalho produtivo de uma modalidade especial”. Ele destaca uma passagem do livro III de O capital, na qual Marx trata do trabalho envolvido na circulação como “produtivo [...] por concorrer para diminuir os custos de realização da mais-valia, efetuando trabalho em parte não pago”, mesmo que não crie mais-valia (Hirano, 1987:188). Também os assalariados do capital financeiro, embora não produzam mais-valia, são fun damentais à acumulação de capitàl-dinheiro e à própria reprodução capitalista. Portanto, fazem parte potencial mente da classe trabalhadora, não são sustentados por rendas pessoais.dos capitalistas, mas pelo seu próprio trabalho, necessário ao processo global de produção capitalista (Hirano, 1987:198). No entanto, é claro que, por exemplo, dentre bancários e comerciários, há em pregados intermediários com função de gerência que podem ser tomados como eventuais constituintes da classe média, e não da classe trabalhadora assalariada.
80
Contra a “classificação por exclusão” das classes médias, Francisco de Oliveira escreveu com precisão que o “processo de industrialização tem tido como conseqüência o crescimento das chamadas ‘classes mé dias’, um heterogêneo conjunto de ocupações, qualifi cações e níveis de remuneração, cuja única homoge neidade é dada pelo fato de que não estão diretamente empregados na linha de produção. Essa classificação por exclusão revela-se cada dia mais problemática, incapaz de dar conta da especificidade desse amplo grupo social” (1987:95). Guilhon Albuquerque revela a ilusão daqueles que vêem a classe operária como “minoritária e de menor importância”, ao jogar com o “hiperdesenvolvimento do ‘terciário’”, como se tal setor “pudesse constituir-se numa categoria autônoma de assalariados, e até mesmo uma classe social” (1977:12).. Parece adequada a idéia de que a classe operária, entendida como a “classe de trabalhadores assalariados”, é numericamente preponderante nas sociedades capita listas. Porém, não seria correto tomá-la como um todo monolítico, sem considerar sua diferenciação interna e o lugar tendencialmente privilegiado dentro da classe para a ação política dos trabalhadores envolvidos nos setores econômicos de ponta, cruciais para o funcio namento global do sistema. Na época de Marx, esses trabalhadores eram os operários industriais. Com as complexidades crescentes do capitalismo contemporâ neo, isso já não é mais tão claro. De qualquer forma, por exemplo, as lutas sociais recentes no Brasil, ca pitaneadas pelo proletariado do ABC paulista, revelam que o operariado industrial ainda parece ter um pa pel-chave na construção da.classe trabalhadora. Con tudo, cabe dizer também que, com o desenvolvimento do capitalismo financeiro, da automação e da infor-
81
mática, os setores econômicos de ponta podem implicar trabalho não só na linha de produção, mas também no âmbito da realização da mais-valia. Logo, fica aberta a hipótese de haver um lugar potencialmente estratégico, no capitalismo de hoje, para certos traba lhadores não produtivos no processo de constituição da classe trabalhadora, como uma unidade na sua diversidade. A mais-valia realiza-se no plano societário, não nas unidades de produção. Assim, a classe trabalhadora não pode ser entendida apenas como aquela que realiza trabalho produtivo na linha de produção imediata. São constituintes ou construtores potenciais da classe todos os assalariados despossuídos, na sua diversidade, en quanto portadores de uma massa de trabalho abstrato que é expropriada diferencialmente conforme os inte resses do capital. Também parecem entender mais ou menos dessa forma a questão de constituição da classe trabalhadora, dentre outros, Brasílio Sallum Júnior (s/d) e Michel Lõwy (1985). Nessa discussão sobre classes sociais e trabalho produtivo, o fundamental é destacar que “não nos importa tanto, nesta controvertida questão do trabalho produtivo e improdutivo, a separação deles, como se a dificuldade residisse apenas em caracterizá-lo e clas sificá-lo, mas sobretudo a lógica de sua complemen taridade” (Giannotti, 1983:257).
5. Nota sobre classe e estratificação social É preciso ter claro que uma classe não é mera soma dos ocupados em determinada profissão, nem daqueles com certo nível de renda ou de formação cultural. As classes não são identificáveis por qualquer
82
dado quantitativo. Nos termos propostos por Guilhon Albuquerque, cabe abandonar a “ilusão do concreto”, da forma empírica de aparecer o real, pois não se pode contar “os membros de uma classe social como se conta a tropa na hora da chamada. As classes existem e se formam no conflito que as opõem” (1972:12-13). Contudo, se as relações de sociabilidade são um dar-se, em (des)contínuo movimento, jamais meros dados, também é verdade que os dados são fruto de construções que procuram apreender a maneira pela qual necessariamente se cristaliza o dar-se num determinado momento. Em outros termos, a forma de aparecerem as relações de classe, que não se confunde com seu conteúdo essencial, pode ser empiricamente, observável pela construção de dados, tais como: a ocupação exercida por um conjunto de pessoas, seu nível de renda, de formação escolar, etc. Quando se depara com uma determinada sociedade, na sua mul tiplicidade de formas concretas de relacionamento social, os dados são o ponto de partida de que se pode dispor para a análise das classes sociais. Isso não implica a submissão — de cunho positivista — à observação empírica dos dados, dando a eles uma suposta natu ralidade e inexorabilidade. Trata-se de observar os dados para questioná-los, chegar a seus fundamentos não empiricamente visíveis, conforme a proposta de Michel Thiollent (1981:15-39). Pode-se argumentar, com razão, que as classes têm um sentido coletivo próprio, que elas não se confundem com agregados de indivíduos ou de vontades pessoais. Entretanto, elas são constituídas por pessoas dotadas de vontade e capacidade de ação e transformação, ainda que submetidas à alienação e, em diferentes graus, ao conformismo, impostos pela dinâmica do capitalismo. Empiricamente, as classes virtuais aparecem 83
como agregados de indivíduos que exercem determi nadas ocupações, têm certos níveis salariais e de ins trução, possuem menos ou mais bens etc. São pessoas que se relacionam entre si por intermédio do mercado, e cujo trabalho ou não-trabalho necessariamente se submete à lógica de acumulação do capitalismo. Elas encontram-se agrupadas pela concorrência mercantil numa estratificação social. As relações entre capital e trabalho assumem a forma imediata de relações entre indivíduos e grupos de indivíduos, supostamente livres, iguais e dotados de vontade própria, que se relacionam enquanto tais no mercado, inclusive comercializando a força de trabalho. De modo que uma dada estratificação social, obri gatoriamente multifacetada pela concorrência mercantil, é forma necessária de aparecer um conteúdo dela diferenciado, as relações das classes sociais, em processo de constituição num determinado momento. A estrati ficação social não seria uma superestrutura jurídica e política, enquanto as classes estariam na estrutura eco nômica, ao contrário da proposta de Stavenhagen (1980:281-296); tampouco estaria certo Luiz Pereira, que vê tanto os estratos como as classes sociais nas estruturas e nas superestruturas, mas as classes dadas pelas “relações de produção” e os estratos pelas “re lações de distribuição-consumo” (Pereira, 1977:139457). Parece-nos que os estratos ou grupos sociais são formas empíricas de aparecer a relação entre capital e trabalho, a relação entre as classes fracionadas pela concorrência mercantil numa infinidade de partículas, vale dizer, de estratos — agrupados conforme critérios de observação empírica do pesquisador. Nas palavras de Brasílio Sallum Júnior, seria preciso:
reconhecer que, por sua natureza mesma, as relações de classe não são empiricamente observáveis na sua 84
inteireza, ou melhor, só se deixam observar através de formas particulares de manifestação empírica, geralmente sob formas de desigualdades de fortunas, de posição econômica, etc. Não se deixando apreen der em sua inteireza no plano empírico, as relações de classe, tais como outros conceitos de origem marxista — valor, mais-valia, etc. — são algo a desvendar, descobrir. (Sallum Jr, s/d:ll-12) .
Entretanto, as classes não são algo já dado pelas estruturas do capitalismo. Elas constituem-se como classe no processo de luta: “Não existe uma classe em si que, no dia especialíssimo de Pentecostes, re cebesse a dádiva da consciência. Existir, para um grupo social notadamente, significa a travessia do em si até o para si, a aventura do processo de sua identificação”, como diria Giannotti (1983:337). Isso nos coloca diante da questão da representação na construção da identidade de classe.
85
II SOBRE REPRESENTAÇÃO DE CLASSE 1. Representação das relações sociais pela troca de mercadorias (fetichismo da mercadoria) É “imprescindível para a própria individualização do social seu processo interno de representação’’, como assinala Giannotti (1983:18). A representação “não consiste numa duplicação mental da coisa, pelo con trário, gera-se um relacionamento com outrem em que essa coisa cumpre uma função mediadora” (Giannotti, 1983:21). É conhecida a parte do capítulo I de O capital sobre o dinheiro como mediação necessária das relações sociais sob o capitalismo. Trata-se do equi valente geral que representa a intercambialidade de todas as mercadorias entre si. Estas aparecem como tendo valor em si mesmas, valor representado na relação de troca pelo preço da mercadoria. A troca, mediada pela relação cambial, é a forma necessária de aparecer o valor, que não parece ser o que na verdade é, fruto do trabalho social. A forma do valor (valor de troca) oculta necessariamente seu conteúdo: as relações sociais de produção, ou relações de trabalho entre classes opostas, aparecem como relações entre coisas trocadas no mercado e que valem em si mesmas. Numa frase, as relações sociais no modo de produção capitalista aparecem sob a forma de relações naturais entre coisas. Eis o caráter místico e fantasmagórico da mercadoria, a mascarar os fundamentos das relações de classe e marcar o que Marx chamou de fetichismo
86
da mercadoria (1983, 1:45-78). O fetichismo da mer cadoria não se impõe aos homens só como uma “mistificação” que encobre a essência do real, mas ao mesmo tempo como uma “dominação” impessoal do mundo das coisas sobre o mundo dos homens, conforme análise de Norman Geras (1977). Segundo Jacob Gorender, uma vez que a mercadoria é posta à venda, “o objeto domina o produtor. O criador perde o domínio sobre sua criação e o destino dele passa a depender do movimento das coisas, que assumem poderes enig máticos. Enquanto as coisas são animizadas e perso nificadas, o produtor coisifica-se. Os homens vivem, então, num mundo de mercadorias, um mundo de fetiches” (Gorender, 1983: XXXVII). No capitalismo: “a produção e suas relações regem o homem em lugar de serem regidas por ele”; “a independência das pessoas umas com relação às outras tem seu complemento obrigatório em um sistema de dependência recíproca, imposta pelas coisas”, escreveu Marx em trechos de O capital, lembrados por-Geras (1977:264). Vale dizer, as relações sociais sob o capitalismo necessariamente representam-se por intermédio da troca de mercadorias, mediada por sua vez pela “coisa” dinheiro. A sociabilidade capitalista representa-se por meio do fetichismo da mercadoria. As relações sociais são mediadas pela troca de mercadorias, as quais passam aparentemente a ter valor próprio, mistificando as relações sociais (de classes virtuais) envolvidas na sua produção. A coisa dinheiro, como equivalente geral que representa a intercambialidade de todas as merca dorias, cumpre a função mediadora necessária das relações de troca. O conflito entre capital e trabalho, inerente à produção capitalista, aparece como relação natural de troca de mercadorias que valem por si mesmas e são intercambiáveis entre, si por intermédio 87
do dinheiro. Logo, a troca mistifica o conflito entre capital e trabalho, fazendo-o aparecer como conflito concorrencial entre proprietários de mercadorias. En tretanto, se é verdade que a concorrência traça “o perfil das frações de classe”, “separando e unindo os grupos”, ela não resolve ou concilia o conflito entre capital e trabalho, “embora seja graças a ela que esse conflito se manifesta e se efetiva" (Giannotti, 1983:294). Em outros termos, as relações sociais de classe no capitalismo são representadas pelas relações de troca de mercadorias entre supostos proprietários “livres e iguais” para competir no mercado. Tal representação mascara o conflito entre capital e trabalho, subjacente às relações de concorrência mercantil, mas por si só não é capaz de promover a conciliação dos interesses de classe, de gerar harmonia entre capital e trabalho, na medida em que não resolve sequer o conflito na sua forma necessária de aparecer, isto é, não é capaz de conciliar os interesses dos proprietários de bens como concorrentes no mercado. De modo que “o conflito entre capital e trabalho, se tem a troca como pressuposto e resultado, não pode ser conciliado por ela: de ambos os lados aparece uma força com direitos próprios que terminaria por se esgotar a si mesma numa violência sem fim, se a luta não fosse articulada numa instância superior” (Giannotti, 1983:294). 2. Representação dos cidadãos proprietários no Estado (fetichismo jurídico do Estado)
Em A ideologia alemã, Marx e Engels escreveram que o “interesse coletivo toma, na qualidade de Estado, uma forma autônoma, separada dos reais interesses particulares e gerais”, e ao mesmo tempo ele teria a
88
i
I
1
“qualidade de uma coletividade ilusória, mas sempre sobre a base real”, que seria a divisão do trabalho, r mascarada pela existência do Estado enquanto “cole tividade ilusória” (Marx-Engels, 1977:48). Dito de outro modo, o Estado aparece como representação do conjunto da sociedade, jamais como expressão dos antagonismos sociais. Ele aparenta ser “uma forma autônoma”, neutra e acima dos interesses dos indivíduos que nele se representam. Justamente por essa aparência, também surge como “uma força estranha situada fora deles [dos indivíduos que nele se representam], cuja origem e destino ignoram” (Marx-Engels, 1977:49). Essa “co letividade ilusória”, aparentemente acima dos “interesses particulares e gerais”, pode ser chamada de fetichismo do Estado. Tentemos entendê-lo melhor. O conflito de classe entre capital e trabalho aparece sob a forma de concorrência entre sujeitos de direito, proprietários de mercadorias, que se colocam no mer cado para negociar. A fim de evitar a guerra de todos contra todos na luta por seus próprios direitos nas relações de troca, faz-se necessária a mediação de uma instância superior às partes que se contrapõem no mercado, para solucionar os eventuais litígios entre elas, a saber, “o Estado como representação: síntese, sumário, comprehensio da sociedade civil (Zusammenfassung der bürgerlichen Gesellschaft')” (Giannotti, 1983:294). O Estado surge como mediação política e jurídica necessária para manter as regras do jogo mercantil, para evitar uma violência sem fim das partes contra tantes na luta pelo prevalecimento de seus supostos direitos. As relações entre capital e trabalho, que aparecem sob a forma de relações de troca entre indivíduos livres e iguais, implicam a existência do Estado como o tertius que necessariamente aparecerá
89
como entidade neutra e acima das classes e dos membros da sociedade, como representante do conjunto dos cidadãos, único detentor da legitimidade do poder de coação para resolver as pendências e conflitos entre os membros da sociedade, que se relacionam entre si por intermédio do mercado (tudo se compra e vende, inclusive e principalmente a própria força humana de trabalho). Garante-se, desse modo, a sobrevivência da ordem social em nome do bem comum supostamente encarnado no Estado. Ao garantir, como mediador, a relação capitalista mais simples, a relação de troca de mercadorias, o Estado dá suporte à manutenção do próprio capitalismo, daí seu caráter de classe. Não é falsa — mas forma real e necessária — a imparcialidade do Estado frente às relações mercantis. Entretanto, ao garantir a reali zação da troca, a convivência “ordeira e pacífica’" entre os indivíduos contratantes, o Estado está mantendo, legalizando e legitimando, o modo de produção que se fundamenta na troca: o capitalismo. Ele garante a manutenção da troca, forma necessária mas mistificadora de aparecerem as relações entre capital e trabalho. Portanto, ele também garante a manutenção dessas relações sociais, aparecendo obrigatoriamente como en tidade acima das classes. Será o terceiro elemento da relação mercantil capitalista. Vale reafirmar, a relação de troca de mercadorias entre dois sujeitos pressupõe a possibilidade do litígio entre eles, daí a necessidade da norma jurídica, de um direito objetivo, em suma, da intervenção do Estado. Posto efetivamente o litígio, o Estado deverá solucio ná-lo pela aplicação de normas jurídicas. Fica demons trada a gênese mercantil do Estado, que surge histo ricamente a partir da relação de troca com uma aparência
90
necessária de neutralidade e imparcialidade, como expôs Pasukanis: A coação, enquanto imposição baseada na violência e dirigida por um indivíduo contra outro indivíduo, contradiz as premissas fundamentais das relações entre os proprietários de mercadorias. [...] Na so ciedade de produção mercantil a subordinação a um homem como tal, enquanto indivíduo concreto, sig nifica a subordinação a um arbítrio, visto que isso equivale à subordinação de um proprietário de mercadorias perante outro. Eis por que a coação, também aqui, não pode aparecer sob a sua forma não mascarada, como um simples ato de oportuni dade. Ela deve aparecer antes como uma coação que provém de uma pessoa coletiva abstrata, e que é exercida não no interesse do indivíduo donde provém — porque numa sociedade de produção mercantil cada homem é um homem egoísta —, mas no interesse de todos os membros que participam nas relações jurídicas. O poder de um homem sobre outro exprime-se na realidade, como o poder do direito, ou seja, como o poder de uma norma objetiva imparcial. (Pasukanis, 1972:153; grifos nos sos)
O Estado cumpre uma função mediadora entre os indivíduos-cidadãos-proprietários, fazendo tabula rasa de suas distinções de classe, reconhecendo os conflitos sociais apenas como os da concorrência natural em uma sociedade de mercado, onde impera a “livre empresa”. Os distintos interesses de classe não são reconhecidos pelo Estado como tais, mas tratados como se fossem divergências entre cidadãos livres e iguais para contratar. As classes sociais, postas como uma virtualidade pelo modo de produção capitalista, não se
91
representam no Estado enquanto tais, “pois isso equi valería a reconhecer a existência duma separação indecidível que os alimenta, uma ruptura sotoposta ao contrato, por conseguinte uma violência que macularia o próprio exercício dessa relação eqüitativa” (Giannotti, 1983:294-295). O Estado aparece como representante do bem co mum, da vontade geral de todos os cidadãos, estando acima deles e agindo de modo neutro e imparcial, o que lhe dá legitimidade para resolver as pendências entre os sujeitos de direito, elaborando, julgando e depois executando leis gerais, supostamente em bene fício do conjunto da sociedade. Os cidadãos podem participar da formulação e execução dessas leis, por exemplo, com a eleição de representantes no poder legislativo e no executivo. Tais representantes não aparecem “como eles são, membros de classes dife rentes”, e sim “como pessoas representantes de outras pessoas” que participam do contrato social. “Graças a essa operação ideológica, os membros da sociedade civil se mostram aglutinados numa comunidade origi nária, a encobrir suas diferenças efetivas” (Giannotti, 1983:295).
3. Representação de classe e representação institucional (fetichismo da representação política) O fundamento da legitimidade do Estado está na sua aparência de representante do conjunto dos cidadãos. Nos moldes clássicos da democracia, essa representação efetiva-se por intermédio de partidos políticos, que lançam candidatos a eleições para os poderes legislativo e executivo, isto é, o “povo” escolhe seus representantes para fazer as leis e para executá-las em seu nome.
92
Assim, os vários partidos políticos representam inte resses conflitantes no interior de uma sociedade diver sificada, que terá sua ordem e unidade garantidas pela representação do conjunto d.o povo no Estado, defensor do bem comum. Ou seja, a representação dos cidadãos no Estado é mediada pelos seus representantes políticos. Tem-se, então, a possibilidade de representação de diferentes indivíduos, na verdade membros virtuais de diferentes classes, no interior do Estado. As classes sociais mistificam-se enquanto tais ao representarem-se no Estado por intermédio de partidos, mas também de sindicatos ou lideranças isoladas:
cada classe ultima sua individualidade por meio das organizações que a representam, as quais, projetadas ao nível do Estado, terminam por negar as bases diferenciais em que se assentam. Nesse plano, a própria representação operária, embora consista num dos meios mais poderosos de sua transformação em classe para si, resulta no encobrimento de sua razão de classe. A barganha política, tecida pelos repre sentantes das várias classes, pode ter sintaxe própria, mas é forma de integrar o proletariado na sociedade burguesa. [...] o fenômeno político não é mais do que uma aparência por onde se efetua o processo mais profundo da exploração pela mais-valia. (Giannotti, 1983:297) Não há lugar para o. simplismo de ver o Estado como mero aparelho para o exercício exclusivo de dominação burguesa, onde de fato só as classes do minantes estariam representadas. Octavio lanni já ob servou que “em situações concretas [...] as classes são representadas diferencialmente no Estado burguês”. Pela representação no Estado, ocorre a aparente “conciliação de interesses desiguais e contraditórios, como os da
93
burguesia, da classe média e do proletariado”, Essa conciliação aparente é condição para subjugar os in teresses das outras classes aos da burguesia, “a con ciliação tanto propicia a continuidade e aceleração da produção de mais-valia, como permite evitar o agra vamento das contradições de classe além dos limites convenientes à vigência do regime” (Ianni, 1979:36-38). O Estado está “inserido no jogo das relações entre as pessoas, os grupos e as classes sociais”, é “produto de antagonismos, feixe de contradições” (Ianni, 1979:3031). Ele é fruto dos antagonismos de uma sociedade civil na qual a burguesia é classe dominante e “he gemônica” (para usar o conceito de Gramsci), existe para garantir a ordem social, o que implica manter a estrutura de classes vigente. Aparece fetichizado, como entidade acima de qualquer antagonismo, representante do conjunto da sociedade, investido de uma aparência natural, exterior, acima dos interesses particulares, como se tivesse vida própria e não fosse produto dos anta gonismos de classe. “A uma determinada sociedade civil corresponde um determinado Estado político, que não é mais que a expressão oficial da sociedade civil”, escreveu Marx em uma carta de 1846 a Annenkov, na qual critica Proudhon (Marx, 1982: 206). O Estado é a representação política de uma sociedade civil na qual a burguesia é a classe dominante e tendencialmente hegemônica, exer cendo seu poder não só em termos econômicos, mas também políticos, culturais, ideológicos etc. “Uma classe é hegemônica não só porque detém a propriedade dos meios de produção e o poder de Estado (isto é, o •controle jurídico, político e social da sociedade), mas ela é hegemônica sobretudo porque suas idéias e valores são dominantes, e mantidos pelos dominados até mesmo 94
quando lutam contra essa dominação”, (Chaui, 1983:110). Evidentemente, não são só as classes dominantes que compõem a sociedade civil, portanto, tampouco o Estado. Pode-se falar num “Estado burguês” justamente porque ele representa politicamente a organização di ferenciada de uma “sociedade burguesa”, isto é, uma sociedade em que a burguesia é classe dominante e hegemônica. A manutenção dessa hegemonia implica a existência de canais de representação dentro da ordem para as demais classes, por exemplo, pela instituição de partidos políticos, de sindicatos,- de um sistema eleitoral etc. O processo de representação política, todavia, não se restringe à participação institucional das classes dentro da ordem estabelecida, pode implicar ruptura revolucionária com ela. O modo de produção capitalista torna-se superável, pois a ideologia e os canais de representação criados para manter o sistema não são capazes de mistificar e conciliar completamente os conflitos de classe em que ele se funda, nem de dar-lhes um escoadouro seguro para a manutenção da ordem estabelecida. Inúmeros exemplos históricos mos tram que, nem mesmo quando a situação parece estar sob total controle das classes possuidoras, elas estão livres da emergência não institucional dos dominados na cena política: foi o caso da efervescência social na França no ano de 1968, quando todos os indícios eram de sólida estabilidade institucional. A representação também pode-se dar fora do Estado, apesar dele, e mesmo contra ele, subvertendo-lhe o papel de mediador supostamente neutro dos conflitos sociais, desmistificando sua função na manutçnção da ordem social burguesa. Conforme a teoria marxista clássica, uma classe começa a constituir-se enquanto
95
“classe para si” quando propõe a própria organização política, o que implica, no final de um processo de lutas e de conscientização, a tomada do poder político e o exercício de uma nova hegemonia, nos termos de Gramsci. Caberia à classe operária destruir ao mesmo tempo o Estado burguês e a sociedade burguesa, isto é, o Estado e a sociedade onde a burguesia é classe dominante e detém a hegemonia, lançando as bases de construção de uma sociedade sem classes e, portanto, sem Estado, pois com as classes também desapareceria a necessidade da mediação estatal entre elas. Esse raciocínio clássico foi exposto de forma desenvolvida, por exemplo, no célebre O Estado e a revolução (Lenin, 1980, 11:219-305). Dizia Marx, no final de A miséria da filosofia, que a “classe laboriosa substituirá, no curso do seu desenvolvimento, a antiga sociedade civil por uma associação que excluirá as classes e seu antagonismo, e não haverá mais poder político pro priamente dito, já que o poder político é o resumo oficial do antagonismo na sociedade civil” (Marx, 1982:160). Entretanto, não se deve supor que toda representação de classe institucional, em sindicatos, partidos etc., seja uma representação totalmente mistificadora, portadora de uma “falsa” ideologia. A representação é parte do processo de vir a ser da classe enquanto tal, “em si” e “para si”. O tema da representação de classe implica pensar os complexos caminhos envolvidos no processo de constituição de uma consciência de classe, inclusive dentro da ordem capitalista. Por exemplo, numa carta a F. Boite, de novembro de 1871, Marx aborda o papel das greves na constituição da classe trabalhadora: a tentativa de obrigar, através das greves, os capi talistas isolados à redução da jornada de trabalho
96
em determinada fábrica ou ramo da indústria, é um movimento puramente econômico; pelo contrário, o movimento visando a obrigar que se decrete a lei da jornada de oito horas, etc., é um movimento político. Assim, pois, dos. movimentos dos operários separados por motivos econômicos nasce em todas as partes um movimento político, ou seja, um mo vimento de classe, cujo alvo é que se dê satisfação a seus interesses em forma geral, isto é, em forma que seja compulsória para toda a sociedade. (In: Hirano, 1974:117)
Como se pode ver, mesmo sem romper com os marcos institucionais, a luta grevista pela lei da jornada de oito horas foi considerada por Marx como um “movimento político”, “de classe”. Nas páginas finais de A miséria da filosofia, de 1847, Marx já observava que, por intermédio de “greves, coalizões e outras formas [...] os proletários realizam a sua organização como classe” (1982:159). Tais greves e coalizões ten deriam a gerar sindicatos (trade-unions'), que por sua vez gerariam uma associação nacional, no caso da Inglaterra, citado por Marx, a Natiónal Association of United Trades. “A formação dessas greves, coalizões e trade-unions caminha simultaneamente às lutas po líticas dos trabalhadores, que hoje constituem um grande partido político, sob a denominação de cartistas” (Marx, 1982:158). Ora, Marx aborda as greves, os sindicatos e até o cartismo inglês como parte do processo de constituição da classe trabalhadora enquanto tal, na dinâmica de luta para “sua organização como classe”. Tal organização tende a institucionalizar-se, ao menos em parte, mesmo contra a vontade dos patrões. Ainda qúe se reconheça a necessidade de romper com os marcos institucionais para a construção do socialismo, não cabe o simplismo de tomar como falsa representação 97
quaisquer formas de organização que venham a ser reconhecidas no plano legal, elas são resultado de árdua luta dos trabalhadores, contra uma resistência tenaz dos capitalistas, obrigados a fazer concessões. Sabe-se que a participação institucional das classes no Estado não se dá necessariamente por meio de partidos, com seus representantes num Parlamento. Por exemplo, analisando a organização política da sociedade brasileira de 1964 a nossos dias, Francisco de Oliveira conclui que as classes dominantes estão muito mais representadas em determinados organismos governa mentais, ligados ao poder executivo, detentores do poder real, do que no Parlamento, onde se realizaria uma “super-representação” das camadas médias (Oli veira, 1987:72-104). Em sentido próximo ao de Oliveira, Fernando Henrique Cardoso apontaria para os “anéis de poder”, como mediação entre as classes dominantes e o Estado durante a ditadura militar. Os antigos canais mediadores, como os partidos políticos, teriam cedido lugar a novas formas de presença no aparelho de Estado. Não se trataria de “fortalecimento do setor burocrático militar em desmedro da sociedade civil”, mas de “reorganização e redistribuição do poder através do entrosamento dos anéis burocráticos, que fundem interesses privados e públicos”. Exemplos desses canais mediadores seriam as “Superintendências” para desen volvimento regional, como a SUDENE (Cardoso, 1975:184). A representação no Estado pode-se dar também, especialmente no caso brasileiro, por intermédio de sindicatos, cujas estruturas fundem-se com a do próprio Estado, através de toda a legislação trabalhista, imposta desde os tempos de Getúlio Vargas, sob inspiração corporativista, como já expuseram, dentre outros, Ar mando Boito Jr. (1991) e Heloísa Martins (1979).
98
Representação é o canal de mediação na relação com, ou contra, o outro. Os despossuídos podem-se fazer representar, na sua relação com as classes do minantes, pela mediação dos sindicatos, dos partidos políticos, dos líderes carismáticos ditos “populistas”, dos chamados “movimentos sociais” ou “populares” etc. Esses, por sua vez, encontrarão como interlocutor o Estado, mediador supremo na relação de uma classe com o seu outro, sendo que as classes não aparecem como tais, mas apenas como grupos de pessoas com interesses divergentes. No limite, a classe trabalhadora também pode-se fazer representar contra seu outro, ao identificar nele não só a burguesia, mas o próprio Estado, que nesse momento perderia a capacidade de representação, a legitimidade como conciliador dos conflitos sociais. Não seria mais possível ao Estado constituir-se num “processo sistemático de representar que realiza, no imaginário, uma conciliação impossível no real”, como diria Giannotti (1983:294). Tal seria o momento revolucionário, no qual a ideologia dominante se desfaz, a burguesia vê ameaçada sua dominação e a sociedade capitalista aparece em sua transparência aos olhos de amplos setores das massas trabalhadoras, restando aos dominantes tão-somente o poder das armas e da força bruta para manter-se contra a revolta dos deserdados. Estes não serão obrigatoriamente vitoriosos, tudo dependendo da sua capacidade de luta e de organização frente à dos adversários, numa dada si tuação histórica concreta. O que importa para aferir a representação de uma entidade (de um sindicato, partido, ou do próprio estado), dando-lhe um caráter não definitivo e oscilante, é o fato de servir ou não aos agentes sociais como mediação com (ou contra) o seu outro. Essa repre sentação pode existir num momento e desaparecer no
99
seguinte, ser mais duradoura ou mais fugaz, jamais definitiva, sendo difícil precisar com exatidão a sua existência e extensão. A representação “de classe” dos trabalhadores pode convergir de diferentes formas para o processo de contestação e superação do modo de produção capitalista. Ou pode não convergir para tanto. Em caso afirmativo, ela seria efetivamente uma repre sentação de classe enquanto tal, parte do. movimento de constituição da classe trabalhadora como classe “para si”, processo que vimos ser um percurso, não um dado. Em caso negativo, tem-se um “simulacro de representação” de classe, no máximo a representação de grupos de indivíduos, incapazes de romper com os horizontes da ordem capitalista.
4. Estado e representação de classe: Giannotti e Oliveira
Vale comentar, mesmo brevemente, aspectos dos pensamentos de dois autores já citados reiteradamente: José Arthur Giannotti e Francisco de Oliveira. A exemplo do que vem sendo a tônica na abordagem dos teóricos estudados neste pequeno livro, não se trata de propor uma análise detida de suas obras, mas de utilizá-las para destacar que as alterações no capi talismo contemporâneo e nas relações de classe são indissociáveis da intervenção política e econômica do Estado. Nesse sentido, seria preciso pensar a questão da representação de classe no capitalismo de hoje, sem pretender dar uma resposta pronta a ela, pois está em aberto para os próprios trabalhadores que constroem sua história. O Estado contemporâneo aparece pelo menos com uma dupla dimensão, na visão de Giannotti: como 100
representação (1983:284-299), e como. capitalista com uma função no processo de reposição e acumulação de capital (1983:268-284). As duas dimensões estariam imbricadas, pois “constituído o Estado como repre sentação, é em seu nome que se coletam os fundos estatais”, os quais ganham o caráter de capitàl, com o movimento da concentração econômica (1983:297). Desde o início do capitalismo, o Estado teve a função de garantir a realização da mais-valia e de intervir nas condições gerais da produção. No capitalismo de hoje, seu papel iria além, ao- atuar como uma “crise .plani ficada”. O “fundo público” serviria como substituto da crise para a regulamentação da acumulação capitalista. O. Estado seria o “organizador da irracionalidade do presente”, época de oligop.olização e consequente ad ministração de preços e lucros, na qual “a lei do valor deixa de operar na raiz do processo econômico”, pois “não existe mais a possibilidade de .geração duma única taxa média de lucro, a que todas as empresas- se subordinassem” (Giannotti, 1983:276 e ss, e 1983b). Assim, caberia hoje uma nova forma de representação dos trabalhadores, dentro e fora do Estado,, com o fim de controlar o “fundo público”, tido como o fundamento material de supremacia do Estado e do modo de produção capitalista (Giannotti, 1983:371 e ss.); .. A teoria exposta em O capital seria hoje, segundo Giannotti, um “horizonte imprescindível de nosso co nhecimento, horizonte sempre referido, mas que precisa ser traspassado se quisermos conhecer o próprio tras passe do capital”. Se as “categorias de base em que se assenta o modo de produção capitalista [...] ainda conservam um valor explicativo, é. porque somente elas são capazes de iluminar essa passagem e. essa geração de.seu outro. Mas perdem evidentemente qual quer capacidade de medida” (1983:298). A “concen101
tração de capitais e a correspondente transformação do Estado” afetariam as “formas de luta de classes”, que não se dariam mais como na época do capitalismo concorrencial, “quando o capital como comando sobre o trabalho alheio se instrumentaliza pela propriedade privada dos meios de produção. Hoje essa mesma propriedade [...] se efetua por meio da propriedade acionária e estatal [...] sem que por isso a riqueza deixe de se concentrar nas mãos de uns poucos pri vilegiados”. O Estado, vindo a ser “ao mesmo tempo representante do capital e capitalista em geral, [...] penetra na própria arena da sociedade civil. [...] e a luta de classes passa a contar com um novo contendor, os funcionários do Estado, nessa posição ambígua de representantes do todo e agentes do particular” (Giannotti, 1983:298-299). O livro Trabalho è reflexão termina com uma proposta política de autogestão dos trabalhadores, di versa dos dois “ídolos” da ação e do pensamento contemporâneos: o “estatismo” marxista-leninista e as “várias formas de anarquia” (1983:373-374). Seria uma representação dentro e fora do Estado, com o fim de controlar o fundo público, subvertendo assim o fun damento material do Estado e do capitalismo contem porâneo. A nova forma de representação não é expli citada no texto, pois como ela será armada “é uma questão mais prática que teórica” (1983:371). Ao “invés de tentar suprimir a forma salário e com ela o fetichismo de qualquer mercadoria”, Giannotti propõe “gerir a própria alienação”, pela autogestão operária (1983:370). Numa.formulação que tem paren tesco com as tradições da social-democracia européia, desde o início do século, o socialismo poderia ser alcançado pelo controle democrático gradativo sobre o tesouro do Estado: 102
a partir do momento em que se instaure a demo cratização dos fundos públicos, instala-se o socia lismo, que não tem como parâmetro melhor distri buição do produto, nem como ideal a abundância [...], mas a capacidade de cada agente, individuali zado como força produtiva agindo livremente no mercado da força de trabalho, de gerir o sistema produtivo onde se insere. (Giannotti, 1983:372)
Ora, se a história demonstrou os limites do bolchevismo e do anarquismo, ela não foi menos cruel com o projeto da social-democracia, transformada em gestora do capitalismo na Europa de nossos dias. Trabalho e reflexão não propõe a mera gestão do capitalismo, deixa mesmo em aberto a hipótese — remçta, a julgar pela entrevista de Giannotti ao Folhetim (1983b) — de ruptura revolucionária, no processo de constituição de uma nova forma de representação, como saída para o socialismo, em oposição à barbárie do presente: não se pode prever quantas Bastilhas será necessário arrasar, quantos Palácios de Inverno será necessário assaltar, pois o grau de violência que esta radical transformação da sociedade demandará vai depender da própria invenção dos homens de hoje. (1983:373)
Pode-se concordar com Giannotti quando destaca um papel central para o fundo público no capitalismo de hoje — com implicações na constituição e nas lutas de classes -—, também com sua afirmação reiterada de que “o socialismo é a gestão presente, no mundo em que nos revolvemos, pelos trabalhadores de sua própria atividade produtiva. Ninguém poderá garantir a vitória dessa revolução sem ideal absoluto ou que no lugar dela se aprofundará a barbárie” (1983:373). 103
Mas a análise de. Giannotti não deixa entrever como viabilizar a proposta de “gestão operária em todos os níyeis da-sociedade” (1983:373.). É como se o ideal apontado. —a democratização da. gestão e. da aplicação do fundo público -r- fosse mais viável que os projetos marxistas-leninistas e anarquistas. Se o ideal estatista, da...socialização dos meios.de produção pelo Estado, abre “as portas para a opressão e p autoritarismo”; se o ideal das várias formas de anarquismo está ancorado numa “concepção narcisista ou jurídica do indivíduo, sçm levar em conta o princípio que o individualiza nas. condições do capitalismo atual” (1983:373-374); não é menos verdadeiro que o ideal (embora Giannotti não o reconheça como tal) social-democrata — a democratização do fundo público —■ tem se revelado incapaz de contrapor-se ao capitalismo contemporâneo, de ser uma alternativa à barbárie do presente, consti tuindo-se no--máximo em resistência setorial a ela, senão mesmo em gestor do capitalismo. Ao reivindicar uma. “teoria política que diga como assegurar o controle do Estado pela sociedade”, na proposta de Fernando Henrique Cardoso (1-977:28-29), a social-democracia tem-se revelado tão incapaz quanto os outros “ídolos” do pensamento e da ação das esquerdas, para construir uma alternativa socialista. O pensamento de Giannotti — apesar de apresentar o ideal do socialismo pela democratização do fundo público — conduz; quase inevitavelmente a trama-da sociabilidade capitalista a transformar-se nurti drama, teia de um Leviatã que se tece por todo o palco, enredando na. barbárie os atores da tragicomédia hu mana. ...
Também para Francisco de Oliveira, “o papel do Estado no .financiamento dos processos de reprodução,
104
seja do capital, seja de força de trabalho modifica radicalmente o estatuto das relações de classe”. A intervenção do Estado “reforça ainda mais a opacidade das relações interclasses” (1987:122-123). “O Estado, pela sua importância como produtor direto ou como instrumento de financiamento da acumulação de capital contribui [...] a estruturar a armadura do novo processo de produção e a estabelecer as relações entre as classes” (1987:15). Já vimos, por exemplo, que Oliveira aponta para a constituição de novas classes médias como tradutoras e articuladoras na aplicação do fundo público (1988). Já seu livro, O elo perdido — classe e identidade de classe (1987), é uma instigante análise da constituição das classes em Salvador, tratando mais concretamente do tema que, neste livro, estamos vendo com um grau maior de abstração. Mesmo com brevidade, vale destacar algumas im plicações da teorização de Oliveira sobre a construção de “antimercadorias sociais” no capitalismo de hoje. Este seria impensável sem o fundo público, como propõe Giannotti — ainda que a análise de Oliveira vá mais além. Haveria uma “regulação política da economia”, na qual por um lado prevaleceria o finan ciamento da iniciativa privada pelo fundo público, investido na acumulação de capital •— nesse terreno continuaria a vigorar o fetichismo da mercadoria, na mediação das relações sociais. Mas, por outro lado, ao financiar a produção de bens de consumo coletivo, “que não buscam o lucro, nem valorizam o valor”, ao ser aplicado na reprodução da força de trabalho, o fundo público seria convertido em antimercadorias sociais (Oliveira, 1988:284). Nesse campo, segundo Oliveira — que apenas “su gere”, sem se estender, nem levar o raciocínio às últimas conseqüências ■—■ estaria ocorrendo “a anulação
105
do fetiche da mercadoria, se esta categoria está se des-fazendo no sistema capitalista; principalmente se a força de trabalho está se desvestindo das determi nações da mercadoria”, em particular nos Estados eu ropeus do bem-estar social, onde seria crescente a proporção do salário indireto, corporificado nos gastos sociais do Estado em educação, saúde, cultura, salário-desemprego, subsídios aos transportes urbanos, mo-' radia, alimentação etc:
cada vez mais a remuneração da força de trabalho é transparente, no sentido de que seus componentes não são apenas conhecidos, mas determinados po liticamente. [...] Não há fetiche, nesse sentido: sabe-se agora exatamente do que é composta a reprodução social. Ou, em outras palavras, a fração do trabalho não-pago, fonte da mais-valia, se reduz, socialmente. (Oliveira, 1988b: 19). Reconhecendo no mündo contemporâneo “a fetichização elevada à enésima potência”,. Oliveira sugere que o fetiche da mercadoria cedeu lugar ao “fetiche do Estado”,, concebido como “o lugar onde se opera a viabilidade da continuação da exploração da. força de trabalho, por um lado, e de sua des-mercantilização, por outro, escondendo agora o fato de que o capital .é completamente social” (1988b: 19): . , A hipótese sugerida não implica necessariamente concordância com a idéia de desalienação progressiva dos trabalhadores no capitalismo avançado. Nele, a alienação já não estaria tanto rio campo do mercado, mas crescentemente no Estado. Embora não caiba aprofundar aqui essa discussão, vale destacar que, mesmo reconhecendo o fetiché do Estado, não nos parece pertinente exagerar o declínio do. fetiche da mercadoria — afinal, as relações sociais ainda são
106'
predominantemente mediadas pelo- dinheiro, pela troca de mercadorias, produzidas com a extração de sobretrabalho não pago. O desenvolvimento da forma mer cadoria, enquanto fetiche, talvez tenha alcançado níveis que Marx não poderia prever — expresso por exemplo nas mais sofisticadas técnicas de propaganda. Até mes mo os representantes do “povo” são anunciados como mercadoria, nas propagandas eleitorais, num imbricamento de fetichismo da mercadoria com fetichismo da representação política no Estado, exemplar do capita lismo de hoje. Em síntese, parece-nos que o fetichismo da mer cadoria continua a ter pertinência essencial para entender a sociabilidade capitalista contemporânea, pois ainda é fundamental a produção de valor, e a análise da aplicação do tesouro do Estado não pode ser dela desvencilhada ■—- como aliás expressa o artigo de Francisco de Oliveira (1988b). Esse parecer implica discordar da idéia — que pode ser tirada de uma possível leitura do texto, embora não a nossa — de que a alternativa para os trabalhadores seria conviver com o capitalismo, por avanços gradativos na geração de antimercadorias sociais, estreitando cada vez mais o campo do mercado, quer na iniciativa privada, quer na apropriação particular do fundo público. Evidentemente, não cabe negar a importância das lutas pela democratização do fundo público. Em especial numa sociedade como a brasileira, na qual os direitos à cidadania são recusados à maior parte da população, chega mesmo a ser subversiva a luta pela construção de uma esfera pública, entendida como “economia de mercado socialmente regulada”, nos termos da socialdemocracia alemã do começo do século, (Oliveira, 1988b:21). Mas trata-se de ter claro que “o Estado do Bem-Estar e suas instituições não são, agora, o ‘hó107
rizonte’ intransponível; para além dele, bate, latente, um modo social de produção superior” (1988b: 19). E esse processo poderá ir além da regulação social do mercado — quando e de que maneira, dirão as lutas de classes. O pensamento de Francisco de Oliveira indica que a luta de classes no capitalismo de hoje, “sem prejuízo da intensidade, não comporta a aniquilação de um dos campos”, como bem observou Roberto Schwarz (1992). Nesse sentido, ele é devedor assumido da “teorização do último Labini” (Oliveira, 1988:292). Oliveira usa uma metáfora que torna seu raciocínio mais claro, comparando as relações político-sociais aos jogos de damas e de xadrez. Nas sociedades sem esfera pública, a comparação é com o jogo de damas: qualquer peça pode “varrer completamente toda a formação de jogo do adversário”, como nos “Estados de Mal-Estar”, onde “com uma penada, o governo pode reduzir salários, aumentar impostos a seu bel-prazer, confiscar bens” etc. (1988:22). Já nos Estados de bem-estar: o Estado-Providência é um espaço de lutas de classe onde os territórios de cada peça — no caso, de cada direito — são previamente mapeados. e hie rarquizados [...]. Os adversários sabem que ao in vadirem determinada área, onde a hierarquia da dama, da torre ou do cavalo é dada, a luta de classes consiste em buscar alternativas que anulem a posição previamente hierarquizada, e o poder de fogo, das peças mais importantes. (Oliveira, 1988b:22)
A forma contemporânea das lutas de classes, so bretudo nos países desenvolvidos, já não comportaria a aniquilação do “outro”, impondo-se o “re-conhecimènto da alteridade”, como num jogo de xadrez. 108
A metáfora é válida, mas — acrescentemos nós — xadrez não é um jogo de eterno estudo, composição e luta sem fim entre os adversários. Ele só se joga com o objetivo do xeque-mate, mesmo da ótica do contendor que esteja acuado, reconhecendo sua situação adversa, a inferioridade da disposição de suas peças no tabuleiro, sem possibilidade imediata de vitória.
109
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo bastante sintético e simplificado, pode ser assim encadeada e resumida a argumentação deste livro: 1. As classes sociais estão referidas à produção de valor na sociedade capitalista. Isso não implica sinonimizar trabalhadores produtivos de mais-valia a classe trabalhadora. Esta é potencialmente constituída pelos trabalhadores assalariados, despossuídos, envolvidos na produção capitalista global (produção, distribuição, troca e consumo), isto é, no processo de produção e realização da mais-vali a. Entretanto, o lugar de um grupo de pessoas na produção, a função delas dentro do sistema produtivo capitalista global, é uma tendência não su ficiente para constituir uma classe, o que só se dá — por exemplo, no caso da classe trabalhadora — no processo efetivo de associação e luta dos trabalhadores frente aos capitalistas. As classes não são apenas fruto de condições objetivas, dadas pelo modo capitalista de produção, mas também da ação voluntária dos homens que constroem sua História. Marx indicou o papel tendencialmente central do proletariado industrial, pela sua posição estratégica no sistema produtivo, para a organização e construção da classe trabalhadora. Man tido o referencial teórico marxista, caberia a pergunta, que não pode ficar satisfatoriamente respondida no âmbito deste livro: até que ponto esse proletariado industrial continuaria a desempenhar o papel central para o funcionamento do capitalismo de hoje (e conseqüentemente para uma eventual ruptura com ele), em que medida outros setores potencialmente consti110
tuintes da classe trabalhadora não poderiam ocupar, ou dividir com o proletariado, tal papel em nossos dias? 2. As classes sociais não são entidades empíricas, no sentido positivista do termo, isto é, não são ime diatamente observáveis. Elas são constituídas na luta política, a partir da contraposição tendencial entre capital e trabalho, objetivamente dada. Essa contrapo sição — os ‘‘lugares” das classes no modo de produção capitalista —, que poderia ser chamada de “estrutura de classes”, tampouco é evidente por dados empíricos. No entanto, a realidade, tal qual necessariamente aparece empiricamente, apresenta uma série de características a serem levadas em conta para desvendar a estrutura de classes que lhe é subjacente, tais como: ocupação, nível salarial, grau de instrução, quantidade de posse de riquezas etc. Assim, um caminho que se abre para a investigação das classes e de sua representação é tomar como ponto de partida as aparências formais da realidade, a fim de desvendar seus fundamentos. 3. As classes não são uma “coisa” e sim uma relação em construção. Elas não foram tomadas como algo já dado pela estrutura econômica do sistema, elas constituem-se a partir da luta de classes, cujos marcos são as condições objetivas da divisão do trabalho capitalista. Não há classes dadas pelas “estruturas”, classes que se dividiriam em frações. Ao contrário, a concorrência no mercado impõe o fracionamento, a existência de grupos (estratos ou “classes” num sentido amplo e pouco rigoroso), que podem ou não tornar-se propriamente uma classe por intermédio de sua mútua associação, tornada plausível a partir da função que cada um deles exerce no processo produtivo global.
111
As classes constroem-se na luta, vale dizer, elas vêm a ser classes no processo de auto-identificação e de identificação de seu outro. Isso remete à questão da representação. 4. Representação é canal de mediação no relacio namento de alguém com outrem. As relações sociais capitalistas são mediadas pela troca de mercadorias entre as partes contratantes, de modo que as relações sociais aparecem mistificadas como se fossem relações entre coisas, a exercer uma dominação sobre o mundo dos homens — o que Marx chamou de fetichismo da mercadoria. A realização da troca implica a mediação do Estado, como entidade aparentemente neutra e im parcial, única detentora reconhecida do poder de coação para garantir a obediência ao contrato e a solução pacífica dos eventuais litígios entre as partes, consti tuindo-se naquilo que Pasukanis denominou fetichismo jurídico. Os contratantes, proprietários de mercadorias, sejam elas capital, terra ou força de trabalho, fazem-se presentes no Estado pela mediação de entidades como partidos e sindicatos, o que se poderia chamar de fetichismo da representação política. Ou seja, o Estado representa toda a sociedade, nele estão presentes par tidos e outras entidades, representando diferentes ci dadãos e grupos de pessoas, cujas relações sociais estabelecidas entre si não são evidentes, pois estão representadas na troca de mercadorias, que só'pode ser pacificamente garantida com a mediação do Estado como representante do conjunto dos cidadãos a con correrem entre si no mercado. Há um encadeamento de mediações, mistificadoras porém 'necessárias, entre a base do sistema — os interesses inconciliáveis entre capital e trabalho — e a aparência neutra e imparcial do Estado como conciliador de interesses diversos 112
postos pela concorrência, órgão máximo de integração social em nome do bem comum, que supostamente encarna. 5. A ruptura com a ordem e a hegemonia burguesas no conjunto da sociedade implica um processo de desvendamento do caráter mistifícador dessas mediações por parte dos trabalhadores, sua constituição enquanto classe que identifica não só na burguesia, mas também no Estado, o seu outro, inimigo inconciliável de classe. Tal processo de desmistificação não é uma tarefa meramente teórica. Ela só pode ser realizada no processo de transformação da realidade pela ação dos trabalha dores, pois o caráter ocultador da aludida cadeia de mediações não é uma atribuição ideológica artificial, mas dimensão formal necessária de aparecer imedia tamente a realidade sob o capitalismo. Isso implica a organização e a luta dos trabalhadores, que criam associações para mediar sua relação com e contra o Estado e os capitalistas, construindo a trajetória de sua constituição como classe.
113
BIBLIOGRAFIA ALBUQUERQUE, J.A. Guilhon (coord.). Classes médias e política no Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. “Prefácio”. In: Przeworski, Adam, op, cit., 1989. ALTHÜSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de estado. Lisboa, Presença, s/d. ANDERSON, Perry. Arguments within English marxism. Londres, NLB/Verso, 1980. BOITO JR., Armando. O sindicalismo de estado no Brasil; uma análise crítica da estrutura sindical. Campinas/São Paulo, UNICAMP/HUCITEC, 1991. BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista. 3. ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1980. CARDOSO, Fernando H. O modelo político brasileiro. São Paulo, DIFEL, 1972. --------- ■. Autoritarismo e democratização. 3. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975. —------- . “Estado capitalista e marxismo”. Estudos Cebrap, São Paulo, 21, julVago./set., 1977. -------—. “As classes nas sociedades capitalistas contemporâneas (notas preliminares)”. Revista de Economia Política, v. 2/1, n. 5, jan./mar„ 1982. CÁRTER, Bob. Capitalism, class conflict and the new middle class. Londres, Routledge and Kegan, 1985. CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 12. ed. São Paulo, Brasiliense, 1983. CLAUD1N, Fernando. Marx, Engéls y la revòlución de 1848. Madri, Siglo XXI, 1975. COHN, Gabriel (org.). Weber. São Paulo, Ática, 1979. FAUSTO, Ruy, Marx: lógica, e política. Tomo II. São Paulo, Brasiliense, 1987. GERAS, Norman. “Essência e aparência: aspectos da análise da mercadoria em Marx”. In: COHN, Gabriel (org.). Sociologia: para ler os clássicos. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1977. GIANNOTTI, José A. “Em tomo da questão do estado e da burocracia”. Estudos Cebrap. São Paulo, 20:111-129, abr./mai./jun. 1977.
114
------------- . “Notas sobre a categoria ‘modo de produção’ para uso e abuso dos sociólogos’’. Estudos Cebrap. São Paulo, 17:161-168, jul./ago./set. 1976. ------- ——. Trabalho e reflexão. São Paulo, Brasiliense, 1983. ------------- . Entrevista a Rodrigo F. Naves. Folha de S. Paulo, 27 fev. 1983b. Folhetim, p. 6-7. GORENDER, Jacob. “Apresentação”. In: MARX, Karl. op. cit„ 1983: VI-LXXII. HIRANO, Sedi. Castas, estamentos e classes sociais. São Paulo, Alfa-Omega, 1974. ------------- . Pré-capitalismo e capitalismo, a formação do Brasil colonial. Tese de doutoramento, apresentada ao Departamento de Ciências Sociais (Sociologia), Universidade de São Paulo, 1986. HOLLOWAY, John & PICCIOTTO, Sol. “Introduction: towards a materialist theory of the State”. In: State and Capital. Londres, Edward Amold, 1978. IANNI, Octavio (org.). Marx. São Paulo, Ática, 1979. KOWARICK, Lúcio. “Trabalho produtivo e improdutivo: comentários sob o ângulo da acumulação e da política”. In: VILLALOBOS et alii, op. cit„ 1978: 85-96. LENIN, V.I. “Que fazer?” In: Obras escolhidas, 1. São Paulo, Alfa-Omega, 1979, ------------- . “O estado e a revolução” In: Obras escolhidas, 2. São Paulo, Alfa-Omega, 1980. LÔWY, Michel. Para uma sociologia dos intelectuais revolucionários. São Paulo, Ciências Humanas, 1979. - ----------- . Ideologias e ciência social. São Paulo, Cortez, 1985. ------------- . A.v aventuras de Karl Marx contra o barão de Münchhausen — marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento. São Paulo, Busca Vida, 1987. LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe. Porto, Escorpião, 1974. MARTINS, Heloísa H. T. de Souza, O estado e a burocratização do sindicato no Brasil. São Paulo, HUCITEC, 1979. MARX, Karl. A miséria da filosofia. São Paulo, Ciências Humanas, 1982. ---- *-------- . O capital. 3 tomos, 5 volumes. São Paulo, Abril Cultural, 1983. —-----------. O capital; livro I, capítulo VI (inédito). São Paulo, Ciências Humanas, 1978. —*------- -. Marx. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Abril Cultural, 1974.
115
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã (Feuerbach). São Paulo, Grijalbo, 1977. ------------- . Textos. 3 v. São Paulo, Ed. Sociais, s/d. NICOLAUS, Martin. El Marx desconocido/Proletariado y clasé media en Marx: coreografia hegeliana y la dialéctica capitalista. Barcelona, Anagrama, 1972. OLIVEIRA, Francisco de. O elo perdido: classe e identidade de classe. São Paulo, Brasiliense, 1987. ------------ . “Medusa ou as classes médias e a consolidação demo crática”. In: O’DONNEL, G. & REIS, F. W. (org.). Dilemas e perspectivas da democracia no Brasil. São Paulo, Vértice, 1988. ------------ . “O surgimento do antivalor — capital, força de trabalho e fundo público”. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, 22:8-28, outubro de 1988b. ------------ . “Przeworski submete marxismo à dura prova”. Folha de S. Paulo, 17 jun. 1989, G-6. PASUKANIS, E.B. Teoria geral do direito e marxismo. Porto, Perspectiva Jurídica, 1972. PEREIRA, Luiz. Anotações sobre o capitalismo. São Paulo, Pioneira, 1977. ---------- . Ensaios de sociologia do desenvolvimento. São Paulo, Pioneira, 1978. POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. São Paulo, Martins Fontes, 1977. --------------- . A.v classes sociais no capitalismo de hoje. 2. ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e social-democracia. São Paulo, Companhia das Letras, 1989. RIDENTI, Marcelo S. O fantasma da revolução brasileira: raízes sociais das esquerdas armadas, 1964-1974. Tese de doutorado em Sociologia, Universidade de São Paulo, 1989. ---------- . Política pra quê? Atuação partidária no Brasil contempo râneo. São Paulo, Atual, 1992. ----- —. O fantasma da revolução brasileira. São Paulo, Ed. UNESP/Fapesp, 1993. ---------- . “Um estudo sobre as novas classes médias e sua repre sentação no meio universitário”. Relatório de pesquisa ao CNPq, 1993b. SAES, Décio. Classe média e sistema político no Brasil. São Paulo, T. A. Queiroz, 1984. SALLUM JR., Brasílio. “O conceito de classes sociais: para além do empirismo”, s.n.t., s/d.
116
SCHMIDT, Alfred. “História e natureza em Marx”. In: Cohn, Gabriel (org.). Sociologia: para ler os clássicos. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1977. SCHWARZ, Roberto. “Ensaios são contundentes e inesperados”. Folha de S. Paulo, 25 out. 1992, 6-12. STAVENHAGEN, Rodolfo. “Classes sociais e estratificação social”. In: MARTINS, José de Souza & FORACCHI, Marialice (org.). Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Cien tíficos, 1980:281-296. THIOLLENT, Michel. Crítica metodológica, investigação social e enquente operária. 92. ed. São Paulo, Polis, 1981. THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. I: a árvore da liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. ------------ . “Eighteenth-century English society: class struggle without class?” Social History, v. 3, n. 2, maio 1978. •------------. The poverty of theory & other essays. Londres, Merlin Press, 1978b. VILLALOBOS, André. “Nota sobre ‘trabalho produtivo/trabalho im produtivo’ e classes sociais”. In: VILLALOBOS et alii. Classes sociais e trabalho produtivo. Rio de Janeiro, CEDEC/Paz e Terra, 1978. WEB ER, Max. Economia y sociedad. 2 v. México, FCE, 1969.
117
MARCELO SIQUEIRA RIDENTI é professor da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Doutorou-se em Sociologia na Universidade de São Paulo (USP), onde se formou em Ciências Sociais e em Direito. Coordenou, de 1989 a 1993, o grupo de trabalho “Partidos e Movimentos de Esquerda”, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Publicou os livros Política pra quê? Atuação partidária no Brasil contemporâneo (Atual, 1992), e O fantasma da revolução brasileira (Ed. UNESP/FAPESP, 1993), além de artigos em pe riódicos acadêmicos, tais como Ciências Sociais Hoje, da ANPOCS; Tempo Social, revista de Sociologia da USP; Perspectivas, revista de Ciências Sociais da UNESP, dentre outros.
118
livro faz um balanço dldúlk o das contribulçôos teôrk as d vários autores ao toma d< is < l< mm iock ils e de sua representação, dontro os quais, Marx, Thompson, 7525 Anc lorson, Przeworski, Braverman, I òwy. I < juste) , (iiannottl e Oliveira. Assim sondo, Interessará aos m,tu diosos das ciências sociais o humanas em geral, como sociologia, política história economia, filosofia política, antropologki psicologia social, pedagogia enfim, a todos os que se deparam com as questôoi clássicas e difíceis: Como entender as ck jss< >s sociais? Como elas se representam social politicamente, construindo sua identidade?
ISBN 85-249-0524-7
9788524905247
CORTCZ 9
6DITORA






![Poder político e classes sociais [1 ed.]
8526814885, 9788526814882](https://dokumen.pub/img/200x200/poder-politico-e-classes-sociais-1nbsped-8526814885-9788526814882.jpg)
![Poder político e classes sociais [1, 1 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/poder-politico-e-classes-sociais-1-1nbsped.jpg)

![Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina [2 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/capitalismo-dependente-e-classes-sociais-na-america-latina-2nbsped.jpg)